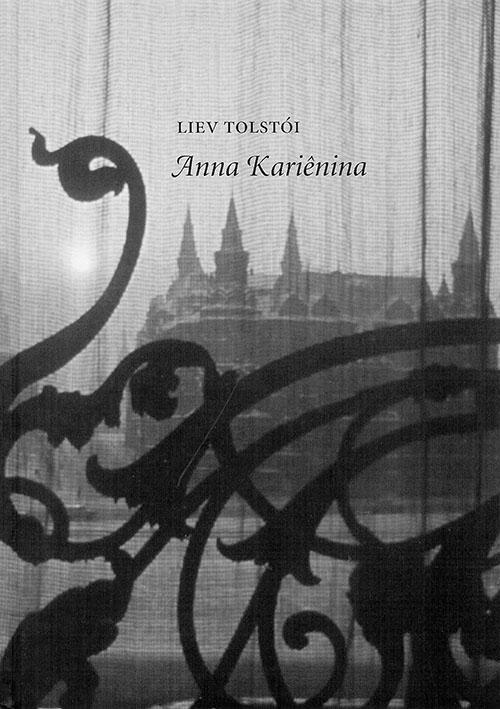Liev Tolstói demorou quatro anos para escrever Anna Kariênina, entre 1873 e 1877. Ele já havia passado sete anos trabalhando em Guerra e paz, publicado em 1869. Dois feitos notáveis se considerarmos, de um lado, as energias que obras de tal dimensão consomem, e de outro, o resultado, vastos panoramas que expõem, detalhadamente, não só a vida da aristocracia russa e de suas relações sociais, mas o pensamento, as angústias, os amores, as decepções, as alegrias e as dúvidas de um amplo e diversificado leque de personagens, com os quais, apesar de todas as diferenças, de alguma forma nos identificamos.
No que se refere, especificamente, ao romance Anna Kariênina, é impossível não sentirmos certo desconforto ao iniciarmos sua leitura. Na verdade, um desagradável desconforto, nascido desse período de mais de um século entre a edição princeps e esta primeira tradução brasileira feita diretamente do russo, por Rubens Figueiredo, e publicada pela CosacNaify. Cerca de 120 anos representam a medida do nosso atraso cultural e da distância interposta entre nós e essa mulher magnífica, embriagada com a “admiração entusiástica” que provoca em homens e mulheres, graças ao seu magnetismo e ao destemor de ir além do que a moral e a hipocrisia de sua época poderiam permitir. Mais de um século, infelizmente, ocupado por uma tradução indireta, feita a partir do francês, o que eleva ao quadrado a traição inevitável de todas as traduções.
Mas nosso distanciamento em relação a Tolstói é ainda maior. Boris Schnaiderman afirma, em Tolstói, antiarte e rebeldia (Editora Brasiliense), que, após a conclusão de Anna Kariênina, o escritor passou por uma crise profunda, durante a qual colocou em xeque suas crenças religiosas e sua concepção de mundo, tentando conciliar idéias estéticas, fé, moral e as contradições nascidas do embate entre seu anseio por mudanças sociais e sua origem aristocrática. Uma crise jamais resolvida, analisada com brilhantismo por Isaiah Berlin no ensaio O porco-espinho e a raposa (in Pensadores russos, Companhia das Letras), no qual ele conclui: “Ao mesmo tempo insanamente orgulhoso e cheio de ódio por si mesmo, onisciente e duvidando de tudo, frio e violentamente apaixonado, desdenhoso e pronto a se humilhar, atormentado e desapegado, rodeado por uma família que o adorava, por seguidores dedicados, pela admiração de todo o mundo civilizado e, ainda assim, quase totalmente isolado, ele é o mais trágico entre os grandes escritores, um velho desesperado, além do auxílio humano, perambulando semicego por Colona”. Essa crise permanente, essa dicotomia devastadora, encontra-se detalhada nos diários de Tolstói, 14 volumes dos 90 que compõem suas Obras completas, e dos quais não existe, em português, sequer uma condensação. Trata-se de um vazio que dificulta o conhecimento do homem e obscurece a apreensão do seu processo criativo, certeza reforçada pelas palavras do crítico e escritor Dimitri Sergueievitch Merechkovski, citado por Thomas Mann em Goethe e Tolstói, fragmentos sobre o problema da humanidade (in Ensaios, Editora Perspectiva), para quem “as obras artísticas de L. Tolstói não são, no fundo, nada mais que um diário poderoso, escrito durante cinqüenta anos de vida, uma confissão infinita, minuciosa. […] Na literatura de todas as nações, não se acha um segundo escritor que revele, com uma franqueza magnânima como Tolstói, a sua vida particular, freqüentemente os lados mais íntimos desta”.
De fato, é conhecida, em Anna Kariênina, a semelhança de idéias que existe entre o autor e o personagem Konstantin Liévin, cuja permanente crise existencial revelaria muitas das angústias do próprio Tolstói. Mas os aspectos autobiográficos presentes no romance se resumiriam às características de Liévin? E quais seriam eles? Provavelmente, as páginas dos diários poderiam oferecer uma resposta. Mas a pesquisa em outras fontes nos presenteia com uma pequena descoberta, por meio da qual ensaiamos alguns tímidos passos no conhecimento de como vida e obra são — e não apenas no caso de Tolstói — indissociáveis. Em A arte como procedimento, de Victor Borisovitch Chklovski (in Teoria da literatura — formalistas russos, Editora Globo), ensaio no qual o autor analisa o que ele chama de “singularização” ou “liberação do automatismo perceptivo” em Tolstói, encontramos uma citação dos diários do romancista, de 28 de fevereiro de 1897: “Eu secava no quarto e, fazendo uma volta, aproximei-me do divã e não podia me lembrar se o havia secado ou não. Como estes movimentos são habituais e inconscientes, não me lembrava e sentia que já era impossível fazê-lo. Então, se sequei e me esqueci, isto é, se agi inconscientemente, era exatamente como se não o tivesse feito. Se alguém conscientemente me tivesse visto, poder-se-ia reconstituir o gesto. Mas se ninguém o viu ou se o viu inconscientemente, se toda a vida complexa de muita gente se desenrola inconscientemente, então é como se esta vida não tivesse sido”. Ora, 20 anos depois de ter escrito Anna Kariênina, Tolstói grava em seu diário tais impressões, certamente experimentadas naquele dia. Contudo, a leitura do romance nos revela tratarem-se de sensações conhecidas do autor, por alguma razão intensificadas naquele 28 de fevereiro, mas utilizadas no passado para compor a derradeira crise de Anna:
Olhou para o relógio. Haviam passado doze minutos. “Agora, ele já recebeu o bilhete e vai voltar. Não demora, mais dez minutos… Porém, e se ele não vier? Não, isso é impossível. Não posso deixar que me veja com os olhos chorosos. Vou me lavar. Sim, sim, será que eu me penteei?”, perguntou-se. E não conseguiu lembrar. Apalpou a cabeça, com a mão. “Sim, estou penteada, mas não me lembro de forma alguma quando me penteei.” Chegou a não acreditar na própria mão e aproximou-se do espelho de um aparador, a fim de verificar se estava penteada, de fato. Estava penteada e não conseguia lembrar quando fizera isso. “Quem é?”, pensou, olhando no espelho para um rosto inflamado, com olhos que brilhavam de modo estranho e fitavam-na, assustados. “Ora, sou eu”, compreendeu de repente […].
O mesmo estranhamento dos diários lateja na aguda neurastenia de Anna, mostrando-nos que Tolstói, talvez mais do que Flaubert, poderia ter afirmado: — Anna Kariênina sou eu.
Ficção e moralismo
O vazio que há entre nós e Tolstói não se restringe ao desconhecimento dos aspectos biográficos que podem estar ou não presentes em sua obra, ou às traduções indiretas, ou à impossibilidade de os leitores que dominam apenas a língua portuguesa adentrarem a constelação de fatos e idéias que ele relata em seus diários. Conhecer Tolstói pelas bordas significa também correr o risco de menosprezar parte de Anna Kariênina, pois se é difícil situar-se em meio aos hábitos da aristocracia russa do século 19, será um exercício igualmente intrincado entender sua moral. Na verdade, uma leitura proveitosa do romance exige que abdiquemos temporariamente do nosso modo de pensar e dos nossos valores, sob pena de, não agindo dessa forma, deixarmos escapar parcela significativa do substrato atemporal da obra.
Mesmo para uma leitora russa, de profunda sensibilidade, Anna Kariênina guarda questões inaceitáveis. Em meio à crônica do curioso encontro de Isaiah Berlin com a poeta Anna Akhmatova, ocorrido em novembro de 1945, relatado por Berlin no ensaio Conversa com Akhmatova e Pasternak (in Estudos sobre a humanidade, Companhia das Letras), encontramos a surpreendente crítica da poeta:
Por que Tolstói fez com que ela se suicidasse? Assim que ela deixa Kariênin, tudo muda. Ela se transforma de repente numa mulher caída, numa traviata, numa prostituta. Quem pune Anna? Deus? Não, não é Deus — mas a sociedade cujas hipocrisias Tolstói está constantemente denunciando. Por fim, ele nos diz que Anna repugna até a Vrónski. Tolstói está mentindo. Ele tinha mais entendimento que isso. A moralidade de Anna Kariênina é a moralidade das tias de Tolstói em Moscou, das convenções filistéias. Está tudo ligado a suas vicissitudes pessoais. Quando Tolstói estava casado e feliz, ele escreveu Guerra e paz, que celebra a família. Depois que começou a odiar Sophia Andreevna [sua esposa], mas sem poder se divorciar, porque o divórcio é condenado pela sociedade, e talvez também pelos camponeses, ele escreveu Anna Kariênina e puniu Anna por deixar o marido.
À parte as questões de ordem pessoal, que devem ter contaminado de algum modo os romances — mas, certamente, não da maneira automática e simplista colocada por Akhmatova —, trata-se de um contra-senso exigir de um nobre do século 19 que ele escreva com os critérios de alguém que, vivendo sob o stalinismo, experimentava as mudanças radicais impostas pela Revolução Russa de 1917.
Se há, em Anna Kariênina, moralismos incompreensíveis, também é verdade que Tolstói não se cansa de criticar sua própria classe, apresentada como superficial e hipócrita, ávida por censurar os escândalos, mas deliciando-se com eles, chafurdando num pântano de futilidade, mexericos e misticismo, influenciada por todo tipo de charlatão. Tolstói não deixa, inclusive, de descrever o comportamento machista e irresponsável de Stiepan Arcáditch Oblónski, irmão de Anna, igualmente adúltero, além de perdulário e leviano, que consome a herança pertencente à esposa, Dária Aleksandrova (Dolly), enquanto ela, obrigada a viver em uma propriedade rural desprovida de conforto, para economizar se submete a vestir, a si mesma e aos filhos, com roupas reformadas. As atitudes de Oblónski são relevadas pela sociedade, pois caracterizam o comportamento-padrão dos homens daquela classe senhorial, mas Tolstói não deixa de conceder a Dolly uma consciência clara acerca de sua condição e do lugar restrito atribuído às mulheres. Em um diálogo com Liévin, que está apaixonado por sua irmã, ela diz: “— […] Os senhores fazem o pedido quando o seu amor amadureceu ou quando, entre duas mulheres, concluíram pela superioridade de uma. Mas à moça, nada se pergunta. Querem que ela escolha por si mesma, mas não pode escolher, pode apenas responder: sim e não”. Tolstói não abandona seus personagens a uma vida destituída de raciocínio e complexidade de sentimentos. Assim, mesmo que Dolly, pressionada por sua condição social, veja-se obrigada a sofrer em silêncio e permanecer submissa, ela jamais perde a clareza em relação ao seu estado e às traições cometidas pelo marido.
Quanto ao caso específico de Anna Kariênina, ela não é “punida” por seu adultério ou pelo fato de amar Vrónski e desprezar o marido, Aleksei Kariênin, comportamento que Tolstói descreve como rotineiro naquela aristocracia. A “punição” de Anna decorre de ela querer ardentemente “provar a liberdade do amor”, ou seja, não ser hipócrita, abandonar o marido e viver uma nova relação com seu amante. Depois de revelar a verdade ao marido, o que ela deseja é definir sua situação de uma vez por todas, atitude inaceitável para a época. Tolstói permite a sua heroína superar inclusive o medo da desonra, mas ela tem consciência da reação que virá:
Depois de parar e olhar de relance para o topo dos álamos que oscilavam no vento, com as folhas lavadas que brilhavam radiantes sob o sol frio, Anna compreendeu que não lhe perdoariam, que tudo e todos seriam agora impiedosos com ela, como aquele céu, como aquela vegetação. E de novo sentiu que sua alma começava a duplicar-se.
Assim, a um passo do delírio, ela desaba em prantos, não por se sentir culpada, mas por buscar, sem qualquer possibilidade de sucesso, o que a sociedade à qual pertencia encontrava-se incapacitada de lhe conceder: “Chorava porque seu sonho de um esclarecimento, de uma definição para a situação em que estava, fora destruído para sempre. Ela sabia de antemão que tudo havia de permanecer como antes, e até infinitamente pior do que antes”. E mesmo mais tarde, depois de ter abandonado Kariênin e o filho para viver com Vrónski, será esse estado indefinido — dependente da boa vontade do marido para lhe conceder o divórcio, o que nunca ocorrerá, isolada por sua classe e à mercê do amor de Vrónski, mas sem qualquer segurança, a não ser a dos seus próprios sentimentos — que condenará Anna a uma insuportável fragilidade.
O romance, portanto, foi construído sobre uma sólida coerência interna. E o fato de a obra e a realidade social daquela época estarem eminentemente ligadas atesta o que poderíamos definir como uma realidade inescapável. Dessa forma, é compreensível que não haja nenhuma cena de amor envolvendo Anna e Vrónski. E quando a libido finalmente se satisfaz, a narrativa enfatiza apenas o sentimento de humilhação da mulher. Quanto ao homem, “ele sentia o que deve sentir um assassino quando vê o corpo do qual tomou a vida”. Um exagero, sem dúvida, se lermos o livro sem nos despojarmos da moral ocidental do século 21. O primeiro beijo do casal será descrito apenas várias páginas depois, e a única cena de intensa paixão, Tolstói a confina nas últimas páginas da Parte 4, quando Vrónski, entrando abruptamente na casa dos Kariênin, “sem pensar em nada, sem verificar se havia ou não alguém no quarto, abraçou-a e começou a cobrir de beijos o seu rosto, as suas mãos e o seu pescoço”.
Entretanto, se o moralismo de Tolstói permanece atado aos costumes de sua classe e de seu tempo, ele também não pode ser dissociado da crise insuperável sobre a qual falamos acima, do “amargo conflito interior entre sua experiência real e suas crenças, entre sua visão da vida e sua teoria do que essa vida e ele próprio deveriam ser, se afinal tivesse de sustentar tal visão”, como nos explica Berlin. Um permanente antagonismo que, se não comprometeu a qualidade de sua ficção, causou danos à sua capacidade de julgar a arte e seus contemporâneos.
No ensaio Engajamento artístico – um legado russo (in O sentido de realidade, Editora Civilização Brasileira), Isaiah Berlin cita, por exemplo, as críticas de Tolstói a Flaubert: “[…] Tolstói se pergunta se Flaubert — o Flaubert que descreve são Juliano, o hospitalário, a abraçar os leprosos, que eram o Cristo — teria se comportado da mesma maneira em situação semelhante; esta dúvida mina sua confiança no escritor, sua crença em sua autenticidade, a qual, para ele, era a base de toda arte verdadeira”. A exigência dessa coerência extrema, ou seja, vincular de tal modo o criador ao seu personagem, cobrando do primeiro que se comporte como o segundo, aproximar-se-ia perigosamente da demência se não soubéssemos, como o próprio Berlin afirma, que Tolstói é movido por uma incontrolável ironia. Irônico ou não, no entanto, o pensamento do escritor estava impregnado desse estranho moralismo, como o ensaio de Berlin explica minuciosamente.
A conhecida crise de Tolstói, no entanto, prevaleceria sobre tais idéias, fazendo com que, para o bem de sua ficção, ele se mantivesse incoerente por toda a vida. Para Berlin, ele “foi uma vítima notória do seu gênio artístico e sua consciência social”. E apesar de “sua condenação de toda arte, que, como vaidade e corrupção, não ajuda a curar as feridas morais dos homens — seu impulso artístico não se destruiu. Quando, mais tarde, tendo ele escrito Khadji-Murat, alguém lhe perguntou como chegara àquilo — qual era a mensagem moral ou espiritual da obra? —, respondeu muito friamente que mantinha seu trabalho artístico separado da exortação moral”.
O período de elaboração da novela Khadji-Murat concentra-se, segundo Boris Schnaiderman (in Khadji-Murát, Editora Cultrix), entre 1896 e 1904, mas em Anna Kariênina já é possível perceber como a mão do romancista parece refrear o moralismo do narrador, apesar de, em alguns raros momentos, perder o controle. Há uma evidente misoginia em determinados trechos e ao menos uma análise nitidamente preconceituosa, quando o narrador deprecia o comportamento de Anna em um encontro social e generaliza de maneira decepcionante: “Esse jogo de palavras, esses segredos dissimulados tinham um grande atrativo para Anna, como para todas as mulheres. Não era a necessidade de dissimular, tampouco a finalidade da dissimulação, mas sim o próprio processo de dissimulação que a empolgava”. O que poderia ser um pequeno tropeço, contudo, permanece ofuscado, por exemplo, pela cena do jantar na casa de Oblónski, onde se encontram Liévin, Aleksei Kariênin, amigos do anfitrião e intelectuais. Em seguidas páginas, discute-se o tema da emancipação feminina, e vemos desfilarem diante de nós todas as limitações da época, mas por meio de um diálogo no qual apenas os personagens expõem seus pensamentos, sem a intromissão impertinente ou inadequada do narrador.
Estados de consciência
A discussão sobre os dilemas que mortificaram Tolstói ao longo de sua vida é importante, inclusive, para compreendermos as razões que o afastaram da ficção durante vários anos. Quanto a Anna Kariênina, a obra não se resume à tragédia pessoal de uma adúltera ou à história de uma classe social, com seus preconceitos e vícios, mas mergulha nos dramas humanos, presentes em todas as pessoas que guardam um mínimo de autoconsciência. “Toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida é feita de sombra e luz”, diz Tolstói. E ele nos mostra como essa alternância de estados pode marcar as existências, enquanto nos leva a perseguir Anna Kariênina, fazendo-nos compreender a cada página o que Vrónski havia pensado ao encontrá-la a primeira vez: “O excesso de alguma coisa inundava seu ser”.
Ao voltar de Moscou para São Petersburgo, depois da famosa cena do baile, onde conquista Vrónski, Anna encontra-se no trem, esforçando-se para se concentrar na leitura de um romance, cujas páginas ela separa com uma espátula, sonhando partir com o herói do livro para sua propriedade rural. Ela raciocina sobre os sentimentos experimentados no baile e se divide entre a vergonha e a coragem de assumir seu desejo. Quando, enfim, a vaidade derrota a censura e ela se alegra por ter despertado a paixão em Vrónski, tudo se conturba e Anna não é mais dona de si:
Sorriu com desdém e pegou de novo o livro, mas, positivamente, já não conseguia compreender o que lia. Deslizou a espátula pelo vidro da janela, depois encostou a superfície lisa e fria contra face e por pouco não riu em voz alta, com a alegria que, sem motivo, se apoderou dela. Anna sentiu que seus nervos, como cordas, se punham cada vez mais tensos, puxados por uma cravelha que apertava. Sentia que seus olhos se abriam mais e mais, que os dedos das mãos e dos pés se remexiam nervosos, que algo dentro dela comprimia sua respiração e que todos os sons e imagens, nessa penumbra trêmula, a impressionavam com uma clareza incomum. De forma ininterrupta, lhe vinham momentos de dúvida, se o vagão seguia para frente ou para trás, ou se estava completamente parado.
Tolstói tem a capacidade mágica de exprimir os mais diversos estados de ânimo. Nesse trecho, ele faz a atenção de Anna migrar dos barulhos e movimentos iniciais do trem para a leitura, desta para sua empregada, Ánuchka, que cochila, e de novo para a leitura, e do enredo do romance para as lembranças do baile, seguindo, gradativamente, a um estado em que todas as sensações se avivam, dominando-a a ponto de seu contato com a realidade esgarçar-se de tal maneira, que ela não sabe mais onde está ou se não teria se transformado em outra pessoa.
O surpreendente, no entanto, é que Tolstói consegue descrever todas essas mudanças sem se distanciar do trem, dos elementos concretos que rodeiam Anna. E esse é exatamente o aspecto genial dessas descrições, pois elas jamais se desvinculam completamente do que as circunda: há sempre um barulho, a visão de uma luva rasgada, um facho de luz, uma sensação tátil. Eles funcionam como frágeis liames, cuja utilidade reside em manter as personagens presas à vida, e sem os quais elas não conseguiriam retornar desse mundo onde vagam suspensas em uma nuvem de sonho ou de arrebatamento.
Se há inúmeras qualidades no texto de Tolstói — seus diálogos entrecortados pelas interferências da vida que urge ao redor dos personagens, suas extasiadas e minuciosas descrições da natureza e a maneira como ele consegue revelar os verdadeiros interesses ou os preconceitos escondidos sob um raciocínio aparentemente justo ou honesto —, a que sobressai é sua capacidade para revelar as variações de humor e a maneira como a euforia, a excitação ou um pensamento mórbido podem dominar completamente o raciocínio e os atos de alguém.
O melhor exemplo talvez seja a crise final de Anna. A forma como ela repisa os fatos, remoendo cada um deles sem extrair qualquer elemento novo, enovelando-se cada vez mais em um labirinto emocional confuso e obscuro, é cruciante. Passo a passo, vemos Anna perder o controle sobre seus pensamentos, refém do desespero, confundindo a realidade, rendendo-se a um ciúme injustificado e a uma dolorosa ciclotimia. Enquanto a imaginação de Anna galopa, a vida segue seu ritmo banal, e lentamente cresce nela uma hostilidade incontrolável, um asco descomedido. Tudo se torna repulsivo, cada elemento da realidade ressalta envolvido por uma aura de nojo e horror, de maneira que o suicídio surge como a solução para se livrar não só dos outros, mas também de si mesma.
O que impressiona nessas páginas é a clareza com que Tolstói nos oferece cada mínimo detalhe, não só dos pensamentos de Anna, mas de tudo que a rodeia, sem qualquer exagero, com equilíbrio, permitindo que visualizemos todos os elementos, todos os gestos, todas as inflexões, todo o desespero. Nem mesmo dos lampejos da memória ele descuida. E apesar da profusão de pormenores, as cenas correm na velocidade da carruagem na qual Anna atravessa a cidade ou com o ímpeto das rodas do trem em que ela fixa sua sofrida atenção e sob as quais liberta-se do “livro repleto de aflições, ilusões, desgraças e maldades” que havia lido sofregamente até aquele momento.
Quando Anna cruza o limite entre sua dor e os trilhos da ferrovia, não há mais moralismos, a dicotomia tolstoiana finalmente encontra sua solução, não na morte, mas, antes, no gesto que reflete uma escolha decisiva. Então, qualquer possibilidade de ironia ou de dúvida se desintegra, e além dos trilhos onde jaz o corpo de Anna, vemos o semblante envelhecido de Tolstói, fugindo de Iásnaia Poliana para morrer na estação ferroviária de Astápovo.
O final reservado a Liévin — aparentemente seguro em seu casamento e em sua propriedade — é tão infeliz quanto o de Anna. Ele não tem coragem de antecipar sua morte ou de alterar o curso de sua existência, e permanecerá apegado a conclusões ingênuas, mas percebendo que nada mudará e que “continuará a existir um muro” entre o que considera sagrado e as pessoas.
A herança comum
“Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira”, escreve Tolstói no início de Anna Kariênina, pois ele pressente que, por uma desconcertante razão, apenas a infelicidade nos arranca da mesmice. Em sua luta para descobrir o motivo de sermos eternamente infelizes, ele criou Anna e Liévin, frações de uma mesma personalidade, desse ego que se duplica e, seguindo rumos paralelos, tenta satisfazer sua insaciável busca de um sentido para a vida. Os anos posteriores ao romance mostram-nos que ele não conseguiu a resposta definitiva. Mas o nobre desgastado por dúvidas muitas vezes intoleráveis, e que viveu dividido entre ser escritor, profeta ou moralista, deixou-nos esse romance escrito naquela Rússia praticamente feudal, pois a servidão havia sido extinta em 1861, tratando de um tema simples, o adultério. Um exemplo, contudo, de como a arte pode permanecer fora do domínio do tempo; uma obra com a qual Tolstói nos mostrou não existirem barreiras para a dor que resume a experiência de viver, pois essa dor — sentida e expressada de maneiras as mais diferentes, nascida do custoso enfrentamento do cotidiano — é a verdadeira herança comum da humanidade.