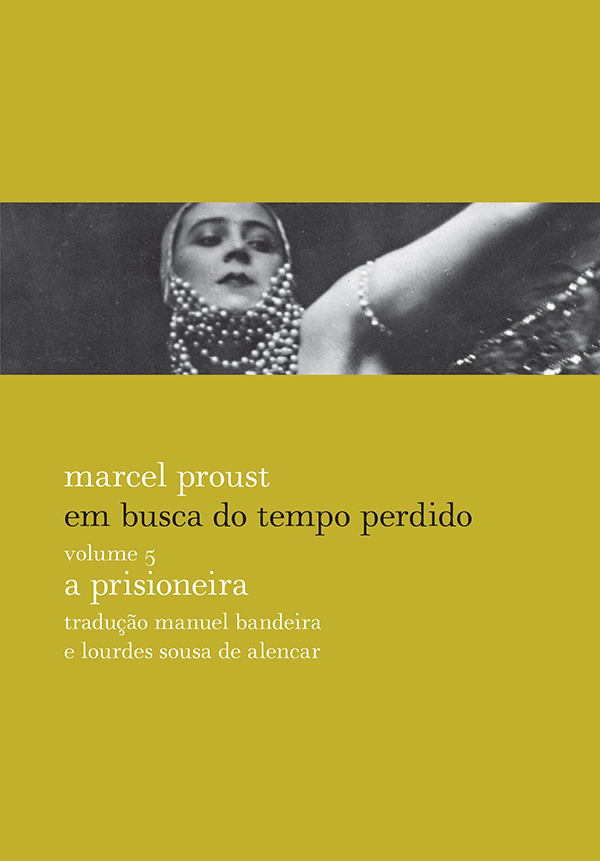Marcel Proust não viveu o bastante para ver Em busca do tempo perdido, tal como o conhecemos, em sete volumes, integralmente publicado.
A prisioneira, seu quinto volume, teve publicação póstuma, em 1923. A ele se associa um episódio já com ares de lenda na história da literatura: aquele em que, muito doente, sabendo-se perto do fim, Proust chamou a criada às três da manhã e lhe ditou notas adicionais sobre a morte do escritor Bergotte. É um dos trechos mais pungentes de toda a obra, tratando da morte do artista e da transcendência da criação artística, falando da visita que Bergotte faz a um museu para rever um quadro de Vermeer, “A vista de Delft”, e contemplar um detalhe tão bem acabado e completo em si que lhe sugere um ideal estético supremo. Em meio a essa contemplação, ele tem o que parece ser uma indigestão com as batatas que havia comido. Mas é um ataque apoplético, e sucumbe.
A ficção deriva do real: em 24 de maio de 1921, Proust teria visitado a exposição de pintores holandeses no Jeu de Paume e contemplado precisamente o óleo de Vermeer, seu quadro favorito. Só saíra de casa para essa finalidade. Em seus últimos anos, era doente e recluso, dedicado unicamente à feitura de Em busca do tempo perdido.
Em “Vida em comum com Albertine”, primeira parte de A prisioneira, mergulhamos no convívio do narrador com Albertine, a moça por quem se apaixonou em Balbec (“À sombra das raparigas em flor”) e que, mesmo sob o estranhamento da mãe, levou para viver em sua casa. Em Balbec, ele a conheceu em meio a outras garotas bonitas e maliciosas que, com seus passeios de bicicleta à beira-mar, sugeriam rebeldia e promessas sensuais furtivas. A mãe acha que, seqüestrando Albertine, ele está comprometendo uma moça solteira e, assim, a idéia de casar-se é deixada no ar como uma espécie de meia-promessa, mas nunca é levada suficientemente a sério. Enquanto a mãe permanece em Combray, terra natal do narrador e de sua família, ele poderá desfrutar livremente de Albertine em Paris, a seu modo: confinando-a.
O narrador é um homem acima de tudo sensível, refinado e esteta, evidentemente rico o bastante para viver uma vida minuciosamente atenta às sensações. Uma das características dessa vida é ir se parecendo pouco a pouco, em certos detalhes, às de familiares seus cujos defeitos ele mencionou como aversivos e patéticos nos livros anteriores — à de seu pai, dado a uma mania de meteorologia e a rompantes de cólera e autoritarismo; e à de sua tia-avó Leónie, hipocondríaca, possessiva, restrita a observar a monótona vida alheia da aldeia de Combray de maneira tristemente maníaca (No caminho de Swann).
Mas a vida em comum com Albertine parece cheia de encantos novos, entre os quais as mudanças do tempo a cada novo dia, que lhe parece sofrer alterações sutis com a presença da amada; a música dos vendedores ambulantes de rua (que o narrador chega a comparar a corais de Mussorgsky); o gosto pelos figurinos de Fortuny (o narrador mora defronte à duquesa de Guermantes, a quem vai pedir conselhos e detalhes sobre trajes para Albertine).
Ele não apenas a mima exageradamente, mas vai inculcando em sua cativa seus gostos musicais e literários, chegando a fazer até com que, a certa altura, ela construa frases semelhantes às suas (trecho em que ela descreve o ato de tomar um dado sorvete com hipérboles voluptuosas, pastiches do estilo do narrador, sugerindo uma sensualidade voraz). O prazer de influir intelectualmente sobre sua cativa, o prazer de, imobilizando-a, capturar o encanto da estância de Balbec, as belezas do mar e da fuga constante das garotas ciclistas pelas praias — o que ela parece lhe oferecer com uma docilidade displicente e ambígüa — fazem crer que Albertine é um pouco obra sua.
Mas a presença garantida da mulher, ao invés de acalmar sua natureza ciumenta, só faz aguçá-la: Albertine parece prolongar secretamente, mesmo no seu exíguo espaço de prisioneira, a vida livre que levava em Balbec — uma vida furtiva, de entrega aos prazeres lésbicos —, e uma amiga sua, Andrée, sempre por perto do casal, oferece ao narrador vagos indícios dessa natureza da qual ele só consegue ter vislumbres insatisfatórios. Albertine, no passado e no presente, é um “ser de fuga”, de quem ele não tem verdadeira posse, e daí para que o ressentimento e o ciúme sufocado se transformem em tirania é só um pequeno passo.
Os prazeres que Albertine lhe proporciona, numa existência claramente ociosa (ele vive adiando o momento em que deverá se lançar ao trabalho de escrever, nunca se achando capaz), vão aos poucos parecendo pequenos diante do sofrimento que o excesso de cismas sobre a vida verdadeira que ela levava ao conhecê-lo (repleta de ocasiões para praticar o lesbianismo) impõe à sua imaginação voraz e torturada pela insuficiência de provas.
Tortura recíproca
Proust convencionou, nos sete volumes de Em busca do tempo perdido, que a homossexualidade masculina pertenceria a Sodoma, e a feminina, a Gomorra, batizando seu quarto volume como Sodoma e Gomorra, numa simbologia que a alguns pareceu óbvia e bíblica demais. Assim, em paralelo ao romance do narrador com Albertine (uma filha da “Gomorra”), veremos a “Sodoma” em ação, patenteando-se no romance do Barão de Charlus com o violinista Morel, seu protegido.
O Barão, amando o violonista — cuja natureza é evidentemente corrompida e condescende com o desejo homossexual por interesse financeiro e profissional (porque Charlus o coloca na melhor sociedade, podendo proporcionar-lhe grandes contratos) —, sente-se lisonjeado em tornar-se uma espécie de padrinho para o casamento que Morel fará com a sobrinha do alfaiate Jupien (que, sem conhecer o verdadeiro caráter do violinista, o ama sinceramente). Autorizando o casamento, tutelando-o, age claramente como o homossexual que se exalta com a virilidade do homem a quem ama, como se fosse, de algum modo, ele mesmo a noiva, como se esta prova de masculinidade do protegido aumentasse seu prestígio de protetor. Já Morel tem laços de aproximação com Albertine através de Andrée, no que parece um pano de fundo clandestino e uma rede homossexual de ramificações múltiplas.
O narrador respeita o Barão de Charlus pela inteligência e a bondade, e lamenta que, por seu vício, ele se degrade àquele ponto, amando um homem evidentemente prostituído e interesseiro. Mas Charlus, agindo sempre com reserva fingida e extroversão contraditória, de modo demente, divide-se entre a negação do óbvio e a compulsão de confessar-se com espalhafato. E o leitor o percebe também um pouco como o carcereiro do interesseiro Morel, como o narrador o é de Albertine. Há um paralelismo óbvio na construção dessas duas relações, a homossexual e a heterossexual, recurso através do qual Proust, sabidamente homossexual, mas heterossexual ressentido para outros (como Edmund Wilson, que analisa o romance em O castelo de Axel), faz interpenetração de suas tendências.
A vida em comum do narrador com Albertine segue como uma verdadeira “tortura recíproca” (como ele próprio admite), visto que a posse da prisioneira é a mais escorregadia possível devido à necessidade que ele tem de subjugá-la e à resistência passiva, porém ferrenha, que ela lhe opõe, nunca dizendo senão o que supõe que ele queira ouvir — evasivas sonsas, mentiras inteiras e meias-verdades. Essa tortura, em que parece prevalecer um claro abuso intelectual e uma transgressão moral do narrador, faz com que o leitor de algum modo se sinta cúmplice dos silêncios e evasões de Albertine, nada mais que reações desesperadas de uma cativa que se debate diante de um algoz servido por uma inteligência e uma imaginação exacerbadas. Sem deixar de acrescentar que, cúmplice do patrão na superioridade social, a empregada do narrador, Françoise, detesta a moça que lhe toma dinheiro e lhe parece uma farsante imperdoável.
O ápice desse aprisionamento, com todas as suas implicações ao mesmo tempo poéticas e mórbidas, se encontra no trecho em que o narrador se compraz em ver Albertine dormindo. Quando ela dorme — quando finalmente volta a uma espécie de letargia quase impessoal que a aproxima de uma pureza animalesca, inerte, despojada de imaginação e de um eu fugidio (e o narrador se sente feliz por aqueles olhos, capazes de ostentar uma identidade rebelde e inalcançável, estarem fechados) —, ele pode sentir-se proprietário de fato da moça que, associada ao mar de Balbec, é agora um espetáculo aberto à sua imaginação. O trecho é de grande beleza, mas chega a ter um toque de necrofilia, como se amar, para um personagem obcecado como o narrador, só fosse possível mediante alguma espécie de empalhamento do ser vivo, independente e inacessível que toda pessoa amada é. Albertine estimula a sua imaginação e é um obstáculo para que esta se desenvolva livremente, dá-lhe prazeres limitados que o impedem de desfrutar dos que ele pode imaginar na ausência da amada, e o preço dessa limitação é o sofrimento fruto da incerteza constante que sua presença concreta na casa segrega.
Essa vida em comum começa a apresentar uma séria rachadura quando Albertine decide, numa certa noite, ir a um sarau na casa de Madame Verdurin, patronesse de artistas e amiga do narrador e de Charlus, sarau pelo qual mostra um interesse que faz com que o narrador fique imediatamente desconfiado. No sarau, será executado um septeto de Vinteuil, compositor cuja filha, lésbica, pode ter tido uma relação com Albertine no passado. Para dissipar a suspeita, não haverá dúvida, ele a proibirá de ir, sugerindo outro lugar de atrações musicais, o Trocadero. Decidiu ele próprio ir ao sarau dos Verdurin, e a ironia é que acaba por descobrir que mandou Albertine para um lugar onde estará se apresentando uma atriz também de reputação lésbica, Léa, conhecida de sua prisioneira. É impossível para ele controlar todos os tentáculos vivos pelos quais o lesbianismo entra na vida da mulher amada.
Teia proustiana
Na segunda parte de A prisioneira, “Os Verdurin rompem com o Sr. de Charlus”, o narrador vai ao sarau na casa da Sra. Verdurin. Este capítulo é, seguramente, uma das maiores proezas da arte narrativa de Proust, visto que nele parecem chegar a um clímax muitas das tramas, idéias, propostas estéticas e análises psicológicas e sociais que vinham sendo desenvolvidas nos outros livros. O narrador vai ao sarau não apenas para privar Albertine de um prazer digno de desconfiança, mas para ouvir o septeto do compositor Vinteuil, de quem ele já falara em No caminho de Swann (no primeiro volume de Em busca do tempo perdido, Vinteuil era o autor da sonata que, também ouvida num recital na casa dos Verdurin, era como que “o hino nacional” do amor entre Swann e Odette de Crécy).
A nova obra de Vinteuil será executada pelo violinista Morel. No caminho, o narrador se encontra com Charlus, acompanhado de um velho acadêmico, Brichot, que admira as idéias e audácias do Barão, incentivando-o a falar livremente por gosto maligno de vê-lo escancarar sua homossexualidade. Em meio às conversas, o narrador saberá que a filha de Vinteuil de fato deveria comparecer, acompanhada por uma amiga e amante, o que deixa claro o motivo pelo qual Albertine queria ir ao sarau. E o que Charlus ignora é que a noite, preparada com todo cuidado e perícia de mundano em atrair convidados ilustres, deverá ser a do início de sua derrocada social.
Charlus padece de uma arrogância demente, que o faz supor-se no centro do mundanismo social, achando que, por sua verve, inteligência e superioridade aristocrática e estética, é universalmente amado e respeitado e está autorizado a tudo, inclusive a infringir preconceitos e melindrar monstros consumados na arte da maledicência, como a Sra. Verdurin e seu marido. A Sra. Verdurin está, a esta altura, cansada de seus melindres sociais, que fazem com que o Barão desdenhe e expulse de seu salão pessoas que para ela seriam indispensáveis, e, para esse recital, que ele deseja que seja consagrador para o seu amado Morel, ele a considera supérflua, fazendo com que a fúria e o despeito da mulher cresçam de maneira cada vez mais ameaçadora.
A arte narrativa de Proust fará com que desde o início sintamos o grande perigo e a teia de malignidades e fuxicos que darão o bote em Charlus em meio às conversas que se desenrolam e à dor do narrador, que se sente objetivamente traído por Albertine. Porém, a filha do compositor não comparece, e o septeto de autoria deste, executado por Morel, se revela de tal beleza que merece de Proust seqüências antológicas de análises sobre o poder ímpar da música — o maior destes talvez sendo o de isolar e trazer fragmentos de um autêntico universo individual radicalmente único a que só se pode ter acesso por uma entrega superior à Arte. Do autor ele já conhecia a sonata, mas o septeto faz com que suas percepções se ampliem e suas reflexões sobre a Arte ganhem em espessura e profundidade.
Além de revelar muitas das perfídias subjacentes à vida social dos mundanos (por vezes caracterizados com uma estupidez tão completa que chega a parecer caricata), Proust revela talento cômico deixando que, com impressionante e vivíssima loquacidade, o personagem de Charlus se esbalde em falar e, sem perceber, vá aumentando os riscos e certezas de sua queda iminente. Charlus é implacável em sua língua ferina, mas também faz o leitor rir bastante, não perdoando sumidades sociais que, na verdade, ele sabe bem não serem nem cultas nem refinadas o suficiente para apreciar a música que está sendo executada (e tampouco seu interesse por esta é maior que o interesse que tem pelo violinista). Nesse momento, entende-se a razão pela qual Proust nutria grande admiração por Dostoiévski — vemos no Barão um daqueles loquazes típicos dos romances do escritor russo que, derramando-se em conversas frívolas, exaltadas, quilométricas, acabam confessando-se, entregando-se, como que movidos por uma compulsão inconsciente de autodestruição.
A destruição exterior virá, ajudada covardemente por Brichot, que se uniu aos Verdurin para fazer o monumento social ruir. Terminado o recital, enquanto o marido isola o violinista Morel numa sala para lhe contar das más intenções e das coisas terríveis que o barão teria falado ao seu respeito, o narrador nada pode fazer senão esperar pelo pior, e a Sra. Verdurin se impacienta para despejar seu veneno — quando Morel vai até ela, esmera-se num sem-fim de meias-verdades que atingem em cheio o orgulho do músico, garantindo a ele que a companhia de Charlus vai lhe arruinar a carreira ao invés de promovê-la. A cena se consuma com maestria quando o barão vai ao encontro de Morel para parabenizá-lo pelo sucesso da apresentação (e, com seu orgulho absurdo, vai tratando o violinista como obra sua, corroborando o veneno previamente plantado pelos Verdurin). Estranhamente, é pego de surpresa pela reação violenta de Morel, de tal modo que não sabe como reagir. Desaba completamente.
Esse incidente foi comparado por alguns críticos como análogo ao que teria precipitado a queda social de Oscar Wilde na Inglaterra, sendo Charlus, como Wilde, uma mistura de arrogância, precipitação, orgulho ingênuo, excesso de autoconfiança social e de desprezo pelas perpétuas convenções preconceituosas que, na hora exata, sempre se voltam contra os homens incomuns — os menos favorecidos usam sempre a baixeza infalível dos códigos sociais mais retrógrados (medíocres, afinal de contas, não dispõe de armas heróicas). Mas a comparação parece excessiva, e o episódio tem uma força muito proustiana, capaz de ressonâncias universais trágicas.
O narrador se retira, ao fim do recital, indignado, mas impotente, pensando na Albertine que deixou em casa, e acaba por ir para lá acompanhado pelo hipócrita Brichot.
Universal
A terceira e última parte de A prisioneira, “O desaparecimento de Albertine”, mostra o narrador de volta à residência, ou prisão para dois (pois ele também parece prisioneiro de uma vida de hábitos restritos e nada saudáveis), onde sua amada o espera. Então, a verdade transparece — todas as suspeitas que ele vinha alimentando quanto à fidelidade de Albertine (fidelidade humanamente impossível, visto que ele exige que ela pratique uma abdicação absoluta de si mesma), todas as desconfianças fragmentárias, esparsas, inconclusivas se condensam quando ela pergunta displicentemente, a respeito do recital: “A Sra. Vinteuil não ia lá hoje?”.
Albertine padece de uma incapacidade de mentir com arte que nos parece um pouco comovente se a compararmos à perspicácia superior e maníaca de seu feitor. Sempre nos parecerá acuada. A cada nova justificativa que ela apresenta, a cada novo fato que acrescenta a um episódio suspeito sobre o qual ele lhe interroga, a cada atenuante desajeitada que arruma, o narrador ficará mais desesperado, desapontado, convencido de que todas as direções só fazem apontar para uma: a culpa. E, no entanto, em meio às inúmeras (e, para muitos leitores, fatigantes e intransponíveis) digressões com que ele trata as múltiplas facetas de Albertine, sempre com uma dissecação impiedosa que começa pela sua prisioneira e vai ter diretamente em sua alma (ele nunca se exclui da lucidez desesperadora que lança sobre os atos e fatos incompreensíveis à sua frente), o narrador já terá dito que não amamos senão o que nunca possuímos; que, ao começar a amar uma criatura, não é por suas virtudes que nos interessamos e, sendo assim, por que nos debatemos tanto quando os adorados defeitos se provam a razão de um tormento que só pode ter cessação com a morte do desejo, da imaginação, da fantasia? Praticamente, Proust conclui que o amor é uma espécie de alucinação irremediável.
O narrador decide que o caso deve ter um fim e pede a Albertine que vá embora, deixando-a livre para viver a vida que ele sabe que a moça deseja e só conseguirá viver sem a sua espionagem, a sua perseguição, os seus desejos insatisfeitos e seus melindres neuróticos (incontáveis vezes ele percebe em seu olhar a saudade de atos e pessoas que estão muito longe do cárcere luxuoso em que a conserva). Mas não está, no fundo, convicto do que deseja, porque, egoísta, precisa que ela fique. É um blefe. Trata-se de um blefe melancólico porque ele intui, afinal, que isso já é o ensaio da separação real que virá, que muito do que dizemos como mero jogo especulativo com as possibilidades, negociando estrategicamente com conveniências nossas e alheias em teoria, acaba por ter um poder premonitório.
O talento de Proust vai muito, muito longe: ele universaliza a partir de seu caso individual com uma força ímpar, partindo desse episódio estritamente pessoal para uma comparação entre dois países que preparariam uma guerra, França e Alemanha, com negações, afirmações, bravatas e, a partir de ditos e desditos, meias-verdades e bazófias, fariam uma guerra que não seria mais que sangrenta e inconveniente e, no fundo, sem motivação racional nenhuma. É a sua curiosa capacidade de extrair verdades gerais dos processos estritamente individuais. Proust desliza com impressionante facilidade da existência comezinha particular para a verdade universal, do íntimo para o cósmico, sem nunca parecer forçado, e forjando metáforas que, sob o peso de uma argumentação desenvolvida infatigavelmente em sete volumes, nunca parecem excessivas.
Albertine acabará ficando, porque ele, mesmo sabendo que já lançou as sementes de um desfecho funesto, não sabe viver sem ela. O caso recomeça, e ela decide, para que ele não suspeite de nenhum passo seu, ficar candidamente sempre à sua disposição, sempre por perto, ainda que já não possa fazer muito para dissimular a sua culpabilidade. Ele precisa de Albertine como de um hábito, um veneno, e, na verdade, gosta de tê-la submissa, ainda que a submissão o faça mergulhar facilmente em tédio. Porque, paradoxalmente, a mulher que ama é uma desconhecida que, sempre que vai se convertendo em algo mais conhecido, mais próximo, dócil, fácil de compreender, torna-se também, num círculo vicioso infernal, objeto de desprezo.
Ele discorre sobre a superioridade da música de Vinteuil dizendo-lhe de sua descoberta do universo radicalmente individual da arte e falando que o que há na música pode ser também observado em certas imagens recorrentes na literatura — e então cita Thomas Hardy, Dostoiévski, Stendhal. A inteligência de Albertine cresceu nos anos de convívio com ele, ela pode manter diálogos desse nível, mas, ainda assim, não acreditamos que o narrador seja mais do que condescendente com ela.
Na verdade, não há como sustentar um caso em que a satisfação dele implica em tédio e a submissão dela, em anulação de desejos que a animam e que, contraditórios, só podem ser satisfeitos longe de seu carcereiro. Ele compreende que tudo que havia dito, ao blefar pedindo para que ela se fosse e desejando na verdade que ficasse, vai se consumar é numa fuga que ela empreenderá por iniciativa própria, que os olhares, suspiros e ausências de Albertine estão preparando essa fuga radical, ainda que nem ela mesma possa ter uma idéia precisa do que fará ou de para onde irá.
A impressão que Albertine nos causa é, de certo modo, patética: órfã, criada por uma mulher interesseira, sempre viveu em casas alheias, o que lhe dá uma desfaçatez libertina que, ainda assim, não lhe permite ser de fato independente. Ela se arrasta de protetor em protetor, mantendo uma liberdade apenas cínica e idealizada porque na verdade está condicionada à mentira, à evasão e à dependência econômica.
O narrador já não deseja Albertine e começa a sonhar com viagens, sendo a principal a que deverá fazer a Veneza, que o atrai por sua mescla de arte e exotismo. Quando chega em casa numa certa tarde e Françoise lhe diz que Albertine pediu as malas e se foi, ele não se mostra surpreso. Sua intuição se cumprira, e a vítima é ele mesmo.
NOTA
Na próxima edição, Chico Lopes analisa A fugitiva, sexto volume de Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust.