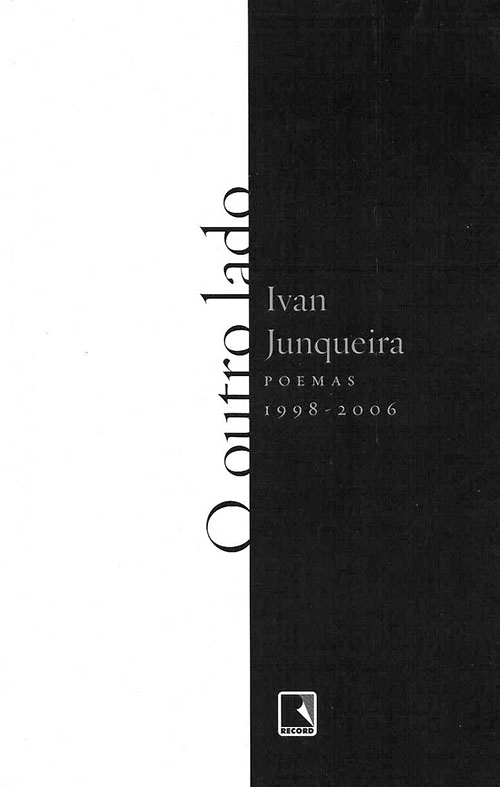Em O outro lado, décimo primeiro livro de poemas de Ivan Junqueira, o poeta cumpre com o ofício dos grandes artistas: dar continuidade a uma premente questão que atravessa toda uma obra para, dando-lhe os contornos, violar suas molduras. A palavra de Junqueira é esta na qual se imprime a predestinação de quem escreve, em vida, a morte; ou antes, de quem é escrito por ela, tornando-se (como se tornou) imortal.
A própria voz lírica confessa: “O que escrevi foi sempre o mesmo/ poema, e os mesmos são os dedos/ que nele enrolam o novelo/ dos muitos eus em destempero”. Porém, ao contrário do que se supõe, não é de Junqueira a inquietante atenção ao mistério da mortalidade. Assumi-la presente em todos é constatá-la pertencente a ninguém: nós quem pertencemos a ela e, por isso, permeia, insolúvel, cada povo e era. Porque os poemas de O outro lado são “a súmula e o sal talvez estritos/ do que somos, tu ou eu, desde o momento/ em que um clarão se fez”, sobressalta-nos, no “fundo ambíguo de um espelho”, “a sóbria embriaguez de um terceiro” rosto, ou nem-rosto, lançado entre nós e os muitos ivans; entre a luz e a escuridão, o som e o silêncio, Eros e Thanatos, a “alma e os ossos/ do que jaz debaixo e paira acima”. Perguntar pela morte é atravessar-nos pelo ardor do sagrado, por um élan desconhecido que, em nossos interstícios, inventa sempre um “outro lado” dentro (e para além) do “mesmo”: “compreendi que esse processo/ de sermos outros (e até/ termos em nós outro sexo)/ nada em si tinha de inédito:/ já se lia no evangelho/ de um deus ambíguo e pretérito”. E se lia, enfim, em começo, antes de Cristo, entre os gregos que comparecem na (falta de) margem de todo pensar: “a mão que escreve é aquela/ que ergueu um brinde aos féretros/ de uma insepulta Grécia”.
Na procura pelo fundamento das coisas, muitos os nomes propagados ao longo da história, na afirmação de uma força inaugural que, tendo a morte como ponto de chegada e partida, animaria a vida em seu durante: do ser em Parmênides ao logos de Heráclito; da idéia de Platão à potência-e-ato de Aristóteles; do Deus cristão ao sujeito moderno — de muitas formas, tudo isso entra, na anamnese poética de Ivan Junqueira, em ebulição, até precipitar, de novo, naquele “rio/ de cujas águas alígeras/ ninguém sai igual a si/ ou àquilo que está vindo/ a ser, mas não é ainda”.
Uma vez que “tudo se move” e “esta é a sina/ de todos, este o castigo/ que nos coube, como a Sísifo:/ a de sermos o princípio e o fim, na mesma medida”, o homem se pergunta (mediante a arte, a filosofia, a ciência, a religião) sobre o que há de sobreviver sempre ao fluxo de todas essas mudanças: “… as pedras/ me ensinaram que o critério/ do que em tudo permanece/ nunca está nelas, inertes,/ mas nas águas que se mexem/ com vário e distinto aspecto,/ de modo que não repetem/ o que antes foi (e era breve)”.
Outrossim, na Metafísica de Aristóteles, flagramos que tanto a poesia quanto a filosofia nascem do espanto, da admiração e, talvez por esse motivo, nos soe tão grega quanto contemporânea a epígrafe de Pessoa na abertura do livro de Junqueira (“Há um poeta em mim que Deus me disse…”), ressoada no primeiro poema da coletânea: “Eu sou apenas um poeta/ a quem Deus deu voz e verso”. Reverberando, ali, algo de um vate, de um rapsodo abduzido pelo divino, o poeta, irrequieto, chega mesmo a pôr em dúvida a própria figura — entificada — de um deus “déspota, deposto”, no magnífico poema que dá título à sua trama elegíaca: “Diz-me: o que haverá do outro lado?/ A eternidade? Deus? O Hades? Uma luz cega e intolerável? A salvação? Ou não há nada?”.
Elogio à vida
Diante de um “céu ao reverso, torto”, a poesia filosófica de Ivan Junqueira parece triunfar num pessimismo que também se questiona sobre a fertilidade do “pensamento erradio/ daquela vã filosofia/ que se move em nós, escondida,/ e faz da existência esse enigma/ que é não termos princípio ou fim/ e até mesmo nenhum sentido”: “pergunto-me afinal se valeu a pena/ a aposta que fiz no infinito e na beleza,/ em Deus e na eternidade, na poesia/ que me abandona agora à própria sorte/ na extrema fronteira entre a vida e a morte”. E é de seu vozerio, “já de morte ferido”, que obtemos a resposta de que a arte “não cobiça/ ser laureada ou aplaudida/ por sua exímia alquimia,/ mas tão-só fruir de si/ o prazer de estar viva”. Na elegia de Junqueira, um oblíquo elogio à vida sobressai, pois ela é o que, fugindo, incessantemente o persegue nos labirintos da memória que tudo salva e presentifica, na concomitante reversibilidade das forças antagônicas da realidade (“nossa vida, sempre diante/ da morte”; “Não vês que, morto, estou vivendo?”).
Preciosamente vago e recorrente no poema São duas ou três coisas, o pronome pessoal “ela” pode, então, remeter, entre outras interpretações, tanto à morte quanto à vida (“Sei que ela vive no halo de uma vela/ e queima, sem consolo, em minha cela”), pois ambas, em dúplice unidade, se fundem igneamente, consoante escreve Indagações: “não há vida nem morte, mas apenas/ o sonho de alguém que, numa viagem,/ julgou estar em busca do eterno,/ sem saber que o que nos cabe/ (e o que somos, tão fugazes)/ é, se tanto, uma escassa chama que arde/ e se apaga ao fim da tarde”.
Evidência da paradoxal possibilidade de perpetuação do fugaz na experiência vibrante do agora são as muitas passagens que creditam à potência mnemônica o fulgor da criação ante o esquecimento (“Ó rios de minha vida: os que cruzei sem ter visto/ e os que fluem, com mais tinta,/ no pélago das retinas/ de quem agora os recria!”), a possibilidade do sonho que anula distâncias e perdas (conforme o magnífico Não vês, meu pai?) e a imortalidade do ser na impressão, para a posteridade, de uma arte impregnada de personas e narrativas que, também eternas, desfazem, vez por todas, a dicotomia entre ficção e real, mito e verdade: “Hermes”, “Apolo”, “Lenora”, “Píndaro”, “Ulisses”, “Penélope”, “Calipso”, “Ogígia”, “Odisseu”, “Plotino”, “Agostinho”, “Plínio”, “Horácio”, “Ovídio”, “Virgílio”, “Fausto”, “Dante”, “Cervante”, “Dom Quixote”, “Baudelaire”, “T. S. Eliot” e muitos outros bens poéticos inserem-se no “testamento” do poeta como (co)memoração do “testemunho/ do sangue que (…) se vai embora”.
Decerto que as três musas do monte Hélicon consagram a pena de Junqueira: Melete doa-lhe o rigor na variabilidade métrica e fônica; Mnme, o vigor da improvisação imaginal; e Aoide, o canto resultante da mistura entre o domínio técnico e o ímpeto criativo. Nem tudo em Ivan Junqueira “vai, enfim, se despedindo”. Enquanto vivo, a potência musal não o abandona no “áspero exercício/ da língua, do ritmo, da rima,/ de tudo a que não renunciam/ a fúria e o som da poesia”.