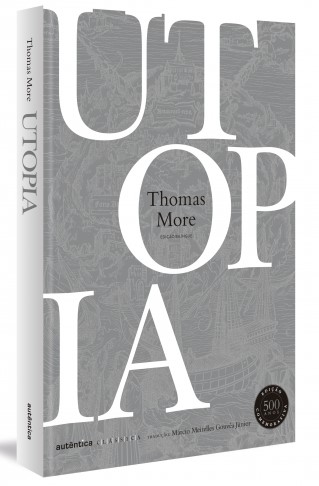No cadafalso, um condenado espera o desfecho inevitável. A punição para seu crime, difícil acreditar, deveria ser outra, e pior: suspensão pelo pescoço, esquartejamento e decapitação. O magnânimo rei Henrique VIII, por clemência, manteve só a decapitação. “Não permita Deus que o rei tenha semelhantes clemências com os meus amigos”, teria dito o condenado.
Ali, naquele momento, talvez lhe passasse pela cabeça a crítica ferrenha que ele próprio fizera nas páginas de sua obra-prima contra semelhante punição, desproporcional ao ilícito (se se pode chamar assim). Apreciador de ironias, não teria desgostado dessa que a vida lhe oferecia.
O condenado chama-se Thomas More. Seu crime: resguardando sua consciência, negar-se a prestar juramento, católico fervoroso que é, ao monarca, reconhecendo-o como autoridade religiosa, numa manobra que visava a atender aos anseios sucessórios do rei e que resultaria na fundação da Igreja Anglicana.
As raízes dessa retidão moral de More, que o conduzem ao martírio, certamente respondem pela sua canonização, consumada pela Igreja Católica, e pela comiseração geral que essa tragédia inevitavelmente inspira a qualquer que dela tome ciência. Porém, há uma razão mais profunda para tal compaixão, e que apenas se revela ao se concluir a leitura de Utopia, reeditada agora pela Autêntica em edição bilíngue primorosa que celebra os 500 anos do livro: a razão é o abismo existente entre os anseios mais puros de um homem por uma sociedade mais fraternal e a realidade pérfida que se lhe apresenta.
A república ideal
Utopia foi publicado em 1516 e é fruto da formação humanista e religiosa de seu autor. More, inglês invulgar do século 16, foi advogado, diplomata, homem de estado e leis, ocupações que por certo influenciaram a composição da obra. De sua formação mais especificamente filosófica e literária vem a estética do livro, obra que incorpora a forma (até certo ponto) dos diálogos platônicos, das crônicas de viagem típicas da era dos grandes descobrimentos, assim como os tratados sobre a constituição fisiológica ideal de uma sociedade, juntando-se a obras como A República, Da monarquia e Contrato social.
Utopia, porém, vai além em seu escopo de vislumbrar as condições idealizadas de um estado justo e reto, o que o próprio nome da obra indica. Forjada pela junção de dois termos (ou — “não”; topos — “lugar”), a palavra nomeia uma suposta ilha que reuniria em si as condições ideias de uma república, capazes de dar resposta a diversos fatores que geralmente obstam tal realização.
A obra divide-se em duas partes. A primeira prepara o contexto para a segunda, na qual a estrutura sócio-político-religiosa de Utopia é exposta e analisada por Rafael Hitlodeu, aventureiro português que por lá aporta e passa a viver por breve período. É, portanto, Hitlodeu quem nos dá a conhecer sobre a ilha, More o conhecendo numa viagem diplomática a Flandres, situação descrita em toda a primeira parte.
É interessante notar que em ambas as partes subjaz uma crítica ferina à configuração social e suas contradições, e tal crítica não se detém no contexto geográfico e temporal da época. É perceptível, por exemplo, nos povos fictícios que convivem em harmonia com Utopia ou com ela fazem guerra, à sombra de impérios e governos de outrora, e suas deficiências estruturais. A ilha, nessa perspectiva, é a resultante de uma concepção idealizante a dar resposta a tais deficiências.
Em linhas gerais, a economia utopiense é essencialmente agrária. O povo, numa jornada de trabalho não superior a seis horas, cultiva a terra em propriedades de posse coletiva. Ninguém é dono de nada em Utopia porque tudo pertence a todos. O mesmo pode ser dito das residências. O aspecto itinerante não é repudiado na região.
A hierarquia familiar remete ao patriarcalismo. Os mais velhos são eminentes, tutelando moralmente os mais novos. Sua representatividade é garantida na administração estatal.
No âmbito desse sistema econômico, o dinheiro e o ouro, conquanto não abolidos totalmente, sofrem acentuada desvalorização. O ouro em especial, destinado a produzir urinóis ou correntes de escravos, só compõe o erário para comprar a força bélica de outros povos, em favor da ilha. Nela não há um exército permanente, fadado ao ócio em tempos de paz. Há que se lembrar aqui, a título de exemplo, o papel que a guarda pretoriana desempenhou nas sangrentas disputas pelo poder em Roma. Assim, em Utopia, é preferível ter mercenários como peões em entreveros bélicos, o que não dispensa o treinamento militar de todos os cidadãos como cautela; todavia, a guerra é mal vista pela população, que se jactaria de conseguir preveni-la através de intrigas e astúcia.
O trabalho é valorizado em detrimento do ócio, o que não afeta a atividade intelectual e formativa dos cidadãos, estas correspondendo ao rol de ações prazerosas dos habitantes. Embora não seja um povo distinto nesse aspecto, os utopienses assimilam com facilidade novos conhecimentos, permanecendo “atrasados” no que há de sofisma e retórico no conhecimento ocidental. É um povo extremamente tolerante no tocante a crenças. Não apresenta propriamente um sistema religioso; seus templos têm um caráter ecumênico, com ritos cujo modus operandi favorece esse aspecto. De todos, esse é o setor menos definido. O que explica a crescente penetração do cristianismo promovida por Hitlodeu e seus companheiros.
Em suma, Utopia é uma pátria pragmática que apenas concebe como possível a busca por um ideal de harmonia social e felicidade mútua através desse pragmatismo, pelos firmes alicerces morais e éticos e pelo olhar atento às deficiências fisiológicas de outros estados.
Tempos distópicos
Quando uma obra atravessa cinco séculos de existência, parece imprescindível ao crítico analisar em que medida suas ideias ecoam (ou não) pelos tempos até chegar à atualidade. A esse propósito, o que Utopia tem ainda a nos dizer?
É preciso, antes de tudo, reconhecer como a voz de More soa atual:
Não me convenci (…) de que este livro deva, de fato, ser publicado. Pois os paladares dos mortais são tão variados (…) tão ingratos os ânimos e tão absurdos os juízos (…) A maioria das pessoas não conhece a literatura, e muitos a desprezam.
Mais escrúpulos teria More se considerasse a contemporaneidade. O humanismo e o renascimento da época viabilizavam um otimismo no qual sistemas político-filosóficos poderiam reformar o mundo. Ambos são peças de museu agora, e diante do crescente clamor à redução do estado ao mínimo e num contexto de patrulhamento ideológico e censura cultural, há sérios riscos de que Utopia seja banido dos currículos nacionais de ensino:
Obrigai que aqueles que destruíram as vilas rurais as reconstruam, ou as entreguem a quem as deseja reconstruir. Refreai a ganância dos ricos, coibindo o exercício do monopólio (…) Seja honesto o trabalho no qual se empregue (…) essa turba ociosa, que apenas a miséria transformou em ladrões.
Porém, para além de um ideal reformista anacrônico nesses tempos de morte das utopias, Utopia ainda viceja no olhar lúcido às mazelas que precarizam o convívio social e suas causas, mas não só: é notável a clarividência desse olhar através da história, passadas a Revolução Industrial, os regimes comunistas do século passado e o neoliberalismo a proporcionar “felicidade” à humanidade.
Por tudo isso, More nos é essencial, e ainda haverá de ser por bom tempo.