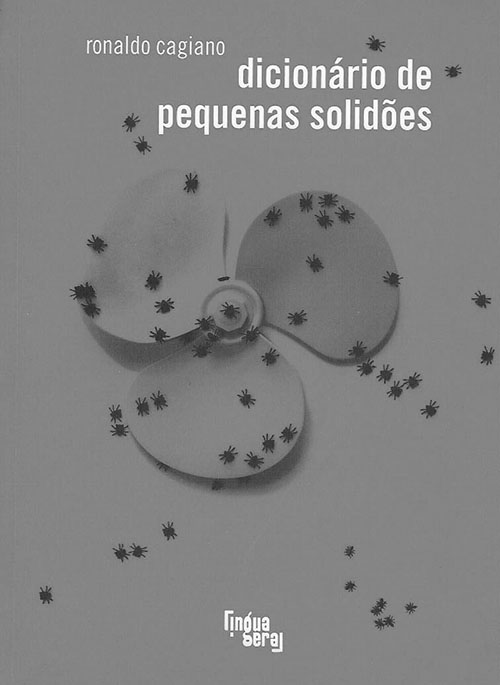Na página 92 de Formas breves, Ricardo Piglia observa uma de suas teses sobre o conto: “Kafka conta com clareza e simplicidade a história secreta, e narra sigilosamente a história visível, até convertê-la em algo enigmático e obscuro. Essa inversão funda o kafkiano”. Os contos da antologia Dicionário de pequenas solidões, de Ronaldo Cagiano, bebem de maneira fértil nessa fonte citada por Piglia e outras mais — João Antonio, Samuel Rawet na narração e Augusto dos Anjos, Drummond e Torquato Neto na poesia, pois o autor também é poeta. Vai além: reproduz e revela de maneira implacável e lúcida o resto, a sobra de um Brasil trágico e dramático, cenas que povoam uma sombra ingrata e incômoda aos olhos do Planalto Central.
Dicionário de pequenas solidões é um labirinto descontente. Ficções profanas, extremas e brutais, castigadas pelas patologias de uma certa urbanidade, na qual transitam, lado a lado com a história oficial, personagens corroídos pelo silêncio, partidas, idas, vindas e o vazio de suas vidas ordinárias. Consumidos e cuspidos pela voraz realidade de um país que desconhece o seu povo. Desesperança pura.
São 15 histórias de dois livros: o premiado Dezembro indigesto (2001) e Concerto para arranha-céus (2004), o mais pungente e maduro de Cagiano. Para a antologia foram escolhidas as histórias mais consistentes do autor. No geral, uma série de narrativas em primeiro plano e com toda a naturalidade, entretanto movediças e dolorosas, fincadas numa realidade espinhosa e intercambiadas pela visível denúncia social e (con)fusão de gentes num mar de cólera e espanto em suas vias-crúcis.
O reino dissonante e paroxismo de um crepúsculo banhado por óbitos, tédios, descrenças, condenações, êxodos, decadências e hemorragias cerebrais crônicas. Derramadas numa lógica veloz, tumultuada e vulcânica. Inundadas por epígrafes, referências, interlocuções e pontuadas por uma imaginação criativa. Um painel digno do pintor flamengo Hieronymus Bosch.
Há contos exemplares: O abuso, Golpe de misericórdia, Solidão, Todas as estações, No último Natal do milênio”, Fígaro, Horizonte de espantos. O melhor deles, cuja temática é a morte, chama-se A marca. Uma trajetória impotente, desencantada e desesperançosa do filho que volta à cidade natal para enterrar o pai. No seu delirante retorno, o protagonista é embalado por uma sublime perturbação, um recôndito desejo, fazer o que queria quando mais novo: visitar o túmulo de Baudelaire em Paris. Mas teve que se contentar com o sepulcro de Augusto dos Anjos — sepultado em Leopoldina, cidade vizinha à terra de Cagiano: Cataguases, Minas Gerais.
A marca é um mix de encontro real e fictício para um anônimo enigmático, acinzentado, obscuro e carcomido pelos sofrimentos da procura da essência em suas crises existenciais. O remorso atinge o clímax a partir da lembrança das manchas de sangue no cimento, a nódoa que não diluiu, sinal de uma culpa irremediável: a morte do irmão menor, na infância, esmagado por um caminhão de areia.
Fundamentalmente poeta, entretanto regido pela máxima de Baudelaire, “Seja poeta, mesmo em prosa”, o escritor desde 1979, quando chegou em Brasília (onde trabalha como bancário), não parou de escrever — ofício que faz desde a adolescência. Na ficção, por mais que as temáticas dos inúmeros livros publicados, sejam as frustrações e as incoerências deste tempo coroado for falsas imagens de leituras fáceis, Cagiano sempre acreditou que a “literatura é sobrevivência; pulmão e evangelho; exorcismo e apaziguamento; catarse e reflexão”.
Impaciente, aprendeu a reinventar as coisas. A dizer não. Navega por uma trilha esclarecedora — com fluxos da memória, diálogos e consciência dos acontecimentos — que realmente faz sentido neste mar de mundo que são as contradições humanas.