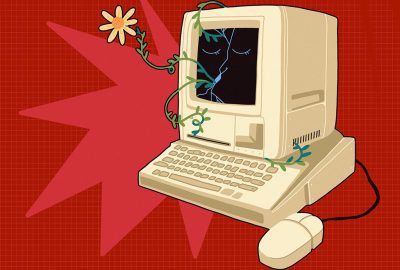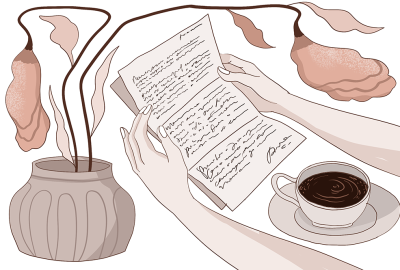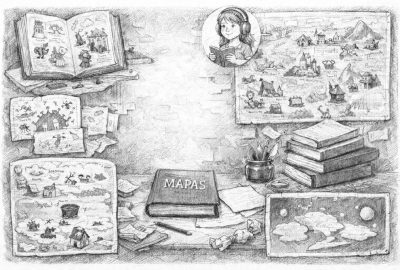Quanto às vantagens restantes — casas, terras, móveis, semoventes, consideração de políticos etc. — é preciso convir em que tudo está fora de mim.
Julgo que me desnorteei numa errada.
Graciliano Ramos, São Bernardo
Meses atrás, ao acaso, este colaborador do Rascunho leu texto do jornalista, escritor e crítico Leo Gilson Ribeiro. Nele, o lançamento de Lavoura arcaica é festejado como feliz exceção de um empobrecido cenário literário. Seria necessário ensaio à parte se quiséssemos especular sobre os motivos que o levaram a tal diagnóstico. Basta lembrar que 1975 recebeu também as primeiras edições de Museu de tudo (João Cabral), Catatau (Paulo Leminski), As confissões de Ralfo (Sérgio Sant’Anna), A faca no coração (Dalton Trevisan), Feliz ano novo (Rubem Fonseca), Dentro da noite veloz (Ferreira Gullar) e De corpo presente (Armando Freitas Filho), além de Zero (Ignácio de Loyola Brandão), publicado na Itália um ano antes.
De imediato, veio a ideia de buscar linhas de força comuns a algumas dessas obras. Através das convergências entre seus tão diferentes registros, revisitar aquela dramática quadra de nossa história, além de refletir sobre os abismos atuais — que vivemos ou nos espreitam. Tópicos como poder, instituições, família, identidades, violência, liberdades, corporeidade, demandas refletidas na linguagem, na exploração das possibilidades formais.
Fato é que melhor sorte acompanha os ensaístas que dependem do cartão verde de um bom editor. Ao propor que fizéssemos algo mais específico, o editor deste Rascunho vetou empreitada que estouraria quaisquer prazos. Mais ainda: levou-nos a adiar hipótese tão atraente quanto trabalhosa e digna de zelo — daquela lista, a obra que mais dialoga com seu tempo é justamente a de Raduan Nassar, embora seja vista e vendida por grande parte da mídia e da crítica como não engajada (o que é fato), hermética e culturalmente desconectada de sua época (grandes bobagens).
O que podemos, então, acrescentar a tudo que já foi veiculado neste 2025 que marca o primeiro meio século de Lavoura arcaica e os noventa anos de seu autor? Uma cota bem menos ambiciosa, mas que suspeitamos de alguma serventia: juntar-nos aos que propõem que o célebre romance seja revisitado com disposição para novas direções, rotas mais flexíveis, portos não programados e os fundamentais imprevistos da jornada.
Sementes em terreno pedregoso
Para aqueles que ainda hoje se surpreendem com tentativas de medir literaturas no calor da hora, de classificar autores recém-chegados à fogueira (ou mesmo de lhes negar o lugar de escritores), comecemos pela lembrança de que Lavoura arcaica é caso exemplar. A ponto de, no ano seguinte ao lançamento, Modesto Carone citar (em artigo do Jornal da Tarde) a angústia daqueles que “se amarram em etiquetas e prescrições canônicas”. O mesmo Carone não deixou de reconhecer, porém, que a tarefa não era simples, pois o romance exigia “um tributo de discernimento estético para revelar sua generosa energia criadora”.
Ao apego por hierarquias e rótulos, às nem sempre vetustas capacidades dos resenhistas, juntemos as sensíveis dicotomias que regiam boa parte dos debates na época — fossem nas batalhas internas das militâncias de esquerda, nas disputas políticas dentro das universidades ou nas menos institucionalizadas esferas da vida cultural do país. Algo que perdurou tanto que, mais de uma década após a primeira edição, o jornalista e escritor Carlos Alberto Tavares de Melo, em artigo para o Correio Braziliense, destacou as parcialidades e reducionismos na fortuna crítica de Lavoura arcaica. Muito da recepção mais negativa ao romance era movida por querelas ideológicas e metodológicas que andavam (e ainda costumam seguir) sempre juntas.
Dois atributos eram bastante presentes nessas leituras menos entusiasmadas, bem como nas que confessavam dificuldade em assimilar a literatura daquele tímido e quarentão escritor nascido em Pindorama, interior de São Paulo. Eram os tais hermetismo e desconexão com a realidade — que muitos intelectuais julgavam incontornável naquela encruzilhada da vida brasileira. Nomes como José Carlos Abbate e o já lembrado Modesto Carone estão entre os primeiros que os refutaram. Amigos do autor, eles principiaram viés outro, fundamental para a interpretação do romance, ao afirmar não só o vigor da narrativa, mas também seu profundo (embora nem direto nem panfletário) diálogo com o contexto social — que o leitor dela podia extrair por diversas chaves, desde que houvesse mínimo de vontade e bagagem.
Vários dos tópicos instrumentalizados pelas análises mais frágeis estão também contemplados nas melhores exegeses. Um deles encontramos na imagem utilizada por Sabrina Sedlmayer Pinto, na dissertação Ao lado esquerdo do pai: os lugares do sujeito em Lavoura arcaica (UFMG, 1995), quando afirma que tecitura e trajetória de Lavoura arcaica dificultam sua contextualização e as possibilidades de filiação: “a obra apresenta-se com tal alteridade que é impossível estabelecer laços rígidos”; o romance assemelha-se a um iceberg, “bloco que se desprendeu de uma massa maior e que vaga errante, apenas encostando-se em outros pedaços de textos. As aproximações são efêmeras, passageiras”. Como referências plausíveis, Sabrina cita textos da Bíblia e alguma prosa nacional, como Graciliano Ramos e Jorge de Lima.
Aqui temos bom momento para registrar que praticamente todos os articulistas, críticos e pesquisadores se encontram ao listar características do romance, tais como a retomada de temas clássicos, míticos e religiosos, utilização de alegorias, linguagem ornamentada, hiperbólica, carregada em ritmo que alterna o litúrgico e o febril. Ou seja, os dissensos residem na petição de princípio, no fato de parte da recepção — até hoje, diga-se — insistir em tomá-las como premissas suficientes para julgar verdadeira a conclusão de que se trata de um texto distante, hermético, solitário.
O que resta por dizer
Em 1996, o segundo volume dos Cadernos de Literatura Brasileira (do Instituto Moreira Salles), dedicado a Raduan Nassar, trouxe longo e necessário texto de Leyla Perrone-Moisés. Da cólera ao silêncio serviu como verdadeiro “freio de arrumação”. Sem recorrer a excessivo didatismo, sem cair na armadilha de anunciar posições e objetivos, a professora realizou tarefa que naturalmente falharíamos em cumprir no espaço deste ensaio: fazer com que os leitores, ao revisitarem questões essenciais, percebessem que eles pedem mais do que lhes costuma ser dado — que são convites à abertura de propósitos, às incontáveis janelas de interpretação, às diversas análises possíveis, sejam elas linguísticas, genéticas, dialéticas, comparadas etc.
O demorado e cabreiro depoimento que Raduan concedeu para o mesmo Cadernos contém também instantes valiosos à modesta proposta que assumimos. Não me refiro às perguntas e respostas em redor de sua tão comentada opção pelo “silêncio”, do abandono da carreira literária após a publicação de Um copo de cólera (1980) e da coletânea de contos Menina a caminho (1994). Creio que mais oportunas são as breves (e quase sempre aborrecidas) considerações que ele fez a partir da sua obra e sobre a literatura em geral. Ao citar Jorge de Lima, por exemplo, explicitou o que entende por “realização do poético no plano conceitual”, em contraposição aos que insistem em buscá-la a partir da “casca”. “Há sempre um copo de mar/ para um homem navegar”, são os versos recordados. Deles, o romancista ressalta que as palavras são cotidianas, a rima é comum, a sintaxe não poderia ser mais simples: “Mas são versos generosos à imaginação”. E, na resposta seguinte, ele diz acreditar que “a boa prosa tenha sido sempre poética”. Porque “as leituras que nos acompanham a vida toda foram as dos artistas dos significados”.
Raduan defendeu o uso de frases de efeito e afirmou que os escritores estavam “complicando um pouco as coisas”, pois “queriam a qualquer custo acabar com os sentimentos na literatura”. E quando você lê “um texto que não toca o coração, é que alguma coisa está indo pras cucuias”. Todas essas opiniões foram dadas a entrevistadores que não largavam o osso — melhor dizendo, que preferiam insistir em lugares-comuns que alicerçam muitas das enviesadas leituras de Lavoura arcaica.
Há confusão frequente nas análises feitas a partir dos depoimentos do escritor, mormente quando expressam seu desinteresse por teorias e programas literários. Nas entrevistas — que não são tão raras quanto vendem os pacotes midiáticos sobre o personagem Raduan Nassar —, ele deixa muito claro que sua recusa em pesquisar e se valer de discursos teóricos não implica imunidade a eles: “As ideias estão no ar. Se assimilei uma e outra no meu trabalho (…), foi cheirando involuntariamente a atmosfera”.
Embora concordemos com o próprio Raduan — que declarações dos escritores nunca devem ser levadas muito a sério —, vale ratificarmos que boa parte dos meios de comunicação e da crítica tem especial interesse naquilo que reforça estereótipos, que exotiza o autor, divulga-o como algo à parte, misterioso, indecifrável, imiscível — tudo que, enfim, supõem que as pessoas estão mais interessadas em consumir.
E a paixão além das cascas
Um dos equívocos marcantes na fortuna de Lavoura arcaica é, na verdade, tropeço que a crítica literária transformou em resiliente clichê: classificar como “herméticos” os textos que consideram “difíceis”. Qualquer pesquisa rápida, no entanto, é suficiente para colhermos indícios de que os leitores (profissionais ou não) compreendem bem o enredo do romance. “Trata de família e valores”, “propõe releitura do filho pródigo”, “aborda temas como religião, liberdade, incesto”, “é cheio de alegorias que nos fazem pensar sobre crenças, instituições, discursos, violência”.
Não há hermetismo — o texto não é marcado por obscuridades, conteúdos enigmáticos, camadas que requerem esforço interpretativo excepcional. Ao contrário: as cenas são nítidas e marcantes, as repetições findam por demais eloquentes, e o uso de imagens carregadas de sentidos contraditórios (olhos, vinho, dança, febre, epilepsia, cercas…) não está a serviço do ocultamento; elas nos levam a repisar os ossos da narrativa, a contrastar visões que confundem não pela obscuridade, mas pela claridade — pelo ofuscamento.
Estilo “cheio de excessos” e texto “difícil” não são sinônimos de leitura hermética. E até mesmo esse lugar-comum do texto “complicado” merece ser empregado com maior consciência e rigor. Comparações com escritores como James Joyce, Guimarães Rosa e Osman Lins também não ajudam. Não que tais diálogos sejam impossíveis, que não possamos buscá-los (guardadas as consideráveis proporções) nos aspectos orais, arcaizantes e litúrgicos, na arquitetura do romance, nas dimensões míticas e alegóricas de Lavoura arcaica. Mas nem de longe devemos insistir nessa grande “inovação”, na “reinvenção” da linguagem operada por Raduan, como as resenhas, ensaios e pesquisas vaga e rotineiramente citam. Visitas a textos como os de Clarice Lispector, Graciliano Ramos e — por óbvio — do português Almeida Faria talvez façam mais sentido e rendam melhores frutos a quem repense a fortuna crítica do romance. Aquilo que o distingue — e faz com que seus leitores mais dedicados tenham a sensação de conquista de intimidade com algo novo — está mais ligado ao ritmo, às marchas irregulares de um fluxo de consciência ora lírico, ora furioso, mas que em nenhum momento se torna irracional ou incompreensível.
Torcendo ainda mais esse fio: os sentimentos de confusão, angústia e desespero são trabalhados com instrumentos bem outros — com estilo de linguagem que, ao longo da narrativa, cria nos leitores a identificação com o narrador que não consegue se fazer entender pelos demais personagens, por mais que recorra a sentenças diretas, à repetição, a frases de efeito, metáforas simples, imagens visceralmente expressivas. Nem mesmo as referências bíblicas e as paráfrases dos sermões paternos conseguem mitigar essa incapacidade que asfixia André.
Daí a descomunal força expressiva da irmã, essa personagem que o narrador tenta nos vender como uma espécie de duplo (“também trazia a peste no corpo”), mas que dela o autor faz justamente o contrário: através de seu silêncio, de cada gesto, da dança que toma de assalto Lavoura arcaica, Ana nos lança nas mais escrotas contradições — nossas e de André —, nos mecanismos de opressão ainda não verbalizados pelo colérico narciso; naquilo, enfim, que existe de mais violento, perturbador e imperdoável nas águas inflamáveis do romance.
A mais intensa e cruel paixão dessa cinquentenária obra não escorre sobre as peles incestuosas, tampouco nas demandas enunciadas pela poética entre litúrgico, barroco-pastoril e dionisíaca de André. Ela é derramada pelas lâminas que desabam dentro e fora das páginas em cada Ana que castigamos e calamos em nome de algum estúpido desejo, vaidade ou tradição. E, se as cascas não suavizarem a virtude (e horror) maior dessa lavoura, é porque os leitores terão conseguido descartar a maior parte do joio que a má fortuna lhe atirou.
Que doces olhos têm as coisas simples e unas
onde a loucura dorme inteira e sem lacunas!
Jorge de Lima