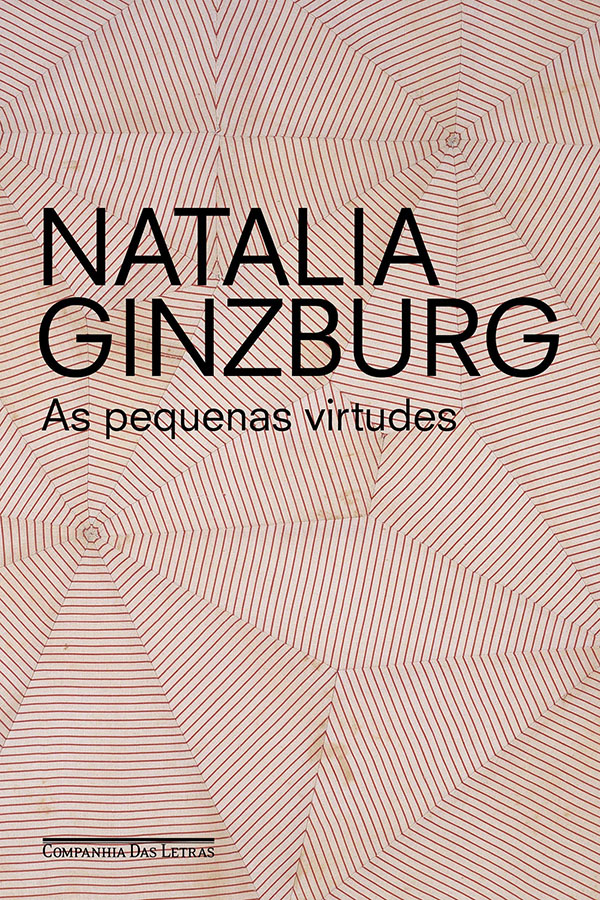“Recordamos aquele gesto, mas não saberíamos imitá-lo.” Essa é uma das frases do ensaio As pequenas virtudes, que dá título ao livro de Natalia Ginzburg. Num ano tão conturbado, em que nossas vidas foram chacoalhadas, umas interrompidas, outras suspensas, em que as dificuldades econômicas crescem e a ameaça de mais impostos é cada vez mais iminente, como quase aconteceu recentemente com o mercado livreiro, é preciso acolher e saudar mais esse livro da autora italiana — de forte personalidade, ânimo combatente e espírito resistente, para quem a virtude é algo que é adquirido por meio da experiência, não um elemento herdado ou inato:
Frequentemente as más ações não são punidas, mas, ao contrário, lautamente recompensadas com sucesso e dinheiro. Por isso é melhor que nossos filhos saibam desde a infância que o bem não é recompensado, nem o mal recebe castigo; todavia é preciso amar o bem e odiar o mal — e a isso não é possível dar nenhuma explicação lógica.
As pequenas virtudes é um livro delicioso e arrebatador, composto por 11 ensaios publicados em diferentes jornais e revistas italianas, entre 1944 e 1962. Vinte anos lidos a partir da lente da intimidade, mas que não deixam de remeter a uma esfera mais coletiva. Esse período abarca o final da Segunda Guerra, a reconstrução do país e o início da industrialização. Acontecimentos que mudaram a vida e as formas de vida; aquela “mutação antropológica” definida por Pasolini, poucos anos mais tarde. Não é meramente casual essa menção ao cineasta e poeta, uma vez que, em 1964, ele a convida para participar de Evangelho segundo São Mateus — filme que também contou com a participação de J. Rodolfo Wilcock e Giorgio Agamben.
Os ensaios são dedicados na nota inicial a um amigo cujo nome não é revelado (mas a referência é o filósofo Felice Balbo) e divididos em duas partes, a primeira é composta por seis textos: Inverno em Abruzzo, Os sapatos rotos, Retrato de um amigo, Elogio e lamento da Inglaterra, La Maison Volpé e Ele e eu; a segunda e mais ensaística, por outros cinco ensaios: O filho do homem, O meu ofício, Silêncio, As relações humanas e As pequenas virtudes. Os percursos aqui empreendidos seguem o ritmo e o fluxo de uma vida, que diz respeito à relação com o tempo, com as pessoas, com os objetos, enfim, com tudo aquilo que cerca e faz parte de um estar no mundo. Autora de romances, contos, peças para o teatro, Ginzburg confirma mais uma vez seus materiais de trabalho: situações do cotidiano, motivos ocasionais e as recordações, que acabam fazendo parte de nós e nos transformando.
Fluxo da vida
Inverno em Abruzzo, escrito em 1944, traz a guerra e a experiência fascista. Natalia, com os filhos, segue o marido Leone Ginzburg, consultor da Einaudi e um dos responsáveis pelo jornal antifascista Giustizia e Libertà. “Éramos internos civis de guerra”, ela anota em Abruzzo. Mesmo em exílio, esse será um momento de “fé num futuro fácil e feliz”, cheio de desejos. Após terem deixado o vilarejo, Leone Ginzburg é levado para a prisão romana Regina Coeli, onde é torturado e assinado, em fevereiro de 1944. É bom lembrar que também o pai e irmãos de Natalia foram presos. Esse primeiro texto, apesar do tom familiar, coloca o leitor no meio do furacão da história, que retorna no segundo texto, Os sapatos rotos, publicado no Politecnico de Elio Vittorini. A expressão “sapatos rotos” volta com um refrão que parece marcar a dureza dos tempos. O ano é 1945, portanto, Leone já havia falecido na prisão e Natalia estava em Roma, distante dos filhos, que estavam com sua mãe (“Meus filhos estão morando com minha mãe, e por enquanto não têm sapatos rotos.”). Interessante lembrar que essa mesma imagem dos sapatos rotos também caracteriza Silvestro, o protagonista do romance de Elio Vittorini, Conversa na Sicília.
Retrato de um amigo é dedicado ao amigo e companheiro de trabalho na Einaudi, Cesare Pavese, que se suicidou em 1950. As lembranças perpassam pela geografia e pela atmosfera melancólica da cidade de Turim. A delicadeza e a rigidez são traços que Natalia observa em Pavese, de caráter esquivo e modesto, um adulto que sempre foi adolescente. A amizade vai ganhando contornos centrais nesse livro.
Os últimos três ensaios da primeira parte marcam um outro tempo, o do segundo casamento — com Gabriele Baldini — e a experiência de viver num país estrangeiro, em Londres. Se de um lado tem-se a ideia de que a Inglaterra poderia ser uma meta almejada, por outro aponta-se para a “falta de fantasia dos ingleses”, para o fato de tudo já estar previsto, de as coisas serem feitas de “modo automático”. A imagem perfilada é a de uma Inglaterra quase perfeita em sua melancolia: é o país do bom governo, do máximo respeito, contudo, é também o país onde as vacas são inodoras e limpas, onde os doces têm “um gosto de centenas de anos”.
A Itália, na outra mão, tem os piores governos, é o país da desordem, da incompetência, mas, aqui, o sangue pulsa. Essa espécie de tabuleiro das oposições continua em Ele e eu. O foco agora está nos hábitos e nas diferenças na vida de um casal: ele (Gabriele) e eu (Natalia). Situações banais, como a teimosia masculina em não pedir informação na rua é um dos aspectos abordados nessas páginas, em que a convivência a dois é lida com delicadeza e ironia. E esse texto não deixa de ser uma abertura para a segunda parte, quando Natalia afirma: “Eu só poderia fazer um ofício, um ofício apenas: o ofício que escolhi e que sigo (…) de qualquer modo, eu não saberia fazer outra coisa. Escrevo histórias e trabalhei muitos anos numa editora”. E um pouco antes, ela fala do que amou e do que foi aprendendo: “Elas ficaram em mim como imagens esparsas, alimentando minha vida de memórias e de emoções, mas sem preencher o vazio, o deserto (…)”. Aqui talvez tenhamos um dos indícios que vão ficando como rastros dessa escrita, que é entremeada de vida, de experiência vivenciada, de concreções, de uma busca pela verdade da realidade que não coincide com realismo. Nesse sentido, vale lembrar do trabalho da autora como tradutora de Proust e Ivy Compton-Burnett.
A guerra penetrada nos ossos de caproniana memória e o pathos da experiência do mal tornam-se uma condição existencial presente em O filho do homem (título bíblico): “Não nos curaremos nunca desta guerra. É inútil. Jamais seremos gente tranquila, gente que pensa e estuda e modela sua vida em paz. Vejam o que aconteceu com nossas casas. Vejam o que aconteceu com a gente. Nunca vamos ser gente sossegada”. Esse “vulto atroz”, que marca toda sua geração, também está na segunda parte.
Não é fácil um autor falar de seu processo, se expor, rever seu percurso, voltar os primeiros escritos. Pois então, é isso que Ginzburg faz em O meu ofício. A escrita é algo que vai se impondo a ponto de ela afirmar que não sabe nada sobre o valor daquilo que coloca no papel (é preciso desconfiar!) e que só sabe escrever histórias, cujos ingredientes principais são a memória e a fantasia. Ela adverte que escrita não é um consolo para a tristeza nem uma distração; é um ofício, termo fundamental, que também se nutre de coisas assustadoras e terríveis.
Melancolia, ironia, profunda relação com o vivido, com o outro, disposição para a escuta, inclusive de si, são alguns dos elementos que dão o tom e marcam o passo de uma escrita que tem um ritmo muito singular. Uma linguagem “leve”, que embala a leitura de questões e problemáticas de grande complexidade, como se vê também em Léxico familiar (1963) — seu grande romance, publicado um ano depois das Pequenas virtudes. Palavras aparentemente banais, mas que em sua simplicidade carregam realidades cujo peso parece ser intransponível. Nesse sentido, a busca pela verdade, tão presente nesses textos, inclusive no balanço da juventude (de uma geração) e na relação com os filhos, não é um fim, mas se configura sobretudo como um meio de estar no mundo e como um modus operandi.