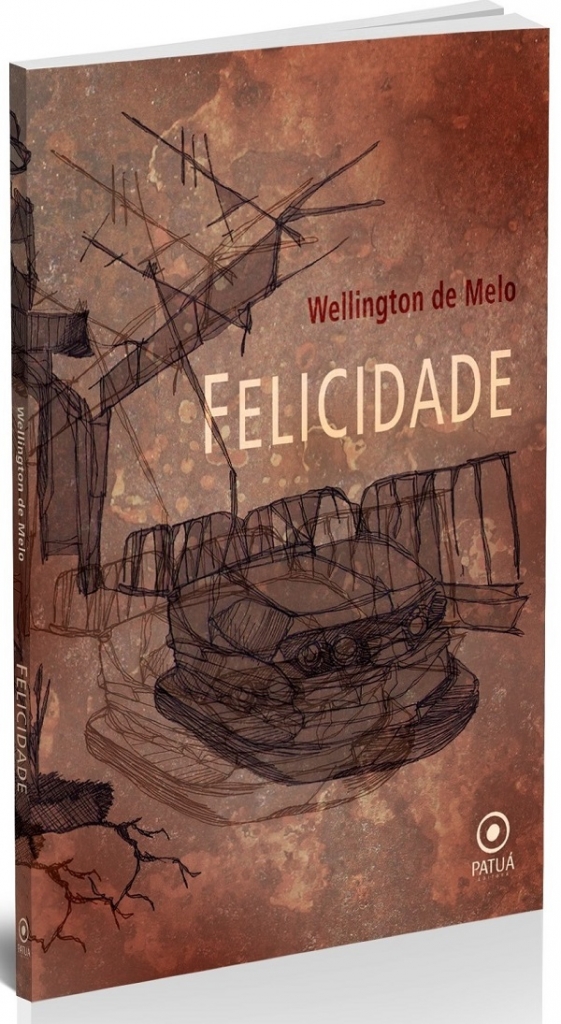A literatura sempre tentou novos caminhos. Talvez o escritor mais ousado procure epifanias no ardor da criação, traço de desenhista que tenta distinguir a forma que ele mesmo ainda não sabe qual. O gênero romance mudou muito nos últimos tempos. Não que ainda não se escrevam narrativas tradicionais, realistas, com personagens construídos por inteiro, situações que não deixem dúvidas ao leitor que procura “uma boa história”, este leitor consumidor, sonho de todos os editores. Mas há quem sempre ouse, alguém que seja uma espécie de inventor no seio do mundo das ideias e da criação artística. Qual a ideia ainda adormecida, não despertada em nenhum de nós? Neste momento há alguma? James Joyce levou a narrativa longa, conhecida como romance, ao extremo, depois dele parecia não vir mais ninguém. A literatura, no entanto, precisava continuar, jamais morreria. Alguns voltaram ao realismo do século 19, enquanto outros desejavam ir adiante, quem sabe tentar décadas ou mesmo séculos à frente, uma vanguarda desenfreada.
Felicidade, de Wellington de Melo, transita nessa via. Trata-se de um romance que escapa às classificações tradicionais. A história desenvolve-se abrangendo vários temas, como a política, a falta de interlocução, a traição, a vida, a morte, o submundo e, sobretudo, o suicídio. Há um narrador que indaga todo o tempo, como se tentasse conversar com outro escritor, tarefa impossível, porque este já está morto.
O livro é desenvolvido em três partes: Beleza, Julgamento e Misericórdia. O início é composto por uma lista de treze tópicos, todos numerados, tentam responder à pergunta inicial: “QUER QUE TE FALE sobre a beleza, Ignácio?” (a caixa alta no início da frase é proposital, tenta marcar a falta de comunicação) Como respostas, os itens enumerados, todos envoltos pela morbidez: “1. O caixão do pai já está na gaveta. 2. O cimento preparado num carro de mão. 3. O coveiro aguarda o gesto. A mãe acena”. Etc. Após o número treze, algarismo emblemático, há um espaço, como um corte, o texto mergulha numa outra cena. Vem, então, a afirmação: “A beleza é uma escolha, Ignácio”.
Sempre presente a dicotomia marcante: horizontal versus vertical. A horizontalidade estaria no percurso que as pessoas seguem na cidade, a tentativa de comunhão num mundo abjeto, marcado e fracionado pela violência, pela força policial que desmantela uma ocupação, pelo constante caminhar em busca de companhia, nem que seja consigo próprio no quarto de uma obscura pensão. A verticalidade se mostra na presença de prédios muito altos, onde habitam os privilegiados, uma espécie de burguesia conivente com a escroqueria, como o doutor Cavalcanti, médico que trafica dinheiro sujo. A verticalidade servirá também como meio de protesto, ponto crucial do livro, quarenta pessoas vão suicidar-se na mesma noite, tudo muito bem programado, filmado e cronometrado, como atentados cujas vítimas são os próprios suicidas e parte da sociedade, porque é nela que o sangue respinga. Tudo transformado em grande espetáculo. O estrago que provoca, no entanto, não é a morte do outro, mas a lembrança perene de si próprio, de corpos dilacerados, expostos nas redes sociais (antissociais?). Neste ponto, estaria a felicidade que dá título ao livro. Ela pode ser vista pelo avesso: existe mesmo a felicidade, ou todos nos enganamos?
Os escritores do século 19, sobretudo do período conhecido como Romantismo, teriam gostado de escrever um livro assim. Algo tão desesperançado, a denúncia de um mundo abjeto, sem saída, em que o escritor é um ser maldito, seu texto é a morte, nada mais do que isso; o suicídio, o gozo extremo. Porque é naquele período que começa este tipo de literatura. O poeta é alguém inadaptado, uma espécie de lorde Byron a percorrer as entranhas marginais da existência. O exagero, o desregramento acima de tudo; depois, a morte.
Estilhaço
Uma das características deste nosso período conhecido erroneamente como pós-modernidade é catar todos os cacos e juntá-los numa nova forma, já que sobra ao artista de agora o estilhaço de todas as explosões. A afirmação não diminui o trabalho de nenhum autor, mas desperta o desejo de constatar que não há nada por inteiro.
Dado importante na narrativa e, talvez, nem tão novo assim é a presença deliberada do suicídio praticado como meio de protesto. Seria isto verossímil na cultura ocidental, uma cultura em que as pessoas vivem em busca do conforto e do prazer? Aqui, presencia-se outra questão. O mundo ocidental abandonou a filosofia, a reflexão, o pensamento. Estamos subjugados ao que nos é imposto, ao que nos é pautado pelas mídias, como a TV, os telejornais e os livros de autoajuda. Falando em autoajuda, quantos livros existem onde a palavra felicidade é repetida centenas de vezes? O livro de Wellington de Melo não é um livro deste tipo, pelo contrário, trata-se de um romance, e mostra que a felicidade não é possível, caso o seja, é apenas transitória, como a relação de dois amigos a tomar cerveja num bar após uma peça de teatro, enquanto da voz de um deles ouve-se a declamação de um poema.
O narrador, Ademir, circula pela cidade, frequenta bares, vai a uma peça de teatro, encontra nas ruas afetos e desafetos, bebe e fuma em companhia de seres marginalizados, enquanto há os programados para morrer, inclusive Ignácio, o escritor com quem, imaginariamente, dialoga. O objetivo é mostrar, talvez, a existência de muitos mortos além dos quarenta suicidas.
Não se trata de leitura fácil nem agradável. Há muitos saltos na narrativa, assim como os saltos dos suicidas; há muitas elipses, personagens que aparecem e desaparecem. Por fim, observa-se a presença da família, onde há o tema da morte do pai (tão querido à psicanálise), alguém que caiu no descrédito da família. As irmãs perseveram, como num provérbio bíblico.
Um dos pontos altos da narrativa ocorre quando o narrador fala do lançamento do livro de Ignácio, descrevendo um leitor que lhe vai pedir autógrafo. O assunto literatura retorna inúmeras vezes, constatando o personagem que ela, a literatura, não tem serventia:
Tu se acha muito inteligente porque leu mais, não é? Tu acha que esses teus livros são importantes? Pra quem? Quem lê isso aí? Ninguém lê essa porra, não! Limpa teu cu com essa merda! Tu acha que não vai morrer, porque escreve essas histórias, é? Quem quer ouvir? Tem tempo para essa porra, não! Tem que ganhar a vida! Bando de desocupado do caralho!
Um pouco adiante, há a questão da construção de personagens baseados em gente da vida real. A discussão continua: “Tu usa as pessoas e joga fora, por isso, não tem família, não tem ninguém!”.
A literatura elidiria não só família, mas também as demais pessoas, metáfora da incomunicabilidade existente na vida real. O autor, como não encontra interlocução, passa a dialogar com seus próprios personagens, nas páginas de seu próprio livro.