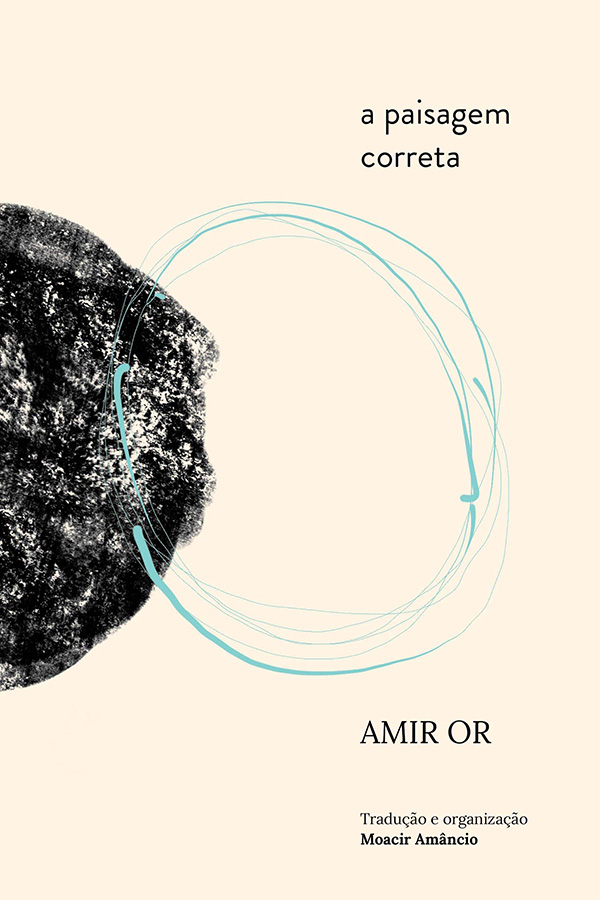A paisagem é Israel e lemos pausadamente as palavras que vêm em seguida: “De manhã ergueu-se e abriu a janela:/ Uma linha de sol — do oriente ao mar,/ foi-lhe ao coração, um peso no ar,/ E ele então despertou: ‘a terra é bela!’”.
Se jogamos “Israel” no Google, na parte dos vídeos, aparece logo este: Conheça Israel em dois minutos. É uma propagada, um apanhado de paisagens turísticas. Esses takes panorâmicos do Mar Morto (salgado a ponto de uma pessoa não conseguir submergir, sendo quase impossível se afogar nele) ou do Mar da Galileia (que, na verdade, é um grande lago de água doce) nos ajudam a compor as cenas do poema acima, presentes no livro A paisagem correta, do israelense Amir Or.
Essa é a primeira antologia do autor publicada no Brasil. Conforme o organizador e tradutor da obra, Moacir Amâncio, anota no texto de apresentação: “Tradutor do grego clássico e conhecedor das religiões do espectro budista, [Amir Or] incorpora-as ao universo da Criação hebraica num fluxo de renovação particular e geral. Como se sabe, Deus se revela a Abraão como um verbo (Ser-Estar-Sendo) na própria dinâmica das coisas”. E acrescenta: “Sua poesia é, portanto, poesia do movimento que retorna e se renova na perspectiva do laço sem fim nem começo”.
Se tomarmos esse laço como o símbolo do infinito, a forma do número “8”, e pregamos os olhos nesse símbolo, não identificamos onde começa nem onde termina a linha. Retomemos o poema citado no início, em que se abre uma janela diante do mar. O que é uma paisagem? Abrir a janela, ver uma linha de sol. Ou o verbo composto que guarda a dinâmica das coisas. Nos dois, quando pregamos os olhos, aprendemos algum tipo de infinito.
A forma do olho
Se fixamos o olhar em um ponto luminoso por alguns instantes, seja uma lâmpada ou o sol de viés, e depois desviamos o foco e nos voltamos para uma superfície mais escura, provavelmente veremos uma pequena série de movimentações luminosas projetadas no lugar para o qual olhamos. Essas transformações cromáticas são cores “fisiológicas”, quer dizer, pertencem ao olho, foram produzidas por ele. É uma experiência comum, e também foi descrita por Goethe na Doutrina das cores (1810). Jonathan Crary, professor de História da Arte na Universidade de Columbia, Nova York, se utiliza dessa experiência para exemplificar uma mudança na forma como passamos a observar o mundo a partir de determinada época.
Se antes o olho era um “instrumento” para descrever o fora sem interferências, uma espécie de lente neutra sem corpo para nomear o visível, a passagem para o século 19 trouxe a empiria para a cena. O corpo não só mensura o que existe, ele agora também produz forma. Virginia Woolf diz algo parecido numa síntese mais ou menos assim: ser ativamente passivo é o trabalho do artista, que recebe choque e doa forma.
Voltando ao livro de Amir, encontramos o poema Não perguntes:
À planície sob o papel chamarás mesa.
Não perguntes de onde vieram as palavras.
Observa o mundo das folhas: tu o chamarás árvore.
Na folha da manhã faísca uma gota de orvalho.
Não perguntes como, pergunta de onde:
a forma das coisas é a forma do olho.
No poema, a forma das coisas é a forma do olho, ou produzida pelo olho. Em outro poema mais adiante, Lembrança. O fora é rasgado de dentro dele, também encontramos uma referência direta a essa espécie de duração do sol no olho: “O poema é memória, como o sol// que fica no olho após a olhadela no sol”. E ainda: “O poema, dizes, é como// o sol que fica no olho após uma olhadela no olho/ que olhou o sol”. Aí, a memória é como um rasgo de luz produzido por dentro, um lampejo, como uma lembrança.
Partindo para outro poema, Oração a Orfeu, também lemos: “Tu estás lá, atrás do meu olhar? Meu olhar vai além de mim?”. Nessas duas perguntas estão dois momentos: atrás do olhar, como uma memória que se fixa por detrás dos olhos, uma imagem; e o olhar que vai além, como aquilo que o corpo projeta, e também apreende.
“Olha em volta e abandona este caminho” é um verso do poema Segunda-feira, “basta ver que o dentro é o fora, juízo”. Aqui, dá para pensar que essa oposição dentro/fora é uma facilidade fonética, um joguinho frouxo de palavras. Ou também que se trata de uma imagem que imita o mundo exterior por meio do sonho ou como imaginação e pensamento.
A recorrência do sentido da visão talvez nos leve a supor a voz que fala no poema como um espectador separado do mundo, assistindo. Mas, como ressalta Moacir Amâncio, a imagem da “ampulheta” fluindo “dentro de si mesma”, no poema Não longe, exemplifica que não há essa divisão. Ainda nesse poema, lemos “o jorro dos rios/ de asfalto,// estiradas aos olhos do dia e se bronzeando, a nudez animal da cidade/ das gentes”. O dia que olha as superfícies como parte da mesma “nudez animal”.
Gênese e renovação
Não dá para passar pelo livro sem esbarrar na formação do território, ou da paisagem, de Israel. O país se formou já no século 20, às custas de guerras e instabilidade social.
Uma retrospectiva rápida: no fim do século 19 surgiu o sionismo, uma teoria que defendia que a sobrevivência do povo judeu, espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio, a ser erguido na Palestina, onde viviam os árabes. A justificativa eram as histórias que apareciam na Bíblia e faziam referência à Terra de Israel.
Em resumo, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1947, ano de sua criação, determinou um plano de partilha do território entre judeus e palestinos. Não aceito pelos palestinos, o evento desencadeou várias guerras e confrontos. O resultado: criou-se o Estado de Israel, mas não o palestino. Além disso, o território do segundo acabou ocupado, em partes, por Israel, que ficou com um espaço maior que o previsto pela ONU após as apropriações em guerra.
Nisso, muitos árabes foram expulsos de suas casas e cidades e se refugiaram em países vizinhos, enquanto judeus do Oriente Médio ou sobreviventes do holocausto migraram em massa para Israel. Esse passado de conflitos se estende até os dias de hoje, e o país, ainda que se orgulhe de ser “a única democracia do Oriente Médio”, mantém uma cultura militar presente no cotidiano.
Voltemos aos poemas. Por exemplo, Estrangeiro: “trouxeram-no para ser queimado no monte de lenha,/ esterco e libação de óleo. Seres sem sombra e sem reflexo”. Ou em Florescência: “Quando os mortos preparam o próximo nascimento/ os cemitérios cheiram a primavera”.
Em um artigo sobre a poeta israelense Yona Wolach (1941-1985), conhecida pelo erotismo aberto de sua poesia, Moacir Amâncio escreve algo que nos serve para ler Amir Or também: “A opção à margem da lei implica superar tabus tanto formais quanto práticos, sob o peso da hora, quando as tensões vêm à superfície”. Fala em transgressão, ruptura ou, ainda, “reinícios dentro da linguagem” — como é perceptível no poema Vem, em que o corpo se integra (e entrega) à desordem: “Relê. Lê entre as linhas./ Decodifica. Destrói todo testemunho./ Tudo pronto?/ então vem, / Vamos fazer amor”.
Afinal, por necessidade ou acaso, quando o olho projeta o horizonte, a guerra organiza a violência e a morte desorganiza o corpo, esses movimentos, também na poesia de Amir Or, estão sempre se renovando. Como no poema Floração: “O Eros da floração flutua à minha janela/ entre os arbustos de buganvília e me diz:/ tu também não escaparás à primavera das criaturas./ E eu, afogado em néctar, abro para ele, de novo,/ abelha trabalhadora que só”.