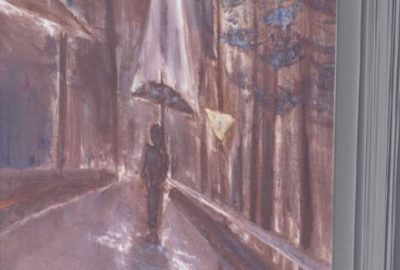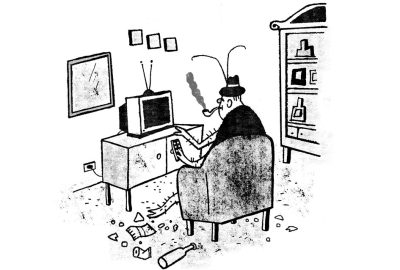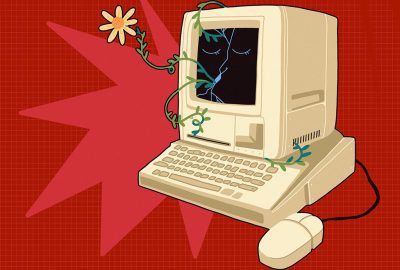É comum organizar a poesia dos anos de 1950 do Brasil por meio de uma não tão bem delimitada, porém aceita, separação: os tributários do lirismo objetivo, à Drummond, e os do lirismo ainda subjetivo, em diálogo com outros cantares, de Cecília Meireles ou Vinicius de Moraes. Passadas as décadas, sabemos que não é bem assim (Benedito Nunes já discorreu sobre isso). Poetas singulares como Marly de Oliveira nos ajudam a compreender que clivar poetas e obras interessa antes a uma estabilização histórica do que à vivência das variações poéticas.
Com a Antologia poética surgida agora, porém organizada há quase vinte anos por João Cabral de Melo Neto, podemos ver que leituras do tempo presente podem não deixar em pé qualquer clivagem que conforte uma dada história da literatura que queira localizar Marly em um dos lados, mais objetivo ou mais subjetivo.
Perceber esse lugar singular de Marly de Oliveira ultrapassa as coisas que podemos recuperar por meio dos temas. É na sugestão formal misturada ao pensamento metapoético que a singularidade dela ganha força e não a deixa à sombra de nenhum outro autor.
Com alguns apontamentos formais, podemos ver a concepção da poeta sobre o que vem a ser a sombra e o deserto — imagens tão caras, por exemplo, a João Cabral de Melo Neto.
Nos primeiros livros d’Antologia poética, exceto o primeiro (bastante regular), percebemos, muitas vezes, uma variação da regularidade. Não como quem busca a irregularidade, mas como quem se estende. Ou ainda, como quem se dá conta de que há algo entre a luz e a sombra que compõem outro tipo de deserto.
Escritos ainda nos anos de 1950, muitos desses poemas emergem como sonetos, porém sem a clássica apresentação dois quartetos e dois tercetos. A indicação formal recai sobre as rimas, não sobre a estrofação. A poeta também se vale de outra variação do soneto, a saber, o poema em dezesseis versos. Mas serão nos livros da década de 1960 que notaremos melhor esse efeito de variação, não apenas do soneto, mas de todo rigor de regularidade, sem com isso sermos conduzidos a uma poesia prosaica. Salvo o livro Aliança (1979), em que encontramos uma parte chamada Reflexões: O mundo e sua paisagem, arrisco dizer que a prosa não esteve no ocaso dos poemas dessa autora que sempre se esmerou com sensibilidade no corte, na ausência, no silêncio.
Tensão
O que sugiro, então, é que a partir do livro A vida natural (1967), Marly deixou seu ritmo correr em tensão. Não em crise, mas em tensão com os elementos da vida expressos nos recursos poéticos. Aquilo que temos lido em certa poesia contemporânea e recebido de bom grado, uma sorte de retorno à terra, não apenas por meio da tematização da natureza, mas também pela tentativa de diálogo com seus variados ritmos e ritos, já se nota nesse livro de virada de Marly.
[…]
a vida é,
corre nas veias
como nos rios,
[…]
no bicho quente,
[…]
e não separa
gente de bicho,
só unifica,
na indiferença
mesma que anima
o que se move
ou não se move […]
Vemos que a emanação do sentido ou da vivência poética não está mais confinada em uma consciência, ou psiquê. A vivência e o sentido podem ser emanados do não humano. Esse traço que acompanhou Clarice Lispector, autora que foi lida por Evando Nascimento na chave do animal, aparece com toda a força no verso acima “a vida é,”. Além da interrupção que nos coloca no intransitivo da literatura (não há complemento depois do verbo), percebemos no poema uma indiferenciação no que toca os fluxos da vida, do sangue nas veias (do homem ou do bicho) ou das águas do rio. E mais, formalmente, para quem vinha se dedicando a versos mais longos, é digno de nota o encurtamento que faz o poema correr.
Porém, diferentemente de muitos poetas da época, essa aparente aceleração do ritmo não atende a uma ida à prosa, apenas aponta o jorro na veia (da terra e do bicho). Esse jorro unifica aquilo que a tradição ocidental, incluindo a crítica canonizadora, separou, o bicho-homem. Sabemos, com Cão sem plumas, que Cabral também trabalhou nessa discursividade mais plástica.
No entanto, não se trata de colocar a poesia de Marly em uníssono à de Cabral pelo fato de que este também não se entregou ao prosaísmo nem mesmo em seus últimos livros. Talvez uma das principais marcas deixadas por Cabral em nossa linha literária tenha sido a inscrição do poema no deserto. Em Psicologia da composição e A palo seco, a reivindicação de uma poesia feita sob a luz a pino parece ter dado uma chave interpretativa para toda a obra do poeta pernambucano. Além de uma atmosfera sem sombras (sem mistério e noites), uma poesia que só deve rasgar o silêncio se for a contratempo, áspera, sem lira.
Em Marly, porém, o que lemos e compreendemos sobre o deserto é outra coisa. A luz e a sombra não rivalizam: “aprazentes jardins, onde viver/ é pouco a pouco ir transformando a noite/ naquela suma luz que revigora,// e acalma quanto mais me revigora/ as finas representações da alma,/ as tramas que tecendo vai a noite,”.
Esses versos são de livro de 1975 e mostram que noite e dia compõem a plástica de um deserto diferente do de João Cabral. Um deserto que até carrega traços da tentação, ou provação (na esteira da católica Adélia Prado), mas que em verdade só pode ser considerado o lugar do poema porque emerge das sombras que somos, não das que evitamos.
Minha alma empoeirada,
quem sabe isso a que chamo precisar
é apenas movimento
para fora? de quem sai de um casulo
[…]
e se acostuma à luz,
Novamente, para além da sugestão semântica, o poema aponta pelas vogais sinais de convivência entre o claro do dia a o escuro da noite. E faz isso por meio do forte paradoxo da palavra “luz”, que, sabemos, sonoramente fecha, mas semanticamente abre a cena. Os versos acima soam mais como o dia, como um abrir-se, mas o fechamento sonoro sugerido nos dois últimos versos nos coloca na ambígua vivência do dia e da noite. Dito de outra maneira, estar no deserto para fazer o poema não prescinde a sombra.
Revés
Mas vem d’A incerteza das coisas (1984), a meu ver, o revés mais poético. É quando a poeta transforma o substantivo em verbo e coloca a aridez do deserto em movimento, como quem venta sobre as imagens da poesia e extrai do texto o reverso do deserto, que não é, para essa poeta, a sombra, mas sim a elisão de ambos.
Desertar, consertar, não importa.
O milho cresce, repentino
o antigo ritual, enquanto eu mesma me repito.
Tanto tempo, meu Deus! Até
que gostaria de escrever de novo
a vida natural, que se inscreve
nesta vida que vivo, sem qualquer
artifício.
O que antes era paisagem árida, ou provação (deserto), torna-se aqui movimento de abandono (desertar), ou mesmo de fazer o deserto, levando para outras derivas suas sombras.
Não é coincidência que justo nesse poema contundente (com pontuação forte, não tão comum em sua lírica) a poeta revela o desejo de escrever novamente aquele que, para mim, é o livro da virada de sua poesia, A vida natural. Foi com este livro que passamos a conviver com uma estruturação poética em que as irregularidades formais não deixavam perder de vista a herança formal mais rigorosa (como quem não se move para negar o passado) e nele também percebemos uma maior aproximação do artifício com a natureza, a emersão do bicho-homem.
Escrever isso em 1984, num livro de “incerteza das coisas” é bonito sintoma de libertação. A poeta não vai ao deserto para aprimorar sua poesia, seu traço, sua vida, antes, vai para reconhecer o que já está dado e é indelével: a natureza do bicho-homem e sua substância de luz e sombra. Não se enaltece o deserto como lugar de exercício do poema, ou do triunfo da razão, também não se diz o contrário. Apenas faz lembrar que as noites também compõem o poema-dia.
Parece ser assim que a poesia de Marly de Oliveira reencontra a de Cabral, não como sombra, nem como luz antagônica, e sim como concretude que se alcança por distintos caminhos, “O sentido das coisas,/ Onde o achar, senão nas próprias coisas?”.