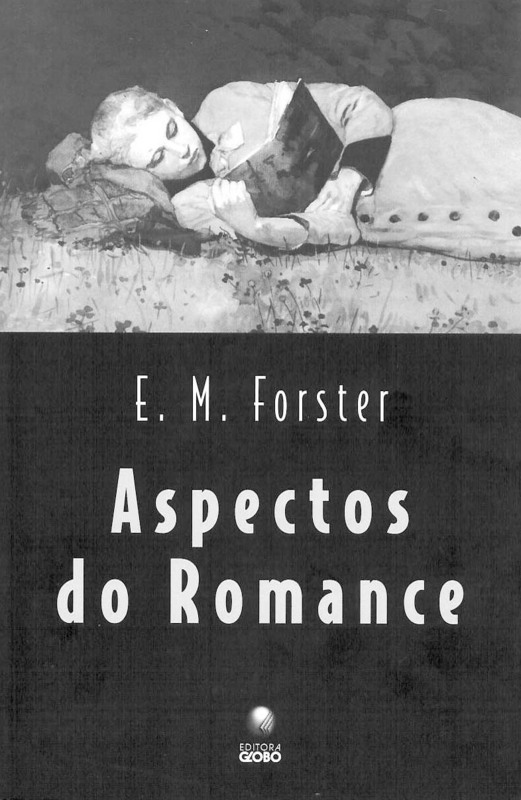Este é um livro que não pode faltar na biblioteca de quem pretende ter pelo menos um mínimo de conhecimento acerca da cultura ocidental. Podemos discordar ou concordar total ou parcialmente com o autor, mas nunca desconhecê-lo. Não fosse por outras razões, poderíamos brandir que, em Aspectos do romance, E. M. Forster lança um conceito, que pode hoje ser encontrado no mais simples dos manuais de teoria literária: o de personagens “planas” e “redondas”. Mas o ensaio, publicado originalmente em 1927, nos conduz a outras agudas reflexões sobre o gênero, que o colocam “anacronicamente” — e ele se divertiria deveras com isso — na vanguarda das discussões do século 21.
Antes, porém, apresentemo-lo: Edward Morgan Forster, nascido em 1879, estudou letras clássicas e história em Cambridge, viveu na Itália, Grécia, Alemanha e Índia, participou do célebre Bloomsbury Group (com Virginia Woolf, John Maynard Keynes, Dora Carrington e Lytton Strachey), escreveu seis romances e dedicou-se, após o encerramento de sua carreira como romancista, ao ensaio literário e à biografia. Morreu em 1970, ano de publicação da primeira edição de Aspectos do romance no Brasil.
Um leitor mais exigente poderia, após percorrer todo o livro, reclamar que Forster centrou muito suas discussões em torno da literatura de língua inglesa, o que viria a prejudicar um estrangeiro que não tenha pleno domínio das obras que ele cita. Outro, apressado, julgaria que, após sua publicação, muitos romances e romancistas romperam as amarras do gênero, jogando por terra suas considerações. E outros mais, aqueles que preferem aderir ao último modismo — ou seja, que tratam a obra literária com a mesma sofreguidão com que lêem as notícias do dia —, a esses, o nome Forster deve soar como marca de cerveja.
Como o derradeiro tipo descrito provavelmente não abrirá este livro, tentemos responder aos outros dois.
Convidado a uma série de conferências no Trinity College Cambridge (uma instituição fundada por Henrique VIII, em 1546), Forster inicia sua preleção explicando porque não iria se deter no tema proposto (e repetido anualmente), qual seja, uma reflexão “sobre algum período ou períodos da literatura inglesa não anterior a Chaucer”. O autor começa exatamente relativizando qualquer possibilidade de limitar sua discussão à literatura inglesa, já que, argumenta, se a poesia inglesa não teme a ninguém, a ficção é menos exitosa: “não possui o que há de melhor até agora escrito e, se negarmos isso, seremos culpados de provincianismo”. Embora a condução das conferências se dê sempre com relação a alguma obra em língua inglesa, Forster estará acenando para o resto da Europa, lembrando escritos em outros idiomas. E como suas conclusões, na maior parte das vezes brilhantes, são universais, podemos dar como vencido por pontos o nosso primeiro leitor-tipo.
Enfrentemos, pois, o segundo. Forster continua sua explicação: “A idéia de um período no desenrolar do tempo, com sua conseqüente ênfase sobre influências e escolas, é exatamente o que espero evitar”. Aqui, o romancista britânico aponta para a sincronicidade das obras. “A História se desenvolve; a Arte permanece parada”. O que pode parecer paradoxal tem um sentido: os romancistas “procedem de diferentes épocas e posições, com temperamentos e objetivos diversos, mas todos têm uma pena entre os dedos e estão dentro de um processo de criação”. E continua: “um espelho não se aperfeiçoa porque um cortejo histórico passa à sua frente. Ele só melhora quando recebe uma nova camada de mercúrio — em outras palavras, quando adquire nova sensibilidade. E o sucesso de um romance está na sua própria sensibilidade, não no sucesso de seu assunto”. Como o conceito de sincronicidade coloca a criação literária “além do tempo”, cremos que podemos dar por vencido o segundo leitor-tipo. Agora, por nocaute técnico.
Ainda, antes de entrarmos de vez nos tópicos da conferência pronunciada por Forster, permita-me, leitor, mais uma pequena amostra da contemporaneidade de suas idéias. O ensaísta grita uma obviedade, mas, como todas as obviedades, poucos ouvem. “Os livros devem ser lidos; é a única maneira de descobrir o que eles contêm”. Há aqueles que acreditam piamente que não importa o que os livros contêm, mas de onde eles emanam. A esses, Forster contraporia, com humor: “Algumas tribos selvagens comem-nos [os livros], mas lê-los é ainda o único método de assimilação revelado ao Ocidente”.
Um romance, afirma Forster, é uma ficção em prosa com não menos de 50 mil palavras. Ele mesmo admite tratar-se de uma definição pouco filosófica, mas não se atém a esse ponto. Os “aspectos” — “porque não é científico, é vago” — que ele vai discutir são: estória, pessoas, enredo, fantasia, profecia e padrão e ritmo.
A estória — aspecto fundamental do romance — é “uma narrativa de acontecimentos dispostos em sua seqüência no tempo”. E, nesse sentido, a estória imita a vida diária: pensamos num acontecimento como ocorrido antes ou depois de outro. “O pensamento está quase sempre em nossas mentes e muito de nossa conversa e ação baseia-se nessa suposição”. Mas, afirma Forster, parece haver algo mais na vida além do tempo, o “valor”, mensurável não por minutos, mas pela intensidade. E o que um bom romance faz é, concomitantemente, narrar a vida no tempo, incluindo a vida dos valores. Além disso, o autor chama a atenção para a estória como repositório de uma voz. “O que a estória realmente faz nesta função particular, tudo o que pode fazer, é transformar-nos de leitores em ouvintes, para os quais ‘uma’ voz fala, a voz do narrador da tribo, agachado no meio da caverna, e dizendo uma coisa depois da outra até que o auditório adormeça entre seus despojos e ossos.”
As pessoas — “os protagonistas numa estória” — podem ser planas ou redondas. Este parece ser o conceito de Forster mais difundido e talvez, ainda assim, não de todo compreendido. Partindo do pressuposto, citado do filósofo francês Alain, de que, enquanto a História enfatiza as causas externas que determinam a ação dos homens — a noção de fatalidade —, no romance tudo se fundamenta na natureza humana, “e a sensação dominante é de uma existência onde tudo é intencional, até as paixões e crimes, até a miséria”. Ou, em outras palavras, “a ficção é mais verdadeira que a história, pois vai além dos fatos comprovados, e cada um de nós sabe, pela própria experiência, que existe algo além dos fatos”.
Então, Forster divide as personagens em “planas” — que podem ser expressas por uma só frase, porque são construídas ao redor de uma única idéia ou qualidade — ou “redondas”, quando construídas ao redor de mais de um fator. Ou, em outras palavras, se ela “é capaz de surpreender de modo convincente”, é redonda; “se ela nunca surpreende”, é plana; se não convence, “é plana pretendendo ser redonda”. Agora, mesmo admitindo que as pessoas planas não são, em si, realizações tão notáveis quanto as redondas, Forster é categórico em afirmar que “o romance que tem alguma complexidade requer com freqüência gente ‘plana’, tanto quanto ‘redonda’ e o resultado de seu entrechoque assemelha-se à vida com maior exatidão”.
Tendo estudado a estória e as personagens, chegamos ao enredo. Na definição de Forster, como a estória, o enredo é uma narrativa de acontecimentos, cuja ênfase recai na causalidade. Uma estória se mantém equilibrando-se na curiosidade. Mas um enredo requer inteligência e memória. “A memória e a inteligência estão intimamente relacionadas, pois se não lembramos não podemos compreender”. E aqui desponta a contemporaneidade de Forster. Depois de definir o enredo, o romancista aponta o seu grande defeito: a exigência de remate. “Não fosse pela morte ou casamento, não sei como o romancista médio concluiria. Morte e casamento são quase a única ligação entre as suas personagens e o enredo”. E antecipa indagações que permeariam todo o resto do século 20: a estrutura produzida nesses termos é a melhor possível para um romance? Por que o romance tem que ser planejado? Por que precisa ter fecho? Não pode ser deixado em aberto?
Até aqui então, resumidamente, os instrumentos propostos por Forster para uma aproximação da forma do romance são: “curiosidade para a estória” — ou, ‘o que vem a seguir’; “sentimentos humanos e senso de valor para as personagens” — ou, a ocorrência de personagens ‘planas’ ou ‘redondas’; “inteligência e memória para o enredo” — ou, o ‘por quê’. Esses tópicos encaminham-nos para a Beleza, “a que o romancista nunca deveria aspirar, embora fracasse se não chega a atingi-la”. Talvez, seja essa a espinha dorsal da poética do romance perseguida por Forster. Os itens “fantasia” e “profecia” extrapolam o conceito básico e os “padrão e ritmo” não chegam a constituir-se como definições.
Logo na primeira conferência, Forster afirma que o romance — “uma das áreas mais úmidas da literatura” — está cercado por duas cadeias de montanha — a Poesia e a História — e limitado por um mar, que ele não denomina. E não o faz porque, considerando suas próprias indagações, poderíamos compreender o “mar” como a vastidão da Metafísica, habitado por uns poucos autores que, desvencilhando-se da condição de narrador, atingem o papel de profetas. E quais seriam as características intrínsecas da literatura profética? Requer humildade e ausência de sense of humour; atinge mais fundo; é espasmodicamente realista; nos dá a sensação de uma canção ou de um som; sua face volta-se em direção à unidade; e sua confusão é incidental. O grande nome, para Forster, da literatura profética é Hermann Melville. Dostoievski, Emily Brontë e D. H. Lawrence, cada um em sua especificidade, são outros autores lembrados pelo ensaísta.
A fantasia — um tom abaixo da profecia — é assim identificada por Forster: onde os outros romancistas dizem, ‘aqui está algo que poderia ocorrer em suas vidas’, o fantasista diz, ‘eis algo que não poderia ocorrer em suas vidas’. “O poder da fantasia penetra em cada canto do universo, mas não nas forças que o governam”. Para separar a fantasia da profecia, o ensaísta socorre-se de James Joyce. “Joyce tem muitas qualidades afins à profecia. Mostrou uma apreensão imaginativa do mal. Mas solapa o universo muito como um operário procurando esta ou aquela ferramenta ao redor; apesar de toda a sua frouxidão interior, é muito tenso; nunca é vago, exceto após devida reflexão. É conversa e conversa, nunca canção”.
Finalmente, Forster tenta definir dois conceitos, para ele importantes na compreensão do romance: padrão (emprestado da pintura) e ritmo (importado da música). O padrão, argumenta, nasce principalmente do enredo: “acompanha-o como a luz nas nuvens e permanece visível depois de sua partida. A beleza algumas vezes é a forma do livro, o livro como um todo, a unidade, e nosso exame seria mais fácil se fosse sempre assim. Mas, às vezes, não é. Quando não é, chama-lo-ei de ritmo”. Ou seja, o ritmo seria, nesse caso, repetição mais variação.
Cremos que, chegados ao fim, perdurem dúvidas e temas obscuros, lacunas e conceitos falhos. Mas, não é assim também a vida?
* Texto publicado mediante autorização da Editora Globo S/A, que detém os direitos.