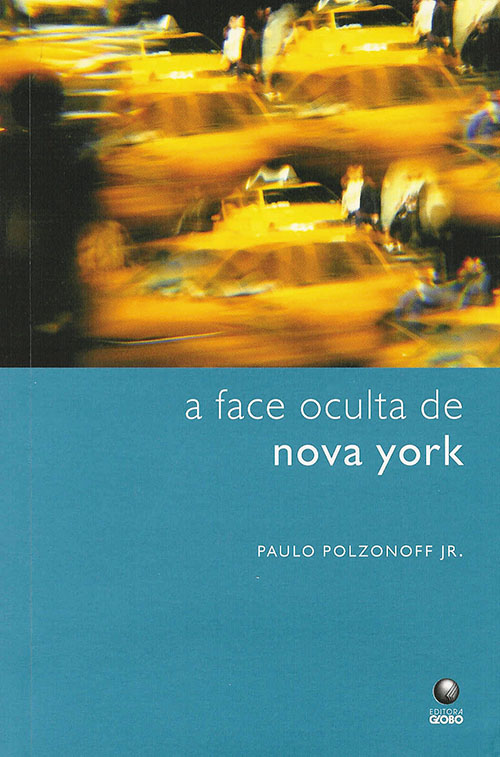Muita gente vai odiar A face oculta de Nova York, de Paulo Polzonoff Jr. Porque o livro é bom. Ex-colaborador assíduo deste Rascunho, Polzonoff fez uma coleção de inimigos com suas críticas ácidas e sinceras. A maioria deve estar sempre aguardando com ansiedade para vê-lo do outro lado do teclado, para devolver as críticas. Vão ter de esperar mais um pouco. Nestas 16 crônicas sobre Nova York, Polzonoff não dá muito espaço para os adversários.
Um dos grandes trunfos do livro é a despretensão. Ao morar cerca de um ano na cidade americana, o autor não mostra deslumbramento. Ao contrário, colocou no papel uma Nova York que não é aquela geralmente encontrada em guias turísticos e cartões-postais. Com olhar aguçado e habilidade na escrita, Polzonoff descreve Nova York não exatamente como um visitante, mas pela visão de um morador. Ainda que um morador recente, o autor conseguiu reunir aspectos interessantes, líricos e curiosos do dia-a-dia na cidade.
Na crônica Histórias dos bancos de Nova York, Polzonoff dimensiona a importância do Central Park, não para o mundo, mas para os nova-iorquinos. Que o Central Park é o parque mais famoso do planeta todos sabem. Que existe um programa na cidade que permite aos moradores colocar placas com mensagens nos bancos, algumas pessoas sabem. Mas coube a Polzonoff ficar intrigado, pesquisar e fotografar as placas, para mostrar em uma crônica poética uma seleção representativa do conceito do programa.
As placas homenageiam pessoas que já se foram, saúdam recém-nascidos, trazem mensagens cifradas, anônimas, de júbilo ao parque, à cidade e à vida. Uma delas diz, simplesmente, “Thanks”. As placas não têm finalidade comercial ou de propaganda. Obviamente que as pessoas pagam — de 7 mil a 25 mil dólares — para colocar as mensagens. Pode parecer um valor elevado para os padrões brasileiros, mas, para um nova-iorquino, não é um investimento exagerado para se eternizar uma mensagem pessoal no espaço mais bonito e importante da cidade.
Sim, Polzonoff também circulou pelos cartões-postais de Nova York. Além do Central Park, as crônicas falam do Museu de História Natural, da Times Square, do Museu Metropolitano de Arte e do Marco Zero no World Trade Center. Mas Polzonoff não foi a estes lugares para bater fotos. No Museu de História Natural, o brasileiro descobriu uma realidade que a vivência no exterior revela: o Brasil não tem importância. Em Uma noção da desimportância, ele relata sua indignação ao perceber que o mapa da América do Sul está errado, mostrando uma Amazônia que vai da Venezuela ao Paraná. Se o erro já soa imperdoável para um museu tão renomado, pior ainda é a indiferença dos funcionários com a reclamação de Polzonoff e de outros visitantes. “O bom da desimportância é que, uma vez que você a compreende, tudo começa a ganhar contornos menos pomposos. A raiva é aplacada por uma espécie de resignação sábia”, escreve.
Para ir à Times Square, Polzonoff escolheu uma data significativa, o Dia da Vitória no Japão, 15 de agosto, em celebração à vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Uma promoção convocava os nova-iorquinos a reproduzir coletivamente na praça a famosa foto do beijo da enfermeira e do marinheiro. A primeira decepção do autor é em relação ao público, muito inferior aos milhões que ele esperava. Depois, Polzonoff constata que muitas pessoas que passam pelo local nem sabem o que é o Dia da Vitória. Mas o cronista ainda descobre um instante amoroso de um casal de velhos que transforma o dia em uma conquista pessoal. Em outra passagem pela Times Square, Polzonoff observa a futilidade de um símbolo local, o Caubói Pelado, que nada mais é que um caipira de cueca, e mesmo assim vira atração turística. “Nada poderia personificar melhor o lugar do que o Caubói Pelado. Eu disse nada, e não ninguém, porque ele é uma coisa. Um símbolo da vulgaridade que os orientais vêem como exotismo, mas que é só vulgaridade mesmo.”
Birra com turistas
Polzonoff, morador de Nova York, desenvolve uma grande birra com os turistas, e com razão. Ele não se conforma com pessoas que atravessam oceanos para tirar fotos sorridentes com um falso caubói; no Marco Zero do World Trade Center; ou à frente de telas famosas do Museu Metropolitano.
A ida ao Marco Zero é um momento especial, afinal, é o local que traumatizou o mundo em 2001. Antes de chegar ao terreno, Polzonoff deixa a sensibilidade aflorar. Na igreja Saint Paul, que abrigou durante oito meses as equipes de resgate, ele sente o luto da tragédia, mas se impressiona mesmo é com o prédio de 1776 e sua história, enquanto os turistas fotografam mensagens do 11 de Setembro. Quando chega ao Marco Zero, Polzonoff se irrita definitivamente com os visitantes que abrem um sorriso para fotos com a cratera trágica ao fundo.
O que aquele sorriso, afinal, significa? Será que estas pessoas realmente ficam felizes diante do lugar onde morreram 3 mil pessoas? Será que se sentem especiais por estar num lugar que, assim como Hiroshima e Auschwitz, é uma das provas máximas da intolerância e brutalidade?
Na ida ao Museu Metropolitano, Polzonoff enreda pelo fantástico, convidando o fantasma de Paulo Francis para o passeio. Os dois não se conformam com as brasileiras que se julgam espertas ao pagar apenas alguns centavos pela entrada. Somente à entrada do museu as duas meninas descobrem que o preço de 20 dólares é apenas sugerido, e não obrigatório. A visita das garotas, assim como a de muitas pessoas, acaba valendo mesmo apenas alguns centavos. “A maioria das pessoas entrava na sala, sacava a máquina fotográfica do bolso, tirava uma foto do Van Gogh e, sem ao menos dar uma olhadinha na obra do artista, ia embora.”
Com exceção do Central Park, é fora do roteiro turístico que está o melhor de A face oculta… Polzonoff faz mais revelações ao falar da vida literária e das livrarias de Nova York, dos solitários numa cidade de milhões de habitantes, do racismo, da gastronomia e do medo do terrorismo. Ele também faz improváveis visitas a lugares como cemitérios, ao parque de Coney Island e aos zoológicos da cidade. No cemitério Woodlawn, no Bronx, Polzonoff descobre os túmulos de Miles Davis, Irving Berlin e Duke Ellington. Em Coney Island, onde esperava divertir-se na outrora famosa montanha-russa Cyclone, o autor constata que um lugar que alimentava fantasias nas décadas de 30 a 50 está abandonado, e que nem era assim tão espetacular.
Nos zoológicos de Nova York, Polzonoff redescobre-se na infância, não sem destacar os conceitos modernos dos zôos, com recintos confortáveis e de características naturais para os animais. A empolgação do cronista com os zoológicos é tanta que ele sofre reclamação de uma amiga em relação ao papel de Polzonoff como guia. “Eu não vim a Nova York para ver bicho”, diz a hóspede. É mesmo um exagero de Polzonoff levar turistas ao zoológico, mas a crônica serve como um lembrete de que uma visita ao zôo (em nossas cidades, obviamente), sempre pode ser prazerosa.
Outro exagero de Polzonoff é em relação aos imigrantes brasileiros, na crônica Uma visita ao Brasil – sil – sil. O autor tem experiências insólitas em dois mercados brasileiros, onde não é tratado com a polidez habitual do comércio americano. Num deles, Polzonoff não se conforma que o som ambiente seja Bruno & Marrone.
Eu já havia reparado nisso: a arrogância dos brasileiros que vieram para os Estados Unidos para fazer a vida. Não é algo muito fácil de descrever, embora seja facílimo de detectar. É um modo de arrebitar o nariz e de achar-se infinitamente especial. É um modo de sentir-se superior aos da sua terra.
O cronista se precipita ao julgar, por apenas alguns exemplos, os mais de 600 mil imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Muitos deles, com certeza, numa avaliação rápida, também achariam incompreensível Polzonoff ir morar um tempo na América e levar duas gatas no avião.
Este deslize é insuficiente para que os antigos inimigos possam falar mal das crônicas de Polzonoff. Naturalmente, eles também vão dizer que a introdução justificando o livro é desnecessária, que a orelha bajulatória é constrangedora e que as fotos dos bancos do Central Park são de má qualidade. Mas nada disso tira os méritos do livro de ser divertido, revelador e corretamente escrito. Até o crítico Paulo Polzonoff Jr. falaria bem de A face oculta de Nova York.