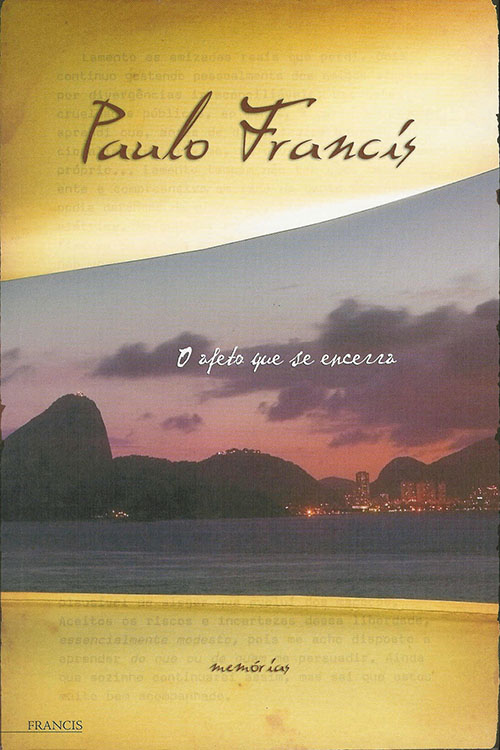Paulo Francis foi, é bem provável, o mais conhecido, temido e influente jornalista brasileiro das últimas décadas. Em suas muitas décadas de atuação na imprensa nacional, angariou tanto bons amigos quanto inimigos ferozes. E por mais que os últimos talvez estejam em maior número, não deixa de ser incrível a quantidade de seguidores que Francis gerou. E aqui é preciso fazer uma justa divisão entre os que foram apenas influenciados — entre eles vários profissionais que hoje atuam na grande imprensa —, absorvendo suas melhores qualidades sem, no entanto, depender somente delas, daqueles que não fazem mais do que macaquear o estilo de Francis. Um estilo tão característico que é fácil cair no ridículo ao tentar emulá-lo.
E foram várias as suas facetas. O incisivo crítico de teatro que chegou ao limite da agressão física por seus veredictos demolidores. O editor de saudosos e infelizmente efêmeros suplementos culturais. O editorialista anônimo que provocou quedas de gente de alto escalão em plena ditadura. O esquerdista que acabou preso e, mais tarde, preferiu se refugiar em Nova York, onde viveu até sua morte, em 1997. O ensaísta que utilizou sua bagagem aparentemente ilimitada para desenvolver longos textos. O “traidor” que abandonou as raízes marxistas para correr radicalmente à direita e, de lá, prever com lucidez muito do que se faria no Brasil anos depois. O comentarista dos principais telejornais do Brasil. O hilário debatedor do Manhattan Connection.
Dessas facetas todas, uma parece brilhar com um pouco mais de força. A do Paulo Francis colunista de jornal, que com seu Diário da Corte formou intelectualmente toda uma geração de jornalistas, futuros críticos ou mesmo simples apaixonados pela leitura com suas tiradas certeiras, análises imprevisíveis e afirmações contraditórias. Talvez o que mais encantasse no Diário da Corte fosse a sua ligeireza, o espírito de urgência que transmitia, a ponto da coluna trazer um punhado de errinhos de informação e grafia, tamanha era a velocidade com que o jornalista escrevia as notas, sem preocupação com a checagem. Um estilo próprio, burilado por anos e imitado com fracasso por blogueiros que acreditam que, para ser pertinente, basta atacar a tudo e revestir-se de cinismo e ironia para obscurecer a falta de argumentos nos tais ataques.
A única coisa a se lamentar da popularidade do formato de Diário da Corte é que talvez outros lados de Francis tenham, por fim, desaparecido. Brilhante nos raciocínios, ele tinha um tremendo potencial para desenvolver artigos mais longos. Sua linguagem era analítica, encorpada pelo passado de leituras e observações, mas ainda assim envolvente e simples, por capturar gírias, misturar expressões da cultura pop aos termos mais eruditos. Um cruzamento entre Edmund Wilson, H. L. Mencken e Kenneth Tynan, que infelizmente não teve seu potencial aproveitado. Os exemplares das tão comentadas revistas Senhor e Diners nunca saíram em livro. Algumas coletâneas de ensaios que Francis editou nas décadas de 80 e 90 são encontráveis em poucos sebos. Uma chance de resgatar esse Paulo Francis dado às longas digressões chegou com a reedição de O afeto que se encerra, mistura de memórias pessoais e profissionais lançada em 1980. O livro traz todas essas qualidades citadas e ainda uma ternura (afeto?) que provam que Francis não era só virulência: havia também o homem sossegado, que preferia ignorar os detratores a dar voz a eles, que assumia erros e pedia desculpas por tê-los cometido (como no famoso caso de sua crítica à Tônia Carrero que resultou em sopapos com o marido dela e cusparada de Paulo Autran).
O rapaz que quis ser escritor após ler, aos 14 anos, Crime e castigo, não foi tão diferente dos outros, afinal. Vindo de família alemã, o pequeno Franz Paul Trannin da Matta Heilborn aprontou, brigou, jogou bola, quase fui expulso da escola. Nunca se deu bem com pai, era o favorito da mãe. E ainda que tenha lido compulsivamente desde cedo, não deixou de farrear: “lembro-me que bebíamos o dia inteiro, que havia sempre escravas brancas atendendo nossas variadas necessidades e que, inocentemente, nossa única droga era éter, ou quelene”. Essa curiosa dicotomia, entre o leitor de Huxley e Dostoiévski e o rapaz que “desvirtuou” um “número considerável de ‘meninas de família’” define O afeto que se encerra. Por todo o livro Francis passeia, de forma não-linear por temas sérios e banais. Vai, em poucos parágrafos, de comentários sobre os oftalmologistas (“dóceis servos dos fabricantes de muleta”) à utilização de análises de Freud sobre Shakespeare (Otelo) para explicar comportamentos familiares. Qualquer assunto pode servir de alvo para sua pena. Dessas digressões resultam desde aforismos até imagens engraçadas (“Adolpho [seu pai] era uma Eliza Doolittle de calças compridas”) e contradiz conceitos prontos (“Fomos, minha geração, a vanguarda da permissividade”, reclama, negando a suposta inovação dos jovens dos anos 60).
Transição política
O afeto que se encerra traz ainda Paulo Francis em um raro momento de transição política, planando entre a esquerda e a direita e reconhecendo as vantagens e desvantagens de cada uma. Sem dúvida já havia passado todo o furor comunista que havia motivado suas atitudes radicais e militantes na década de 60. Ainda se dizia um esquerdista de coração (trotskista, mais especificamente), mas as utopias já haviam ruído. Stálin já era lembrado como o monstro que conhecemos. Países como China e Cuba deram naquilo que bem sabemos… Francis reconhecia que, ainda que o marxismo seja “uma inestimável contribuição à nossa consciência”, já podia ver que “não é uma resposta a tudo e deixa muitas perguntas importantes irrespondidas”. Não que visse ao capitalismo como saída: dizia que seu fim parece certo. Nada mais distante do Francis que viria a defender as privatizações poucos anos depois, prevendo com absurda competência alguns caminhos políticos e econômicos brasileiros. E se acertou em casos como esse, também errou feio —como ao chamar Maluf de político moderno. Não deixa de ser engraçado, em O afeto que se encerra, vê-lo chamando Roberto Campos de “maior torturador e assassino da nossa História”. Mais tarde, Francis afirmou que a melhor herança de 1964 foi o crescimento político promovido por Campos. Uma semente do jornalista de direita, contudo, já estava em frases como “aprendo mais da morte da civilização burguesa no reacionário Eliot do que no revolucionário (um tanto relutante) Górki”.
A lamentar nessas memórias, apenas o rancor que Francis parece nutrir por causa da reação crítica a seus dois trabalhos de ficção, Cabeça de papel (1977) e Cabeça de negro (1979). Ele nunca deixou de acreditar que um dia vingaria como romancista, e esse pode ser um dos motivos pelos quais não desenvolveu tanto quanto poderia o seu lado ensaísta. Uma pena: poderia facilmente ter escrito algo do nível de O castelo de Axel (Edmund Wilson) ou A angústia da influência (Harold Bloom), se não tivesse perdido tanto tempo com romances medíocres e confusos e reclamando que os críticos não gostaram deles. Poderia inclusive ter engendrado uma carreira jornalística nos Estados Unidos (chega a citar oportunidades desperdiçadas no melhor veículo literário do planeta, o New York Review Of Books). Deixa estar: afinal, ainda há muito de Francis por se resgatar. Aguardamos com ansiedade que voltem às livrarias outros de seus textos longos. Principalmente os da época da Senhor.