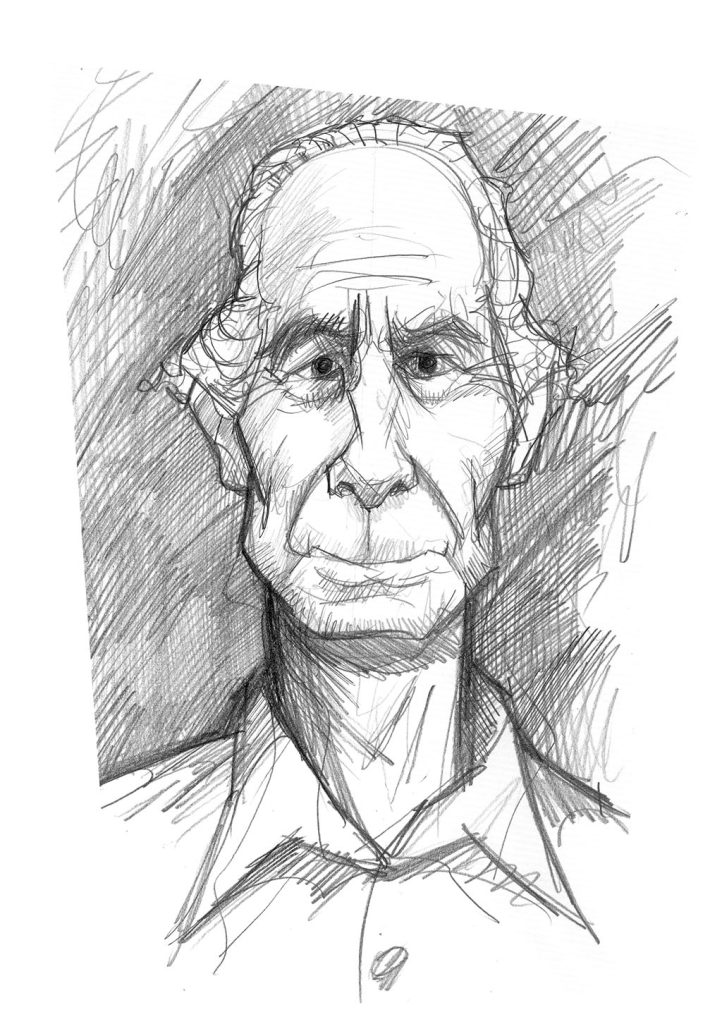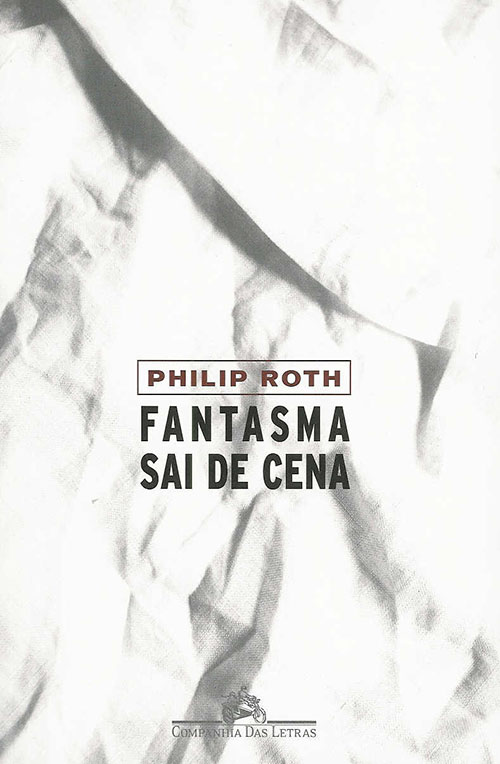Nesse momento Jamie entrou na linha. Eu devia ter desligado. Eu não devia ter telefonado. Eu devia fazer isso e não devia ter feito aquilo e agora eu devia fazer outra coisa! Mas era-me impossível controlar meus pensamentos a partir do momento em que o estímulo da voz de Jamie me atingia. Em vez de tentar me deslindar da catástrofe de acreditar que era possível modificar minha situação — a situação de quem sofreu uma alteração inalterável —, fiz o contrário, com o pensamento não no que eu era, e sim no que eu não era: o pensamento de quem ainda é capaz de enfrentar a vida de modo agressivo.
O parágrafo acima, colhido à página 266 de Fantasma sai de cena, é suficiente para fazer ver que este romance de Philip Roth só é de temática parcialmente similar à de Homem comum, romance que o precedeu. Dizer que ambos são obras sobre a inevitabilidade da decrepitude — desde, claro, que se viva o suficiente para vivenciá-la — é dar a Exist ghost uma qualidade que é só uma entre muitas outras suas, embora isso seja quase tudo na bela elegia em que se constitui Everyman. Porque Fantasma sai de cena vai além. E é preciso que digamos por quê.
Nathan Zuckerman — personagem de outros romances de Roth (a exemplo, O avesso da vida) e seu alter ego — é nas páginas de Fantasma sai de cena um escritor septuagenário, incontinente e impotente que deixou Nova York para viver em solidão nos montes Berkshire, onde passa dias sem encontrar com um humano sequer e sem proferir palavra alguma. É alguém que aceitou as limitações da idade avançada com a compreensão de que só assim poderá melhor viver o tempo que lhe resta e escrever. Trata-se de uma escolha, não mera resignação. Mas uma série de eventos instala uma tensão, estranha e tardia, na vida de Zuckerman: o suicídio de um novo vizinho que se fizera seu amigo, o metódico e prestativo Larry; o encontro com a antes bela e enérgica e, agora, apagada e enferma Amy Bellette, ex-amante de um escritor de sua admiração; a mudança para Nova York, iniciada com uma viagem em busca de tratamento médico para incontinência urinária[1]; e, sobretudo, a paixão por Jamie, que, com seu marido, planeja trocar de lar com Zuckerman, de modo que ele ficaria em seu apartamento em Nova York e, eles, na casa dos montes Beckshire. Este é o panorama, muito geral, em que se movimenta a trama curvilínea de Fantasma sai de cena. Todavia, seus movimentos acompanham o movimento mais íntimo de um desespero que se amplia, para além do simples confronto com a realidade do envelhecimento e da morte, até abarcar o terror do próprio vislumbre da juventude.
Porque o que Zuckerman padece não é só um esgotamento das forças que orientam sua virilidade e tudo mais que cotidianamente lhe restitui sua condição de homem. Não é só a gradativa e implacável percepção de que a velhice é o amplo e cruelmente iluminado átrio da morte em que se adentra com dolorosa compreensão de si e do que se lhe passa, compreensão essa de que o momento do fenecimento absoluto — a morte — é de todo carente. Pois é necessário lembrar a breve passagem de Wittgenstein em que o péssimo filósofo da linguagem se faz certeiro observador do Homem, este ser que costumava lhe parecer estranho: “A morte não é um momento da vida. A morte não pode ser vivida”. Zuckerman não é, em primeiro plano, um homem que em breve morrerá e que disso sabe. Não é alguém empenhado em chutar o pau da barraca da morte para ver se, afinal, ainda é possível sentir o rubro veludo da vida, porém o tateando de olhos cerrados, a fim de ludibriar-se sobre sua cor. Não é nada disso.
Dissolução e concentração
O principal aspecto de Fantasma sai de cena, aquele que o torna romance de primeira grandeza, é seu movimento entre os pólos das duas tenções que alimentam, respectivamente, a juventude e a senilidade: os pólos da dissolução e da concentração. Dedicar atenção ao que é secundário e nem mesmo esforçar-se para identificar o que seja o essencial, a fim de para ele voltar aquela atenção dissipada de forma imprudente — esse é o pólo da dissolução. Caracteriza-se pela pouca reflexão, pelo insuficiente acúmulo de experiências que permitam, via comparação, entrever uma hierarquia de ações e valores, restando claro quais são os que auxiliam a melhor viver. De outra ponta, o pólo da concentração é o lugar de onde o indivíduo se permite baixar o olhar à realidade em vôo rasante, porém sem pouso, mantendo-se a uma altura suficiente para que, à vista do primeiro indício de que algo poderá arrastar sua vontade do essencial para o secundário, retorne à altura na qual seu espírito é, mesmo que incompletamente, concentração[2].
Ora, nada é mais característico deste romance de Roth do que o desespero que, ocasionado pela irrupção do desejo de dissolução em um momento em que já se tem a alma habituada à concentração, se alastra em vertigem pela consciência de seu protagonista. Tal é o poder dessa vertigem, aliás, que ela não só o inquieta na impotência em que é fisiologicamente obrigado a viver, mas também nele opera mudança de hábitos, redireciona ideais. E dissolução, aqui, está intimamente ligada a Jamie[3], que se liga a Nova York, a qual remete ao retorno de Zuckerman a tudo que ele abandonara, incluídas, aqui, todas as possibilidades físicas — sobretudo sexuais — que a velhice lhe tirou. Dissolução, em suma, é uma das formas da esperança:
No interior, a minha esperança não sofria tentações. Eu já havia entrado num acordo com a esperança. Mas uma vez em Nova York, bastaram poucas horas para que Nova York fizesse o que ela costuma fazer com as pessoas — despertar suas possibilidades. A esperança irrompe.
Há, ainda, uma fina observação sobre o espírito humano que subjaz ao romance inteiro de Philip Roth. Da mesma maneira que a consciência necessita dispor de mil e uma intricadas técnicas para que, ao se debater contra a mentira, ponha à mostra todas os falsos entimemas nela embutidos[4], a dedicação da vida àquilo que lhe confere seu real sentido (no caso de Zuckerman, escrever e aceitar pacificamente a natureza da velhice) é incomparavelmente mais difícil de se conquistar do que de se perder. Esta é uma verdade enunciada de incontáveis modos no corpus bíblico e ao longo de toda a literatura francesa, que, para utilizar os termos de Albert Camus, possui em seus romancistas os indivíduos mais empenhados em escapar do cadafalso das paixões por meio da inteligência[5]. De fato, trata-se de algo raro na literatura norte-americana.
Lembremo-nos, portanto, do que nos ensina Philip Roth, Nathan Zuckerman e a fina trilha de urina que a incontinência urinária obriga este último a deixar, no lago em que se banha no verão, como uma nuvem que, ao se dissolver na água, nada pesa ao esforço despendido por Zuckerman em concentração. Lembremo-nos de que morrer talvez seja algo assombroso, mas envelhecer também tem lá seus dotes temíveis. Ou melhor: os tem sobretudo aquele envelhecimento que não dispensa alguma lucidez implacável.
Notas
[1] Em entrevistas, Roth já assumiu ser um escritor norte-americano tipicamente regionalista (quem quiser conhecer um dos momentos em que seu regionalismo se apresenta com virtuosismo descritivo, basta observar a Nova Jersey de Complô contra a América). Fantasma sai de cena, no entanto, sobrevoa essa tradição para filiar-se a outra: a do romance americano em que deslocamentos geográficos são acompanhados de gradativas mutações do espírito. É a tradição do Melville de Moby Dick, do Faulkner de O som e a fúria, do Henry Miller de A crucificação rosada e até mesmo dos suspeitos romances on the road.
[2] Se parecer a alguém que aqui se estabelece uma analogia entre vida intelectualmente plena (concentração) e vida intelectualmente problemática (dissolução), eis uma interpretação que não posso desautorizar. Claro que aí se localiza a inescapável natureza que Aristóteles credita ao homem, em sua necessidade de conhecer (Metafísica, § 1). No entanto, prefiro ainda recorrer a uma comparação que só parecerá arbitrária a quem não reconhecer o fundo temático que vai do poeta ao romancista, e que se deve considerar somente neste aspecto ora abordado: o fundo que vai de William Blake (1757-1827) a Philip Roth. Pois Blake foi o poeta que melhor espelhou as dualidades inocência/experiência e concentração/dissolução — embora o tenha feito de forma invertida, com infantes a conceberem o olhar que almeja ver the Garden of Love e, no entanto, se depara com tomb-stones where flowers should be. O fundamental é que a dissolução e a concentração são intercambiantes, aí residindo, inclusive, o problema que enfrenta Nathan Zuckerman. A canção que poderia constantemente soar aos ouvidos de Zuckerman é The Voice of the Anciente Bard (in Songs of Experience), até mesmo como remédio para que a “esperança juvenil” não irrompa:
Youth of delight, come hither,
And see the opening morn,
Image of truth new born.
Doubt is fled, and clouds of reason,
Dark disputes and artful teasing.
Folly is an endless maze,
Tangled roots perplex her ways.
How many have fallen there!
They stumble all night over bones of the dead,
And feel they know not what but care,
And wish to lead others, when they should be led.
[3] Há uma idéia fundamental que orienta os diálogos que Zuckerman escreve no quarto do hotel, após encontrar-se com Jamie, pondo sobre o papel tudo aquilo que gostaria de ter dito a ela e dela ter ouvido. É a idéia da literatura como possuidora de uma função reparadora, como um espaço em que o escritor poderá compensar determinados aspectos da realidade impossíveis de se confrontar de outra forma. O recurso, com artifícios muito curiosos, foi utilizado por Georges Perec em W ou a memória da infância (Companhia das Letras, 1995) e, mais recentemente, por Ian McEwan em Reparação (Companhia das Letras, 2008), para citar apenas dois exemplos. No entanto, vale lembrar que este artifício já foi levado às últimas conseqüências em obras fundantes da literatura moderna, a exemplo da Divina Comédia, na qual Dante concreciona seu repouso ao lado de Beatriz, factualmente impossível, no reino eterno.
[4] O que me leva a concordar com o juízo de que a mentira tem uma grande vantagem, dir-se-ia ontológica, sobre a verdade (Olavo de Carvalho, Como vencer um debate sem precisar ter razão: Comentários à “dialética erística” de Arthur Schopenhauer, Topbooks, 1997).
[5] “A inteligência e o cadafalso”, in A Inteligência e o Cadafalso e outros ensaios (Editora Record, 1998).