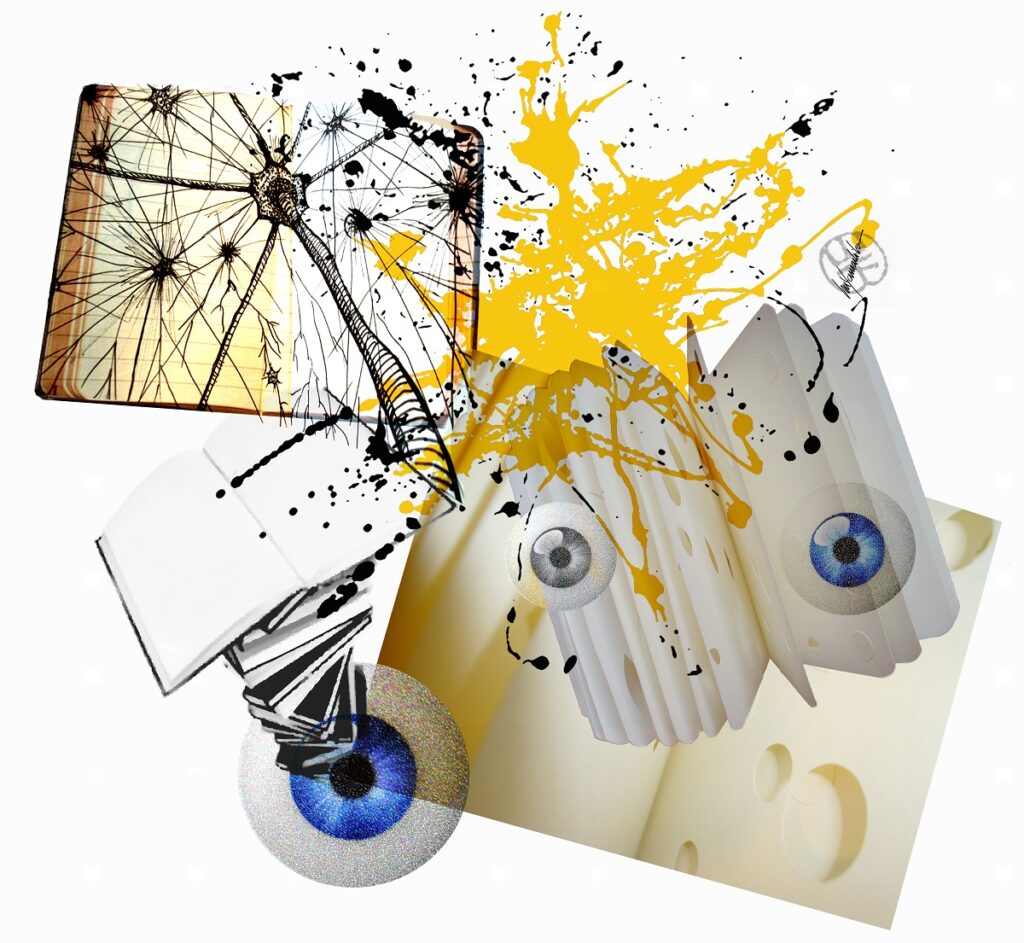O livro que nós não lemos não nos faz falta nenhuma.
A única besta integral é a que leu quarenta mil volumes.
Nelson Rodrigues
São considerados preocupantes os resultados da pesquisa, pelo IBGE, recentemente divulgada no documento Retratos da leitura no Brasil, em que, numa amostra representativa de 93% da população nacional, 56% dos entrevistados podem ser considerados leitores, isto é, declararam ter lido por inteiro ou em parte um livro nos últimos três meses anteriores à entrevista. E por quem e por que os resultados são considerados preocupantes? Quem tem tal preocupação são as elites culturais, segundo a qual, vejo-me obrigado a imaginar, deveríamos formar um conjunto de 207 milhões de leitores no Brasil. O porquê da inquietação das elites radica no quantitativo: 44% dos brasileiros sequer manusearam um livro nos últimos três meses, e se presume que cada membro de um grupo humano que não tenha o hábito de ler livros seria alguém incapaz de estruturar uma análise crítica ou de ter discernimento para considerações morais e sociopolíticas básicas. Mas sobre o tema da leitura há aspectos que restam encobertos, porque analisá-los francamente implicaria inevitável deslize no considerado politicamente incorreto. Veja-se, por exemplo, que permanece não formulada, por consequência não respondida, a indagação: o que precisamente é ser leitor? Mas a intenção aqui não é a de delinear a resposta.
Em primeiro lugar, mas apenas de passagem, a informação da pesquisa sobre a falta de hábito de leitura entre os brasileiros talvez contribua para, neste momento do País, se entender melhor os nossos Parlamento e Executivo, em Brasília: aqueles personagens, lamentáveis em sua maioria, expressando-se, como se pode ver fartamente nas mídias em tempos atuais, num psitacismo recheado de solecismos, constituem esboço da formação educacional-cultural do povo brasileiro e, portanto, não surpreende: o padrão de discernimento e de respeito público das ditas autoridades dos poderes públicos é tão lastimável quanto os padrões de ensino escolar a que é submetida a nossa população, condição precisamente determinante para que sufraguem esses eleitos. Por outro lado, acontece que esse povo está mesmo é preocupado com o seu dia a dia, com as aporrinhações do trabalho aborrecente, com a criação dos filhos, com as inesgotáveis contas a pagar. Diante duma vida dessas, poderia alguém pensar em leitura de livros? Só uma elite cultural leviana consegue acreditar que sim.
O pensador contemporâneo George Steiner (1929), no ensaio O silêncio dos livros (revista Serrote, #17, 2014), diz que a maioria da humanidade não lê livros; mas que qualquer pessoa e em qualquer recanto do mundo, canta ou dança. A leitura, então, aparece como prática de alguns; os demais restariam supostamente condenados a uma cosmovisão míope pela ausência dos livros em suas vidas. O argentino Jorge Luis Borges, num dos ensaios de Siete noches (Fondo de Cultura Económica, 1980), diz que não existe leitura obrigatória; como não existe felicidade obrigatória. Já o nosso Nelson Rodrigues manifestava que “O livro que nós não lemos não nos faz falta nenhuma. A única besta integral é a que leu quarenta mil volumes” (Nelson Rodrigues por ele mesmo, Nova Fronteira, 2012).
Acontece que esse povo está mesmo é preocupado com o seu dia a dia, com as aporrinhações do trabalho aborrecente, com a criação dos filhos, com as inesgotáveis contas a pagar. Diante duma vida dessas, poderia alguém pensar em leitura de livros? Só uma elite cultural leviana consegue acreditar que sim.
No final dos anos 1980 e nos 1990, meus colegas professores em escolas de ensino secundário das disciplinas Língua Portuguesa e Literatura lamuriavam-se durante conversas de sala de professores que alunos pré-vestibulandos de então não conseguiam expressar por escrito ideias de forma coerente, que, cada vez mais, os escritos por eles vinham com todo tipo de erros e desprovidos de estrutura; os de Literatura reclamavam que as obras ficcionais básicas que recomendavam como leitura obrigatória — Machado, Lima Barreto, Erico Verissimo, Jorge Amado — não eram lidas, ou, na melhor das hipóteses, treslidas em parte. Já os mestres que tentavam ensinar as matemáticas, vociferavam que havia alunos pré-vestibulares que não sabiam dividir frações ordinárias. A voz geral entre nós, mestres-escolas, era que daquelas classes sairiam inaptos rumo às universidades. Diga-se, entretanto, que esses estudantes que nos chegavam já eram fruto dos anos anteriores em uma escola romântica ou sentimentalista, desenhada por pedagogos que acreditavam (creio que eles ainda acreditam) que desde a pré-escola se deveria manter o educando livre para fazer a suas próprias “descobertas” que resultariam no aprendizado. Nas palavras do psiquiatra e ensaísta britânico Thodore Dalrymple em Podres de mimados (É Realizações, 2015) a prática de tal pedagogia consistiria, por exemplo, em “colocar uma criança debaixo de uma macieira e esperar que ela chegue à teoria da gravidade”. Mais: “educar passou a ser impedir a educação”.
Imagino que hoje essa gente egressa daquela escola, portando o resultado dessas teorias educacionais, ande por aí, atuando profissionalmente, com idade chegando quase aos cinquenta, vivendo seu ramerrão de trabalho, procurando manter o sustento, terminando de criar os filhos, pagando contas, ainda que permanecendo sem saber dividir frações ordinárias e sem ler os livros fundamentais recomendados pelos antigos professores e, agora, pela elite cultural. Então, fico às vezes a conjecturar se nós, aqueles professores secundários, tínhamos razão em nossa detração a respeito do desinteresse do alunado. Será que com o passar da vida eles terão aprendido na marra, no fazer profissional cotidiano ao procurar fazê-lo bem feito, ou andarão por aí, com o fruto da pedagogia sentimentalista e do desinteresse escolar de que antanho os acusávamos, a cometer malfeitos, do tipo daqueles que resulta na queda das pontes e da qual o culpado é o “sistema”? Ou mais: será que estávamos equivocados e aqueles lero-leros, que enunciávamos todos bacanas nas salas de aulas, não teriam mesmo era serventia significativa na rudeza da vida?
A chamada elite cultural — essa que diz que ler livros é essencial — segundo o mesmo Steiner, em sua autobiografia Errata (Relógio D’Água Editores, 2009), constitui menos de cinco por cento da humanidade: “O (triste) fato é que noventa e cinco por cento ou mais da humanidade vive, de forma mais ou menos satisfatória ou penosa, sem o mais pequeno interesse pelas fugas de Bach, pelo a priori sintético de Kant, ou pelo último Teorema de Fermat. […] É um fato incontornável que para a quase totalidade do homo sapiens sapiens o atual credo mundial é o futebol”. Note-se que sua consideração é universal, e não local. Nesse número mínimo dos bem-pensantes, há alguns poucos possuidores de talento criativo para as letras, as artes, as ciências. A capacidade criativa da criatura humana é limitada, o que mais se faz é repetir com variações retóricas ou outros marcadores semióticos, o que já foi dito, estruturado, produzido. O homem copia o homem, terá mencionado alguém. Einstein já estava velho quando comentou que em sua vida teve apenas duas ideias originais. Os grandes pensadores, ao cabo, dedicaram-se apenas a circunscrever um mesmo tema. As grandes “decisões” ou criações, que mudaram os rumos do viver humano, são creditadas a poucos: a maioria vive o seu medíocre viver controlando o passar das horas, muitas vezes de modo enfatuado e com ademanes.
À educação escolarizada compete formar criaturas aptas para bem viver, para bem discernir; mas não formar leitores, ou artistas, ou atletas. Assim como apenas uma minoria nutre o hábito da prática esportiva continuada, igualmente uma minoria, como diz Steiner, será de leitores de livros. Não se obriga ninguém a ler, como não se obriga ninguém a dormir.