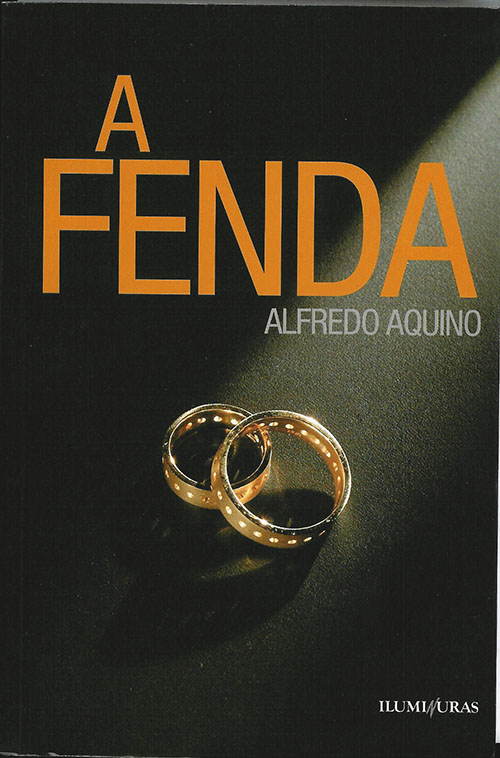Conto é tudo aquilo que chamamos de conto. A definição de Mário de Andrade para este complexo fazer literário, de tão repetida, transformou-se em um quase adágio popular. No entanto, mantém-se atualíssima. No espaço do conto cabe tudo, da crônica à poesia, passando por história, sociologia — uma lista quase infinda. Isso abre as veredas do gênero para os escritores em formação. Daí decorrem ensaios que muitas vezes não chegam à estréia definitiva.
A leitura do volume de contos A fenda mostra que seu autor, Alfredo Aquino, é um escritor em formação. Como em qualquer baralho, esta também é uma carta de duas faces. A boa nova é que ela traz em si a dimensão do coringa, daquela carta que transita por todas as jogadas. Alfredo usa todos os elementos ao seu alcance para escrever seus textos. Das teorias estéticas à história. A face contrária, por sua vez, denuncia a falta de uma embocadura narrativa do autor que, por vezes, nos oferece um final frouxo, deixando no leitor uma estranha sensação de inconclusão.
Passado esse susto inicial, fica do livro um muito bem delineado painel das relações humanas. Neste ponto, o texto se engrandece, sobretudo, quando trata da solidão. Praticamente todos os personagens que caminham por estas linhas são seres solitários. Cada um traz em si uma mania, uma quase obsessão. Deste ponto de partida, Aquino vai descrevendo a apreensão diante do inusitado da vida.
Um bom exemplo pode ser tirado do conto que abre o volume, A caverna. Por contingências de trabalho, dois solitários se encontram nos corredores isolados de uma fundação instalada numa cidade do interior. Acometidos por uma súbita e incontrolável paixão casam-se e são felizes para sempre. O conto de fadas é apenas aparente. Mesmo vivendo juntos, eles preservam uma solidão agora vivida a dois. Desenvolvem códigos particulares e passam a se bastar.
Outro conto, Os dois, vai mais fundo, descrevendo a solidão a dois de maneira bem mais ferina. O enredo conta da convivência entre pai e filho. Chamam-se Cláudio, têm uma diferença de vinte e cinco anos na idade e se irmanam nas perdas. O tempo furta-lhes amigos e sentidos. Em troca oferece solidão e uma profunda melancolia. E aí o final se direciona para a dolorida incapacidade humana de moldar os próprios destinos.
Há no livro uma certa padronização de cenários, ou pelo menos uma intenção disso. Praticamente todos os contos ocorrem em cidades do interior, em cidades marcadas pela falta de ação. São quase todas comunidades paradas no tempo, isoladas em seus preconceitos e medos. Mesmo a Paris onde Cayetano Pires Roitman, protagonista do conto Cidades trocadas, encontra “um velho mapa cartográfico do litoral da América Meridional” é uma cidade provinciana.
Este apego às cidades periféricas denuncia uma metáfora da solidão. Outra vez, estamos diante das impossibilidades culturais que fermentam neuroses, medos e, claro, recalques que empobrecem espiritualmente os homens. Pode até parecer uma leitura niilista do mundo, uma leitura em que todas as letras levam à depressão. No entanto, não deixa de ser esta uma visão pensada, nascida em horas de meditação sobre a função natural dos homens. Isso, de sorte, é uma das mais caras utilidades da literatura.
Tudo isso faria de A fenda um livro surpreendentemente bom, mas ele se perde na construção da narrativa e na utilização da linguagem. Existem momentos verdadeiramente brilhantes, nos quais a linguagem deitasse por uma poesia intensa e não piegas. “Ali não havia futuro para ninguém, um lugar onde se vivia com o que se comia, daí o sucesso de tempo finito para os restaurantes de peixes e mariscos. Um local de férias paralisante, terminal, para se morrer aos poucos, de tédio”, escreve no conto O vulto de T-shirt laranja.
Em outros momentos, a linguagem se vale de frases óbvias, chavões que, evitados, poderiam dar uma boa unidade qualitativa à literatura do autor. Um exemplo? “Ele jamais perguntou seu nome e o que ela fazia. Isso não significava desinteresse, ao contrário, o interesse era grande e tinha um foco, fazia amor com ela inventando jeitos, buscando ser o mais louco e radical possível, passava-lhe uma postura de fervor e devoção que ela reconhecia e apreciava”, está dito em Anônimo noturno.
Quanto à construção narrativa, parece haver no escritor uma incontrolável ânsia de situar o leitor no ambiente vivido pelo personagem. Com isso, Aquino se estende em descrições desnecessárias e se obriga a cortes bruscos. Os textos ficam soltos. Não há um chamado à cumplicidade do leitor com o autor. É como se Aquino privasse o leitor de construir a narrativa com ele. E, assim, ele renuncia a um dos mais intensos encantos da literatura — a transposição de quem lê para outras fronteiras.
Alfredo Aquino, enfim, sabe o que deve ser dito, apenas não aprimorou ainda a forma do dizer. Nada que a prática narrativa não corrija em um escritor em formação.