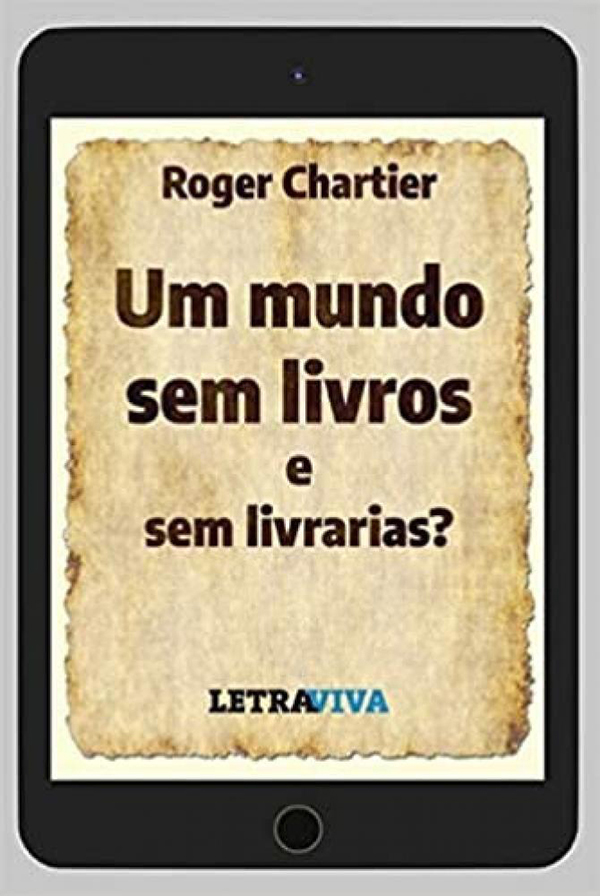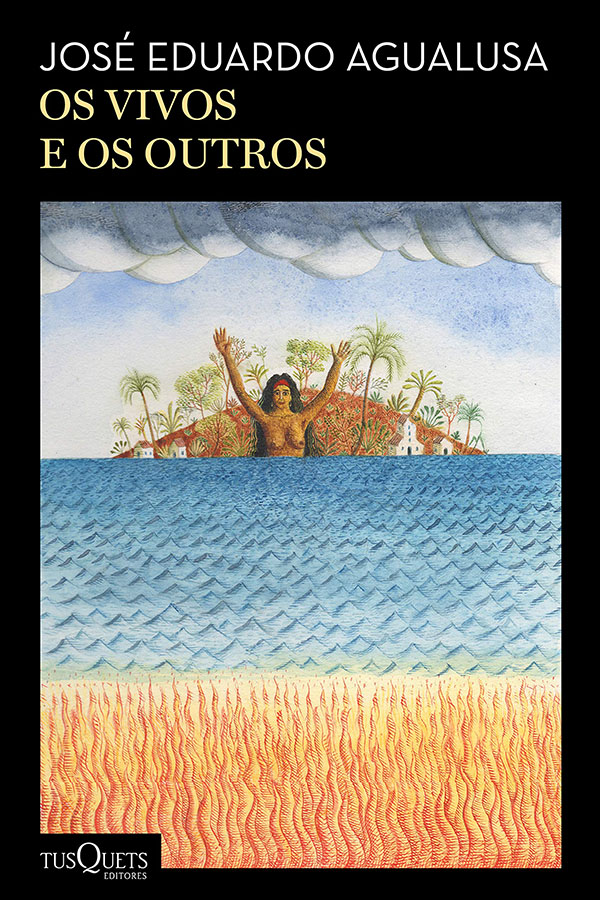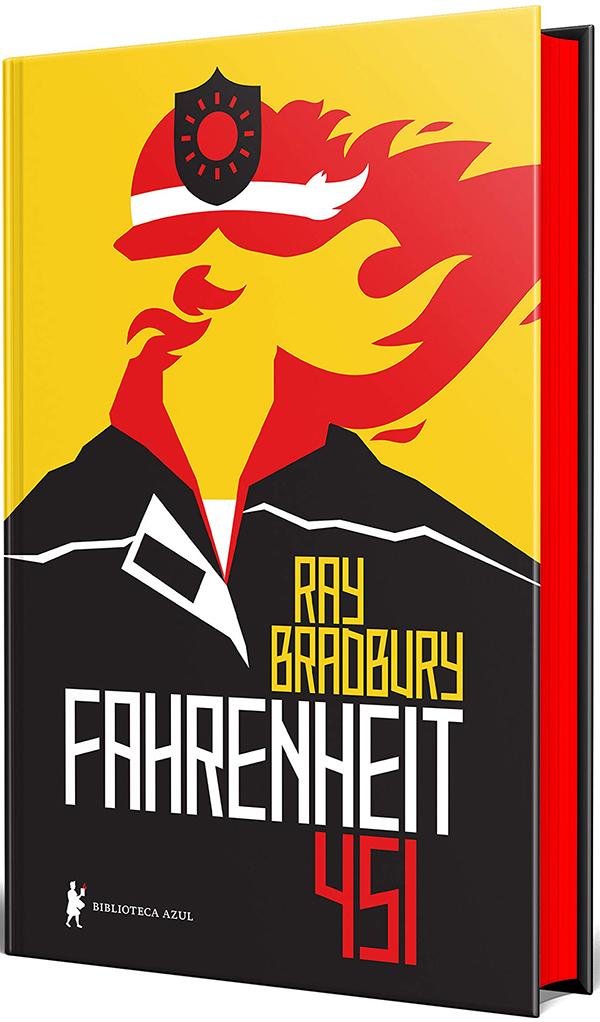O cheiro peculiar das folhas impressas atiça a imaginação que ainda nem sabe o que vai encontrar quando o olhar pousar sobre as páginas preenchidas com símbolos dispostos em linhas sequenciais. Mesmo ao leitor desatento do ritual, o gesto simples de abrir a encadernação onde palavras se abrigam guarda um significado no limiar entre a compreensão e o mistério. Como se a leitura fosse o desvendamento de algo além do que o encadeamento de letras dispõe, e a aproximação de imagens distantes efetuasse o transporte da mente consciente para longe do corpo que a retém. A tal distância o tempo deixa de ser sensação, transformando-se em percurso imperceptível, entre páginas tragado.
Desde muito antes de Gutemberg, o livro é um objeto metafísico. Os papiros egípcios lotavam a lendária biblioteca de Alexandria, três séculos antes de Cristo. Nos antigos pergaminhos dormem vestígios da comunicação humana. A partir da invenção da prensa, no século 15, a reprodutibilidade técnica permitiu a impressão dos livros, promovendo um salto no status da leitura no mundo, e a ampliação da leitura do mundo. A coisa nova que continha escritos abalava convicções, gerava perplexidades, cruzava a retina em alta velocidade. Como se encerrasse passes mágicos em seu conteúdo, ou desse vazão a saberes proibidos que tinham que permanecer ocultos da maioria. O livro era via de acesso ao poder, e por isso se restringiu, por muitos anos, a círculos limitados pela política e pela religião — ou ambas.
Banir publicações de circulação continua sendo o expediente clássico dos que enxergam nas páginas impressas uma ameaça concreta. O Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica, criado na Idade Média e em vigor até 1966, é lembrança obrigatória desse recorrente medo. O Index inspirou semelhantes iniciativas na Alemanha nazista, na extinta União Soviética, no Chile de Pinochet, na China do comunocapitalismo, no Kuwait, na Turquia e em muitos outros países no decorrer da história. No Brasil de 2021, a Fundação Palmares, do governo federal, divulgou sem o menor constrangimento uma lista de “livros comprobatórios do desvio de função da Fundação”, contendo títulos a serem excluídos da biblioteca, de autores como Tolstói, Max Weber, Simone de Beauvoir, Eric Hobsbawn, H. G. Wells e Celso Furtado, que fariam parte de uma “doutrinação marxista”. A lógica é a mesma de nazistas, comunistas e de qualquer cabresto totalitário que não admita outro pensamento a não ser o seu: livros são perigosos, e as pessoas são vulneráveis à leitura como aos vírus e bactérias.
Desde muito antes de Gutemberg, o livro é um objeto metafísico.
O expediente de reunir livros em fogueiras como símbolos derrotados por certa supremacia ideológica sugere o quanto a ideia do livro é mais poderosa do que o próprio. Para explorar um pouco o alcance desse poder, vamos passear pelas páginas de três lançamentos recentes: Um mundo sem livros e sem livrarias?, coletânea de artigos de Roger Chartier, Os vivos e os outros, novo romance de José Eduardo Agualusa, e a edição de luxo de Fahrenheit 451, clássico distópico de Ray Bradbury.
Ideologia do papel
Na pergunta que lança o horror de um mundo sem livros e sem livrarias, o historiador Roger Chartier assume com a habitual maestria a importância do suporte gutemberguiano para a ideia do livro cultivada pela bibliofilia e pela cultura iluminista. Um dos maiores ideólogos contemporâneos do livro — a melhor das ideologias que podemos ter —, Chartier recorda a diferença estabelecida pelo filósofo alemão Immanuel Kant, em 1798, na Metafísica dos costumes: entre o objeto material — a ideia materializada — e o discurso do autor, obra transcendente imaterial. A segunda definição reforça o que postulou Diderot em 1763, na Carta sobre o comércio da livro, alegando a legitimidade da posse do autor sobre sua obra, “sua porção mais preciosa, aquela que nunca morre, que o imortaliza”.
Para Chartier, “hoje em dia, se teme tanto o desaparecimento da realidade material do objeto livro quanto da definição intelectual e estética do livro como obra”. O historiador busca ampliar o conceito kantiano, e traz, entre outras, a definição de Jorge Luis Borges, de 1952: “Um livro é mais que uma estrutura verbal, ou que uma série de estruturas verbais; é o diálogo que trava com seu leitor e a entonação que impõe à voz dele e as imagens mutantes e duráveis que deixa em sua memória. Esse diálogo é infinito”, propõe o escritor argentino, acrescentando que “o livro não é um ente incomunicável: é uma relação, é um eixo de inumeráveis relações”. E ainda: “o que importa é a leitura, não o objeto lido”, diz Chartier, acionando mais uma vez Borges: “O que é um livro se não o abrimos? É simplesmente um cubo de papel e couro com folhas; mas se o lemos acontece algo raro, creio que ele muda cada vez… A cada vez que lemos um livro, o livro se transforma, a conotação das palavras é outra”.
O autor de O Aleph, apesar desse traço platônico, não é indiferente à materialidade do livro que marcou sua infância ao ler Dom Quixote, de Cervantes. “O princípio platônico não prevalece sobre o retorno pragmático da lembrança”, escreve Roger Chartier. Aqui vemos o confronto entre dois lados da mesma ideia: o livro material não deixa de ser uma projeção do livro idealizado pela memória, que sempre estará no mesmo lugar imaginário ainda que seu correlato físico esteja perdido ou destruído. O cubo de papel com folhas dentro funciona como transmissor da ideia — da ideia do livro e das ideias contidas nele. Nesse contexto, o temor de desaparecimento do objeto e da obra poderia ser uma manifestação do medo da mortalidade, sendo o livro a expressão máxima da identidade autoral.
Ao ser compreendido como um lugar em que o tempo escreve, como definiu Saramago, o autor é um fio condutor provisório daquilo que o livro carrega. Em texto para a edição comemorativa dos 60 anos da publicação de Fahrenheit 451, Neil Gaiman comenta:
As opiniões de um autor sobre o que trata uma história são sempre válidas e sempre verdadeiras: afinal de contas, o autor estava lá quando o livro foi escrito. Ele escolheu cada palavra, e sabe a razão de ter usado aquela em vez de outra. Contudo, um autor é uma criatura de seu tempo, e mesmo ele não consegue perceber totalmente sobre o que trata seu livro.
A imaterialidade óbvia da obra atinge o objeto que a encerra? Para a memória afetiva, aparentemente não; mas mesmo o afeto da recordação se dirige mais ao momento da leitura no passado, em inescapável nostalgia, do que ao livro tátil que, feito a árvore de onde veio, está sujeito à entropia que amarelece, desfolha e torna toda matéria pó. É contra essa inevitabilidade que a ideia do livro se ergue. Mais que modo de passar o tempo, o livro é modo de fazer tempo.
A percepção da obra seria problematizada pela desmaterialização, que expande seu alcance na medida em que, talvez, a pulverize. “A originalidade e a importância da revolução digital obrigam o leitor contemporâneo a abandonar todas as heranças que o formaram, uma vez que a textualidade digital não utiliza mais a prensa, ignora o ‘livro unitário’ e está alheia à materialidade do códex”, sustenta Chartier.
Mas será que as heranças abandonam o leitor que vira páginas imaginárias em pequenas telas? Logo adiante, o historiador reconhece que “as telas do presente não ignoram a cultura escrita, pelo contrário, a transmitem e a multiplicam”. A leitura “descontínua e fragmentada” sem o papel parece estabelecer um choque cultural incontornável, que assusta na medida em que “não sabemos muito bem como esta nova modalidade de leitura transforma a relação dos leitores com o escrito”. E não temos como saber — ainda estamos no comecinho da leitura.
Banir publicações de circulação continua sendo o expediente clássico dos que enxergam nas páginas impressas uma ameaça concreta.
A força do livro além de suas plataformas é exemplificada pelo próprio Roger Chartier, citando os primórdios da filosofia: “Os diálogos de Platão foram compostos e lidos no mundo dos rolos, foram copiados e publicados em códices manuscritos e depois impressos, e hoje em dia podem ler-se na tela”. Mudam as relações com o leitor, a essência da obra escrita fica.
A ilha dos livros vivos
Letra interessante na ideia do livro é sua conformidade plural. Fonte inesgotável de horizontes para o pensamento, a ideia do livro, em si, só faz sentido dentro de uma biblioteca ideal. O cultivo de um livro único remete a um horizonte limitado e limitante, e pode-se quase dizer que não faz parte da cultura do livro (quase, porque, afinal, um livro só ainda é um livro). A tal da bibliodiversidade é a essência da ideia do livro — ao comportar todos os livros e não enquadrar, platonicamente, nenhum em específico. Do mesmo jeito que para o filósofo grego a ideia de cadeira não é uma cadeira, mas representa qualquer cadeira.
Toda ilha é uma ideia potente. O isolamento traz variadas possibilidades, visando a superação de limites que parecem insuperáveis. A reunião de escritores para um evento literário na Ilha de Moçambique é o mote de Os vivos e os outros, de José Eduardo Agualusa. A narrativa envolve a descrição de uma semana de isolamento social, tecnológico e comunicativo, em que os autores se deparam com a ideia do livro, com o que pensam acerca de si mesmos em relação ao artesanato e à exposição pública da escrita. “Tudo leva mais tempo a chegar a esta ilha, inclusive o tempo”, diz um dos personagens. Como a obra que se cristaliza no autor que a põe para fora de seus pensamentos, e nos leitores enquanto o tempo passa no decorrer e muito depois da leitura. Surpreendendo ambos, ao se revelar ideia mutante sem perder sua essência. E demonstrasse vida, o livro.
“Somos escritores. Nosso trabalho consiste em absorver a luz, como as plantas. Em transformar a luz em matéria viva”, relata um dos habitantes da ilha de Agualusa. A ideia do livro resultante da arte de traduzir e transmitir a vida inclui, assim, a própria vida em sua essência. E qual a principal característica da vida, senão a chama fugidia da mortalidade? Seria impossível o anseio mortal estar à parte da ideia do livro. As publicações carregam a mortalidade vital de quem escreve, ou escreveu a obra reputada imortal que ultrapassa a brevidade em que a vida é escrita. E se a mortalidade roga pela transcendência, não soa estranho o livro como coisa transcendente, ou portador dela. “Não somos oráculos. Por outro lado, é verdade que existe um parentesco entre a literatura e a magia. Nem sempre sabemos de onde surgem certas frases”, testemunha um dos participantes do evento.
E nem sempre sabemos de onde surgem preconceitos, intolerâncias, recusas. A ilha pode ser um celeiro de desconfianças. Entre o autor e o público, entre escritores imortalizados ou não, entre tipos opostos de leitores. “Tendemos a desconfiar dos animais inteligentes que não se parecem conosco”, aponta um personagem, referindo-se a pássaros e gorilas. Mas bem que poderíamos estender o arco da hipótese para seres de idêntica espécie, no caso, a nossa. “Narciso acha feio o que não é espelho”, lembram Caetano e Gil.
No que toca à ideia do livro, a desmaterialização da obra em plataformas eletrônicas — virtuais, de materialidade tão rala que é desmerecida — suscita o sentimento de profanação de um objeto sagrado. “A cerimônia da leitura, antigamente, incluía o lento ritual de cortar as páginas”, lamenta um personagem saudoso de um corta-papeis. Mesmo que a cultura do livro se fortaleça e se dissemine com as palavras soltas no ar e nas telas, a defesa dessa cultura pede, muitas vezes, o ataque ao que a ameaça. Para que a ideia do livro seja antes de tudo o livro da ideia, e ponto.
Retomamos o ponto das palavras imersas no oceano das redes. Na ilha dos livros vivos, o livro sem folhas precisa de outro nome — e-book, por exemplo — para diferenciá-lo da ideia dominante e original. Os escritores de Wattpad, Medium ou Spirit se sentem de fato escritores em relação aos validados pelo mercado editorial baseado no papel? A ideia do livro fora do papel ainda não conta com a legitimação da cultura do livro. Pode ser uma transição. Ou não — já sabemos que não somos oráculos. A identidade da obra pode ser confundida com a do autor, sem no entanto se resumir a ela, já que “ninguém lê o mesmo livro duas vezes”, e no limite, pelo fato de que “ninguém lê os mesmos livros — lendo os mesmos livros”.
Consciência literata
A morte física dos livros jamais foi tão bem narrada quanto por Ray Bradbury no clássico Fahrenheit 451 — a temperatura em que os livros queimam, informação adquirida pelo autor por uma consulta telefônica ao Corpo de Bombeiros. A distopia fascinante imagina o futuro desenhado sob os traços dos anos 1950, como ressalta Neil Gaiman no seu texto mencionado, que consta da edição especial da Biblioteca Azul.
“Um jovem leitor, encontrando este livro hoje, ou depois de amanhã, terá que imaginar primeiro um passado, e então um futuro que pertença àquele passado”, indica Gaiman. Mas a descrição de uma sociedade anestesiada pelo entretenimento da imagem, entretida com diversões violentas, não chega a nos ser estranha. No mundo cataléptico de Bradbury, os livros são rotineiramente caçados e jogados em fogueiras, mesmo que sejam cada vez mais objetos raros: as pessoas, em sua maioria, não se interessam pelos livros, e muito menos pela ideia do livro além do que representam enquanto imprópria subversão.
Voltando à temporalidade que examinamos, no rastro da bibliomortalidade, o protagonista escuta a provocação, no início da história: “Ninguém tem mais tempo para ninguém”. No argumento implícito, os que não leem tão pouco dialogam. As conversas são superficiais dentro das residências. Lá dentro, telas gigantes nas paredes fazem as vezes de interlocutores familiares. O pensamento acrítico tangencia o pensamento nulo, reduzindo a consciência a um estágio operacional que mal basta à sobrevivência. “Ninguém se dá o trabalho de perguntar” ou “falar sobre quanto o mundo é estranho”, e “todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém”. É nesse pano de fundo que lembra o Mito da Caverna de Platão, que a ideia revolucionária do livro ganha fôlego. O livro como instrumento de libertação, emancipação — que não vem de graça, nem sem inquietação. O herói de F-451 quer sair do abrigo de uma caverna em chamas para a iluminação da consciência literata.
Mais que modo de passar o tempo, o livro é modo de fazer tempo.
Queimar livros é igual a queimar pessoas porque nos volumes escritos estão inscritas as consciências que habitaram por um lampejo a face da Terra. “Deve haver alguma coisa nos livros, coisas que não podemos imaginar”, reflete o bombeiro Montag, incinerador de obras encadernadas que se vê duvidar do que faz, e de si mesmo. Até perceber que cada livro tem por trás uma voz, uma narrativa, uma vida. O objeto queimado pelo fogo totalitário é uma cápsula do tempo em que o brilho consciente viaja.
O livro como ideia fora do papel aparece quase como expressão natural dessa consciência. Na história, um velho amante de livros afirma:
Os livros eram só um receptáculo onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há nada de mágico neles. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós a partir de retalhos do universo.
Pois é no que os livros dizem que mora o moto-perpétuo humano, que não se desfaz em cinzas sob alvo do moto-perpétuo do fogo. Se o mundo está “cheio de fogo de todos os tipos e tamanhos”, a ideia do livro cresce em sua missão de perpetuação, de travessia do tempo que nos queima.
Em cada consciência, a ideia do livro é transfigurada em tantos títulos quantos pudermos ser capazes de nominar. O ser consciente é uma biblioteca ambulante, além de caniço pensante, na famosa imagem de Blaise Pascal. O livro objetificado num códex configura valioso depositário de nossa herança cultural. A censura aos livros é o cerceamento da consciência humana, um retorno à caverna de lumes domados em que se pretende a dominação abjeta do pensamento livre. O livro é parte do corpo humano enquanto ideia do ser fora do corpo, do mesmo jeito que a ideia do livro fora do papel confere ao livro um sentido que salta de toda página aberta.