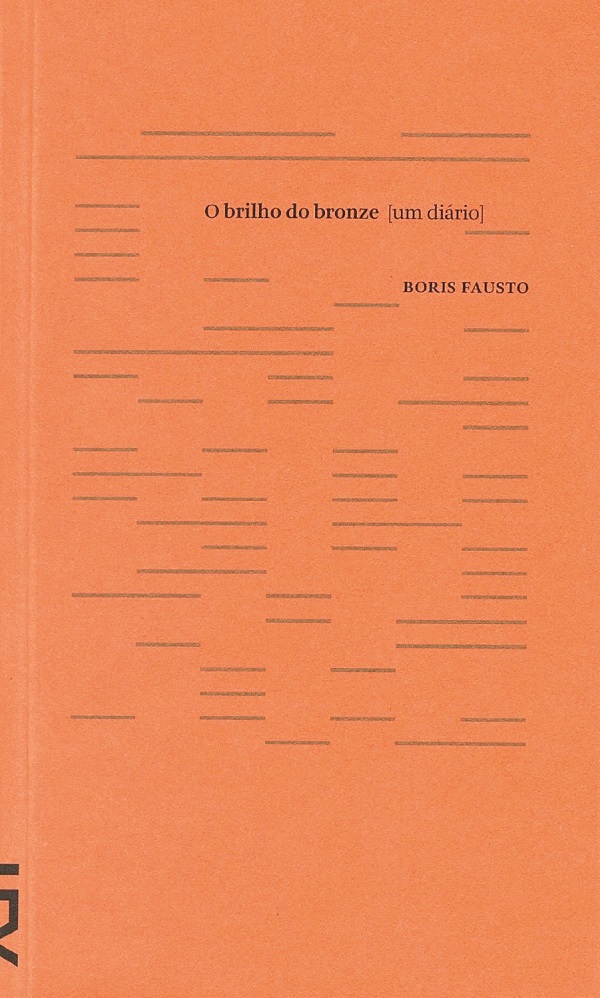Restaurar na velhice a adolescência: esse foi um dos impulsos — de extração machadiana — que levaram Boris Fausto, nome incontornável de nossa historiografia, a escrever e publicar O brilho do bronze. A obra tem por motivo primevo a partida existencial de Cynira, esposa do autor, e traz um título que, guardando nas aliterações um lampejo sonoro, faz remissão à lápide, também sugerida no livro-objeto, similar a um esquife.
De maneira geral, o gênero “diário” tem uma função cosmética, para usarmos os termos de Platão. A linguagem agrega o que a impressão deixa fragmentado, coisa que os poetas sempre souberam (Rimbaud: desejo fixar vertigens) e na qual a psicanálise repousa. Se o ato de dizer as sensações é estratégia de ordenamento, também acumula um papel catártico, exorcizando nossos mais renitentes fantasmas. Não foi outra a lição que Bento Santiago nos deu, ao relatar todo o seu drama amoroso com a amada da infância: após nos ter dito tudo o que queria, viu elaborado seu luto a ponto de poder, enfim, passar à “História do subúrbios”.
De fato, no momento em que as angústias são expressas, um pouco de seus desacertos se esvaem na sintaxe da língua, na disposição retórica, em tudo que remeta a algum cosmo que dê sequência a um caos provisório. E que fique bem claro: caos, rigorosamente, não significa desordem, mas um estado de preparação entre duas organizações que se sucedem. Aqui, Boris Fausto transforma em nova harmonia a situação de desajuste inicial que toda perda impõe. É preciso relembrar, porém: por mais que se trate, em princípio, de um relato verdadeiro, não podemos deixar de lhe reservar a devida parcela de ficção, que a memória precária fabrica. A cautela se justifica ainda mais quando percebemos que as relações travadas pelo historiador aparecem, na página escrita, com uma realidade romanceada. Não podemos deixar escapar uma sutileza: Fausto, encarregado por profissão de “documentar” o que existiu, mostra na própria experiência escritural o quanto o fictus, ao mesmo tempo, reflete e refrata o facto. A nova história, aliás — pautada por Braudel, Febvre, Bloch ou Freyre —, não tomou outra divisa por padrão e estandarte. O próprio narrador declara a necessidade indispensável do expediente imaginativo em seu trabalho: “Vai ver estou empregando a fantasia histórica por força do ofício”.
Antídoto da banalidade
Boris Fausto, ao compor um diário de esquecimento, convive com um risco inerente a todo projeto com esse perfil: o de não ultrapassar a circunstância geratriz do texto. Machado de Assis observara, em seu Memórias póstumas de Brás Cubas, que os acontecimentos — em que a literatura dos faits divers se apoia e se justifica — não guardam nenhum valor em si mesmos, senão naquilo que suscitam e revelam. Com efeito, pequenos flagrantes cotidianos, conversações de rua ou com amigos e familiares extrapolam, em boa medida, a banalidade dos fatos rumo a uma reflexão de teor mais universalizante, que pode, portanto, dizer respeito ao leitor alheio àqueles eventos particulares. Aliás, os diálogos travados pelo escritor e os taxistas reservam um sabor singular ao volume, porquanto reúnem, na mesma experiência, o tom anedótico e o desconcerto, desarticulação das crenças sedimentadas.
Podemos sublinhar, como elemento lúdico e propositivo, a inquisição recorrente do sentido e valor pragmático de palavras e sintagmas: “Ela se aproxima e me apresenta um americano alto, magro, professor de uma universidade da Virgínia, que fala um arrastado ‘muito prazer’ (que expressão mais inexpressiva: prazer por quê?) e me estende a mão”. Ou, ainda, é com extrema graciosidade que o livro desestabiliza a visão racionalizante em relação aos mitos: Ângela, que cuida da “segunda residência” de Fausto, argumenta que o fato de ninguém encontrar um saci não é prova definitiva de sua inexistência:
Olha, dotor Boris, eu não sei muito bem, mas acho que o saci desapareceu e já não se vê hoje, como também não se vê a mula sem cabeça. Isso não é prova que inventaram o saci. Não existiram tantos bichos no mundo que agora não existem mais?
Ainda que, esporadicamente, ela receba explicações professorais de Fausto, não seria exagerado assegurar que, em determinados instantes, sua leitura de mundo, desprovida dos óculos viciados da formação universitária, ultrapassa em entendimento a erudição ideologizada do nosso historiador. Diante das manifestações de junho de 2013, ela analisa, certeira: “Tacaram fogo numa porção de coisas, quebraram vidros, brigaram, arrombaram as lojas para pegar televisão, até geladeira. Que culpa têm os comerciantes para fazerem isso com eles?”.
E se Ângela nos faz remontar, imediatamente, à sabedoria das personagens de Guimarães Rosa, impressiona a quantidade de referências machadianas que O brilho do bronze nos vai enviando, embora de maneira discreta e esparsa. Na busca da compreensão de si, o narrador recorre a Marilúcia, ex-psicanalista de Cynira, que lhe dispõe os seus serviços. Prometendo uma quarentena de ponderação, Boris assim nos relata a abordagem: “Pediu que eu pensasse e depois de duas semanas retornasse ao consultório para falar com ela. Eu já estava decidido, mas aceitei a ‘quarentena’ — que não tinha quarenta dias e não teve, sequer, duas semanas”. E aqui vemos José Dias, nos mesmos moldes, pedindo a Pedro Santiago, pai de Bentinho, três meses de reflexão antes de atender ao convite de morar com a família do patriarca. Voltando dali a… duas semanas.
Essa mesma Marilúcia, por sua vez, desempenhará o papel de glosadora das ações e dos pensamentos mais obscuros do narrador. Em variados momentos, contudo, o leitor perceberá que o texto traz como interlocutor privilegiado a própria Cynira — vigia e guardiã das ações do protagonista. O desejo de forjar outro mundo além daquele que se apresenta possibilita, no livro, dúvidas que ambientações e hipóteses fantásticas financiam. De fato, a hesitação entre o que é vivo e o que é ilusão, entre o mundo e sua sombra, pode ser vista com nitidez nesse trecho esfumaçado:
Ao chegar ao cemitério, vinda não sei de onde, desce uma neblina que quase encobre as árvores e cria um cenário irreal. Quem sabe isso não passa de um pesadelo, estou sonhando e tudo voltará a ser como dantes? Quimera! Resigno-me a arrumar as flores, fazendo com elas uma pequena cerca que contorna a lápide de bronze. Fico na dúvida se estou protegendo meus mortos ou dificultando sua respiração.
Note-se que a dissolução do expediente fantástico — suposta no “quimera” de uma exclamação autopersuasiva — logo se dilui no bruxuleio da frase final.
Elemento de forte presença nos diários, a ironia aparece como requinte literário e antídoto aos confessionalismos quase inerentes a esse tipo de projeto. Assim, como contrapeso a certa sequência de trivialidades que só podem interessar ao autor em seu processo de purificação, lemos o seguinte fragmento:
Pérola da Neusa, gerente-geral da minha casa: ela me entrega o exemplar da Folha, rompendo seu mutismo habitual: — A Folha demitiu mais de quarenta funcionários. — É mesmo? Por quê? — Por falta de notícias. P.S.: Não encontro vestígios das supostas demissões. Mas as notícias continuam jorrando como nunca.
Especulação metafísica
A esse viés irônico, Boris Fausto acrescenta um senso de humor que, certamente, o impede de paralisar-se ante as lembranças da amada. Mas essas qualidades de espírito são possíveis apenas a quem tem a atenção ativa e a quem nada é suficientemente banal que desmereça uma consideração. Como ocorre, portanto, a todo escritor que se preze, o narrador não perde de vista a vida curiosa das palavras e caminha por seus significados — atuais e obsoletos —, flagrando-lhes os desacertos e temperos.
Sem deixar de figurar um painel pontilhado de observações a respeito da História (a identidade do Império Austro-Húngaro e a política brasileira recente são pontos altos, nesse aspecto) ou da cultura de modo amplo — inclusive anedotas que fariam torcer o nariz dos sociolinguistas ortodoxos ou breves considerações etnológicas sobre os cemitérios —, o livro tem por tônica as especulações de ordem metafísica, o que é demasiado previsível. Algo que já não semelha tão evidente é a concisão sugestiva com que elas são formuladas. As indagações não pretendem esgotar o assunto ou, ainda, impor uma argumentação rígida que dê a aparência de razão ao narrador. Sem deter seu tempo em pressupostos rigorosamente inverificáveis, Boris Fausto prefere flagrar as pequenas incongruências de nossas ilações, em que as crenças ladinamente adormecem. Desse modo, lança um comentário de elevada perspicácia a uma declaração de Carlos Fuentes à Globo News. O escritor mexicano afirmaria a Geneton Moraes Neto: “Se Deus existe ou não, não sei; mas logo vou ficar sabendo”, ao que podemos ler, de Fausto: “Curiosa observação, que aposta na continuidade do eu, haja ou não um senhor do Universo”.
Obra que extrapola o que lhe serviu de mola propulsora e, por conseguinte, percorre os variados quadrantes da experiência humana — do esporte lúdico à transcendência reflexiva do sagrado —, O brilho do bronze dá ainda maior significado ao título quando vemos o anseio que tem o narrador por encontrar outra companhia que o alivie do peso de viver e de morrer. Se Boris humildemente discorda de Maiakóvski, quando este dissera que “nesta vida/ viver não é difícil./ O difícil/ é a vida e seu ofício”, é porque, talvez, o olhar vigilante de quem busca outras belezas se desarma frente à vida pregressa que Cynira plenamente imantara e com a qual o reencontro insiste em tardar. Compondo um diário que se vale da crônica para interpretar a si e ao mundo que o rodeia, Boris Fausto oferece em outra clave e afinação a leitura de nosso tempo. Agora, atravessada pela subjetividade mais do que em qualquer escrito anterior, a percepção do autor simula mais as pequenas peças camerísticas do que a unidade das sinfonias inteiriças. E é por esse gênero ágil que um brilho de bronze — oferecido pelo presente — se ofusca frente à idade de ouro que a memória afetiva já não pode espoliar.