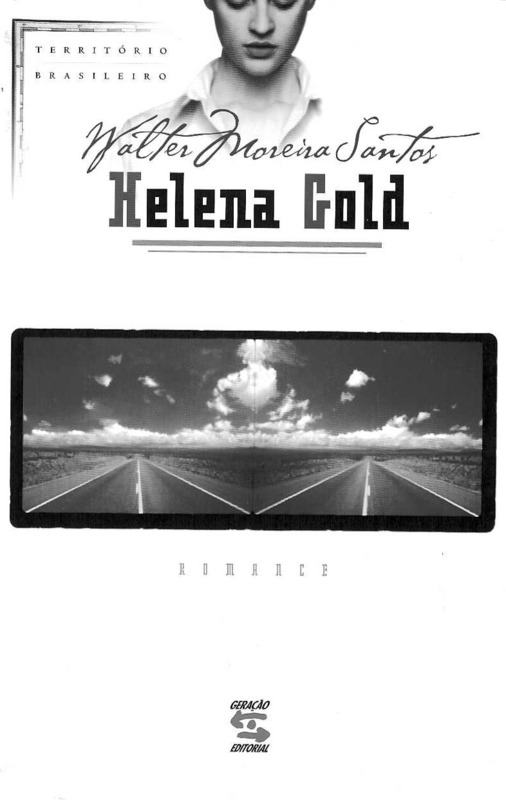Havia momentos em que tudo o que ela queria era fugir. Fugir dos problemas, da falta de dinheiro, das noites sempre mesmas, dos dias sempre mesmos. Do amor tão pouco… Fugir dos outros e de si mesmo. Especialmente fugir dos pensamentos, aqueles cíclicos, aqueles doloridos, aqueles que a deixavam sem sono. Ir para aonde? Para a Sibéria, para Roma, Praga, Israel, Paris, Machu Picchu, Piraquara, Varginha… Nem importava. A direção não fazia diferença. O que ela esperava, sim, importava. E o que ela esperava era mudar. Só isso. Mesmo que a mudança acontecesse para que, no final, tudo ficasse exatamente como estava…
Ouvir o baque surdo do corpo estendido e inerte daquele homem que via todos os dias, mas que não a enxergava foi o álibi para a fuga de Helena. Ela finalmente decidiu se libertar e ir embora. Queria ir sozinha, mas seus pensamentos não a abandonaram. Porque os pensamentos têm vida própria e não a deixariam assim, sem mais nem menos, só porque ela decidiu empurrar o homem pela escada. Isso, que seria somente o começo, pode ter significado o final para ela. O final de uma espera enfadonha por uma mudança que jamais aconteceria, se o moço não tivesse rolado pela escadaria.
Todo mundo já pensou, pelo menos uma vez, em dar uma guinada na vida. Em mudar o rumo que as coisas estavam tomando. A ânsia por mudanças, por novas aventuras, faz parte do ser humano. É natural. E, por isso mesmo, assustador. Porque mexe com o que está dentro de cada um: com fraquezas, dúvidas, incertezas, medos, desejos. E é preciso tomar cuidado com o que se deseja… Muito cuidado.
Walter Moreira Santos descreveu, em Helena Gold, uma pessoa dessas. Aliás, descreveu exatamente essa mulher que queria fugir e que empurrou (ou não?) o marido da escada. Na fuga imaginou, lá com seus pensamentos-companheiros-de-viagem, que havia matado o marido. Era um desejo dela. Um daqueles bem feios, que ficam escondidos, mas que uma hora aparecem… Quando li a “cena” da fuga, da mulher e seus pensamentos indo para lugar nenhum, lembrei imediatamente de Marion Crane, a secretária interpretada por Janet Leigh em Psicose. Imaginei até a musiquinha (aquela, sensacional, composta por Bernard Herrmann). Como a moça do filme, Helena Gold estava fugindo de um crime (ao menos imaginava que havia cometido um), dirigindo e pensando, pensando, pensando… No que os outros iriam dizer, no que ela iria dizer…
Quando Helena chegou a um posto de gasolina meio abandonado — com nome de Machu Picchu, um lugar que ela adoraria ter conhecido com o marido, que, talvez, estivesse morto aos pés da escada — e parou ali, para dormir, continuei pensando no filme. Seria o dono do posto um psicopata? Deixaria a moça no quarto número um, dividindo a parede com seu escritório cheio de pássaros empalhados, e depois a esfaquearia vestindo uma peruca cinza e um vestido? Não, Walter não faria isso com seus leitores. Ele a colocou no quarto número oito, acima do que parecia ser uma garagem. E não a matou no banheiro. Por que o faria?
Helena Gold tem uma melancolia gigantesca. É triste, porque mal-amada, porque malcompreendida. Porque carregava o peso da humilhação e da lembrança dos “carinhos” do pai por seu corpo infantil. Ouvia Billie Holiday e chorava: “Love is funny or it’s sad/ Or it’s quit or it’s mad/ It’s a good thing or it’s bad/ But beautiful”. Pensava na filha e chorava. Depois de um tempo, pensava no pai e no marido. E nada. Nem amor, nem ódio. Nem indiferença…. Helena é apenas uma mulher que quer ser amada. E quer amar. Só. Uma pessoa normal. Uma Macabéa, à espera da hora em que se tornará uma estrela. Enquanto isso, foi jornalista, foi escritora, foi maníaca-depressiva. Teria sido assassina?
Walter Moreira Santos escreveu Helena Gold aos 17 anos. Concebeu como uma novela. Alguns anos depois, adaptou para uma peça, que chamou de O doce blues da salamandra. Pensou em Renata Sorrah para o papel principal. A peça foi encenada, mas não por Renata Sorrah. Mesmo assim, ganhou prêmios. No livro da Geração Editorial estão as duas faces da mesma Helena Gold. O romance-novela e a peça. Gostei mais da novela. É escrita de forma suave, embora repetitiva em alguns pontos. E explicativa demais em outros. Mesmo assim, é melhor. É bom. Não ótimo, não essencial. Bom.
Já a peça… Imagine a cena: Helena, em “tristeza súbita”, fala sobre o diagnóstico de seu psiquiatra, Dr. Karl, mas que ela gosta de chamar de Dr. CRAU (assim, com letras garrafais mesmo, para dar ênfase, sabe como é?)
“Um dia…, sabe o que foi que o dr. CRAU disse enquanto soprava a fumaça do charuto? Ele disse (imita o médico) ‘Ela vai precisar de tratamento para o resto da vida.’ (Tempo)
Meu pai disse: ‘OOOOOOH!’
Dr. CRAU disse: ‘É, sim.’ Então colocou essa plaquinha na minha testa. (Apanha na escrivaninha um esparadrapo com a palavra ‘louca’ escrita em vermelho e cola-o à testa Junta os cabelos, exibe a placa. Tempo.)
Eu nem me importei porque tanta gente teve a sua… (aponta a testa, infantil) plaquinha…
Callas
Clarice
Camile Claudel…
(Tempo)” (p. 78)
Tenha medo. Tenha muito medo, como já diria Bela Lugosi. Imagine uma atriz, daquelas que faz aquele curso em que é preciso “interpretar” uma árvore, com galhos nascendo, balançando ao sabor do vento e outras coisas absurdas do gênero, interpretando essa mulher-criança. E mesmo a Renata Sorrah. Conseguiu imaginar a Renata Sorrah fazendo essa cena? Acho que esse seria um daqueles textos que, se caído nas mãos erradas, resultaria em um espetáculo horrível. É que eu tenho o pé atrás (bem atrás) com o teatro. Não dei sorte nos espetáculos a que fui assistir. Mas isso não vem ao caso. O fato: não gostei da peça. Ponto. Do romance-novela, tudo bem. É interessante. E rápido. Ponto final.