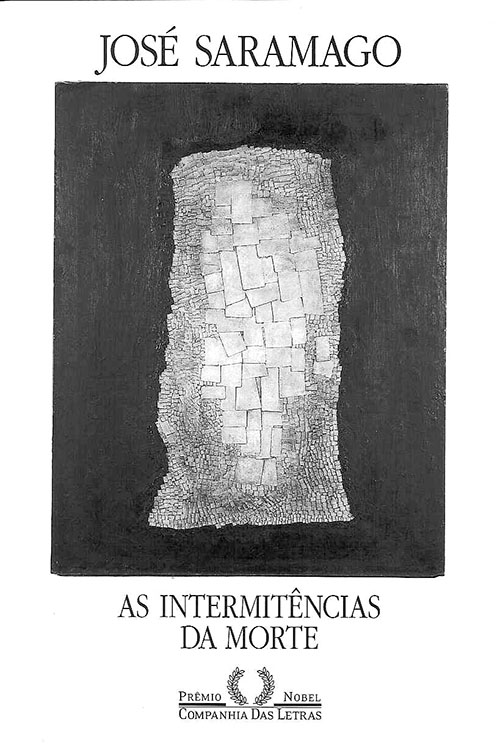Detenhamo-nos por um instante na figura maiúscula e inconfundível de José Saramago: enquanto seu porte avantajado mostra a solidez e o vigor do campônio de origem — e consegue a rara proeza de ocultar a octogenária idade —, o rosto de angulosos contornos, sobrancelhas fartas e olhos pequenos atrás dos enormes óculos, conjunto que faz a alegria dos caricaturistas, compõe o ar grave e algo blasé do intelectual. Aliada a essa ligeira incongruência no visual, a fala serena, em tom sempre baixo e um pouco arrastada, no sotaque característico dos de além-mar. A imagem em nada combina com a velocidade e o depauperamento cultural do mundo contemporâneo, com a corrida tecnológica ou o consumismo exacerbado. Muito menos com o fenômeno da globalização, lugar-comum entre os modismos de hoje. É difícil até mesmo imaginá-lo à frente de um microcomputador, pilotando o correio eletrônico. Saramago é um cavalheiro à la antiga, que — assim idealizamos — continua a escrever seus livros de próprio punho, talvez com caneta-tinteiro, unindo a paciência de um oriental à visão de um humanista. É, sobretudo, um ser inofensivo, que construiu a carreira literária passo a passo, como convinha a uma índole desdenhosa à pressa. Aos poucos, porém, conseguiu atrair a atenção do mundo todo para sua prosa barroca e inimitável, mescla de densidade reflexiva, discurso sinuoso e humor, que ele classifica, modestamente, de “intenção da oralidade”.
O prestígio de José Saramago no universo das artes veio num crescendo ao longo das últimas quatro décadas e culminou com o Nobel em 1998, na primeira e única vez em que o prêmio internacional mais importante da literatura foi concedido a um escritor de língua portuguesa. Como era de se esperar, a conquista trouxe a notoriedade e, junto com ela, também a controvérsia. Primeiro foram os apaixonados de primeira hora da literatura lusitana, para quem o brilho da premiação a Saramago acabou por ofuscar o trabalho de outros escritores portugueses de igual ou maior quilate. Estes, contudo, usando sua polidez característica, afirmam e reafirmam que são gratos a José (assim mesmo eles o chamam) por ele ter iluminado com seu prêmio a produção literária de Portugal e de outros países lusófonos. Talvez essa demonstração de elegância espelhe mesmo a verdade. Mas alguns comentários de natureza política feitos pelo escritor geraram celeuma. Opinando sobre o eterno conflito no Oriente Médio, assumiu uma postura francamente favorável aos palestinos e hostil aos judeus, o que levou seu colega israelense Amós Oz a declarar que ele sofria de “miopia intelectual” (depois da bronca de Oz, Saramago trocou os óculos que eram sua marca registrada por um modelo menor e mais moderno, tornando inevitável a piada).
A visão crítica do sistema político e econômico hoje predominante no mundo — a que apareceu até agora nos livros e, portanto, a única que nos interessa no momento — peca por seu anacronismo. Comunista de velha cepa, na definição precisa de Moacyr Scliar, ele ainda raciocina pelos dicotômicos e maniqueístas conceitos de esquerda e direita, exercício que, levado à ficção, acaba às vezes tangendo perigosamente o panfletário. É o caso de Ensaio sobre a lucidez. Lançado em 2004, o romance tem um argumento dos mais originais — uma eleição municipal cujo escrutínio vai revelar um índice de votos em branco na formidável casa dos oitenta por cento, gerando uma alarmante crise política em todo o país —, mas a exploração de suas várias possibilidades literárias é traída em favor de uma inexplicável ênfase no matiz ideológico, o que acabou frustrando o leitor que se tinha fascinado antes por um irmão mais velho, Ensaio sobre a cegueira, de 1995, e esperava encontrar algo de igual grandeza. Afinal, quando um Nobel lança livro, não se pode mesmo esperar dele nada menos que a excelência.
Essas considerações todas passam inevitavelmente pela cabeça do leitor que tem agora em mãos As intermitências da morte, romance cujo lançamento mundial aconteceu no Brasil há poucas semanas. Vigésimo título do escritor a entrar para o catálogo da Companhia das Letras, ele segue o mesmo padrão visual dos anteriores que, entretanto, sempre apresenta sutis variações de uma obra a outra. Nessa mais recente, a cor predominante é o branco, do miolo à capa, e esta, assinada por Hélio de Almeida, traz em relevo a reprodução de um belo trabalho do artista plástico Arthur Luiz Piza. Na contracapa está transcrita a abertura do romance. A escolha não poderia ter sido mais feliz: em poucas palavras, o instigante trecho contém o argumento principal da história, além de se constituir num ótimo exemplo da prosa peculiar de Saramago (a pedido do autor, é sempre mantida a ortografia original nas edições brasileiras de todas as suas obras):
No dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos quarenta volumes da história universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenómeno semelhante, passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas vinte e quatro horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar.
Embora absurdo, o que a princípio não passa de um dado estatístico de uma única data acaba se repetindo no dia seguinte e também no outro, autorizando por fim a população e as autoridades do fictício país a pensar que a morte tenha de fato entrado em greve. Passado o regozijo inicial por essa inesperada conquista da imortalidade humana, o caso logo revela seu lado nocivo e acaba atingindo proporções de calamidade pública. Primeiro os agentes funerários, depois os hospitais, os asilos de velhos — apelidados de “lares do feliz ocaso” na ironia finíssima e contumaz de Saramago —, as companhias seguradoras, vários setores da economia entram em colapso por conta desse descontrole no fornecimento de, digamos assim, sua matéria-prima: enquanto para alguns faltam defuntos, outros não têm como administrar o excesso inusitado de pacientes. E mais não se deve avançar neste resumo sem que se comprometa a surpresa do leitor.
Ingredientes
A originalidade da trama não garante por si a novidade, como se viu há pouco. Em As intermitências da morte ela se apóia em outros detalhes. Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de o romance ser excepcionalmente enxuto se comparado aos outros que o antecedem, e isso favorece sobremaneira o ritmo e a força do texto. É claro que a concisão, no caso de Saramago, deve ser sempre relativizada: os longos parágrafos, as frases sinuosas, as digressões, tudo continua como sempre foi — e nem se poderia esperar ou desejar uma mudança profunda num traço estilístico distintivo do autor e que parece já ter chegado definitivamente à maturidade. Mas um tema tão fértil nas mãos de um escritor caudaloso por natureza teria no passado exigido muito além das exíguas 208 páginas que compõem o livro atual. Permanece também a sátira política, outro poderoso ingrediente, mas a ideologia sai de cena com a sábia opção por um país cujo regime é o da monarquia constitucional nos moldes da inglesa: com a figura decorativa do rei como chefe de estado e um primeiro-ministro no comando de um governo corruptível que só faz agravar a crise a cada interferência desastrosa, o autor monta um cenário perfeito e se diverte, na primeira parte da narrativa e justamente sua melhor, a imaginar as trapalhadas que os governantes conseguem sempre cometer em casos que fujam da banalidade burocrática, bem como as chicanas onde eles estão invariavelmente metidos, a despeito de qualquer situação, até mesmo numa tão absurda como a imaginada.
Outro tema recorrente em Saramago, levado agora ao extremo do nonsense, é o da impossibilidade. O próprio autor, em recente entrevista à televisão brasileira, admitiu que tornar possível o que jamais o será no plano real é para ele o aspecto mais fascinante da criação ficcional. O insólito, mais do que servir ao caráter fabular de toda sua obra, presta-se também a expor o homem confrontado com aquilo que ele não tem condições de compreender, ridicularizando, de certa forma, a eterna tentativa de ele tratar pela lógica humana questões absolutamente transcendentes a ela. Quando a morte entra na história como personagem real, inaugurando a segunda fase do romance, ela toma a velha e conhecida imagem do esqueleto e sua gadanha, que pode assumir, eventualmente, a forma de uma bela mulher. Como se vê, nada de novo. Contudo, à medida que a narrativa avança, Saramago mostra-se mais afiado que nunca no exercício daquilo que ele considera o melhor de seu ofício: transformar o absurdo em realidade. Então é a morte que se vê subitamente confrontada com um problema insólito, completamente incompreensível para ela, cuja solução levará o romance a um fecho de ouro, chegando ao requinte de usar como derradeira frase a mesma que o abre.
Caso o leitor tenha alguma vez percebido em Saramago sinais de fadiga pela repetição de uma fórmula que já dera certo, mas andava carente de renovação, As intermitências da morte está aí para provar que o grande escritor continua em sua melhor forma.