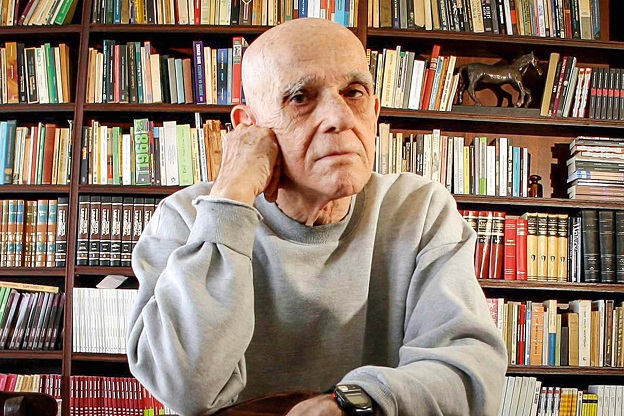Rubem Fonseca era um escritor com muita imaginação (sim, há escritores que não têm esse predicado que parece tão essencial para a atividade, e ainda assim são bons autores). Mas nem o criador de tramas tão complexas, como a do romance Bufo & Spallanzani, talvez pudesse ter vislumbrado que a própria morte se daria em meio a um contexto tão surreal. O escritor nascido em 1925 morreu de infarto no último dia 15 de abril, no olho do furação da pior pandemia dos últimos 100 anos.
A imaginação de Rubem Fonseca certamente foi o melhor de sua literatura. Claro, ele trouxe uma coloquialidade à qual a ficção brasileira não estava acostumada. Falou do morro, de gente da rua e de problemas sociais de uma forma tão natural que nem parecia que estava do outro lado da trincheira social, no conforto da classe média. E desburocratizou a linguagem literária, tirou-a do pedestal. Deu um pontapé no tal “escrever bem”, termo tão genérico quanto inútil, mas que muitos autores que o precederam tanto valorizavam.
Muito, claro, por conta de suas referências, em especial a literatura norte-americana. Fala-se sempre, com razão, da influência de Dashiell Hammett. Mas sempre achei que Fonseca era uma espécie de irmão literário de David Goodis, um escritor menos conhecido entre os romancistas policiais mais conhecidos: os dois falaram de um universo underground, ou submundo, de uma maneira não afetada, simples, que transformou suas histórias em histórias acessíveis até a leitores pouco acostumados a ler ficção.
A obra de Rubem Fonseca está repleta de exemplos assim. O conto O cobrador, do livro homônimo de 1979, é emblemático nesse sentido. O monólogo do narrador-personagem cobrando o que considera que o mundo lhe deve é um dos trechos mais célebres da literatura brasileira (ele me faz lembrar a reivindicação do narrador de Trainspotting, que de uma maneira diferente também “rejeita” as imposições da sociedade capitalista). O célebre trecho faz parte de um conto, o patinho feio da ficção, o que valoriza ainda mais o sucesso do texto.
Esse conto representa a gênese de uma fase muito prolífica de Fonseca, que concebeu dezenas de outras histórias com a mesma pegada cruel, tanto na linguagem quanto nas tramas — num espaço de 15 anos, lançou os hoje clássicos A coleira do cão (1965), Lúcia McCartney (1967), Feliz ano novo (1975) e O cobrador (1979).
Feliz ano novo é outro conto que marca o choque entre classes sociais explorado por Fonseca por meio da violência e sordidez. A crueza da linguagem e o estilo de narrar, baseados em uma resiliência assustadora e nenhuma autocomiseração, não deixam espaço para qualquer resquício de sociologia aflore dessas histórias — apesar de muita gente na academia ter lido a obra do autor por essa lupa “social”.
O fato de Fonseca ter trabalhado na polícia certamente o aproximou de termos e expressões que usaria em sua ficção. Mas isso não basta para fazer de alguém um grande escritor. Leitor de expoentes do conto americano, como John Cheever, ele adaptou para os padrões brasileiros a prosa que admirava. Sem copiar ninguém, mal comparando, como fizeram os músicos da geração 80 do rock brasileiro, que acreditaram piamente que nunca ninguém iria descobrir que Renato Russo era metade Ian Curtis, metade Morrissey (entre outras apropriações artísticas…). Fonseca soube diluir bem suas influências, criando uma dicção própria que influenciaria várias gerações de autores brasileiros. Em outras palavras, “modernizou” a prosa brasileira ao mesmo tempo em que descomplicou a ficção. E para ficar na analogia musical, com essa fórmula, emplacou um caminhão de hits na literatura brasileira.
Mas como dizem os grandes críticos, literatura ainda é contar uma história. Joyce contou uma grande história em Ulysses, Beckett fez o mesmo em Esperando Godot e Cervantes… nem se fala. Fonseca acreditou como poucos escritores brasileiros na força de uma história “bem construída”. Os andaimes de sua ficção sempre foram muito planejados, mas ele sabia como escondê-los do leitor até a hora certa de revelá-los.
É assim no hilário e trágico conto AA, em que fazendeiros do Pantanal são investigados por uma “doutora doida protetora dos animais” por organizar rodeios. A narrativa segue o fluxo “natural”, com direito a um flerte entre fazendeiro e médica, até que se sabe que a doutora Suzana está lá não por causa dos animais, mas em razão de uma “prática sádica, odiosa de abuso contra pessoas indefesas”. É o AA do título, um festival de arremesso de anões (aliás, os anões eram uma espécie de obsessão do autor, aparecendo em várias de suas histórias, como no conto Anão). O conto, assim como Encontro no Amazonas, lembra muito algumas histórias de Marçal Aquino, em especial o romance Cabeça a prêmio e seu clima de intermitente tensão nos rincões do Centro-Oeste brasileiro.
Já em Anjos das marquises, o que era para ser um grupo de abnegados que salva vidas em risco nas madrugadas cariocas revela-se um macabro esquema de venda de órgãos. É o famoso turning point do conto, que Fonseca usava tão bem. Quando o escritor nocauteia o leitor, para lembrar do famoso mandamento de Julio Cortázar.
Romances e cinema
Esses preceitos foram colocados à prova também nas narrativas longas de Fonseca. Era recorrente que críticos apontassem uma “perda” de potência da literatura do autor quando Fonseca passou a publicar romances. Mas o fato é que ele sempre foi um contista com ímpeto de romancista. Seus melhores contos têm estruturas muito próximas das grandes narrativas: vários personagens, detalhes narrativos, reviravoltas na trama, etc. E, ironicamente, seu livro mais conhecido é Agosto, narrativa que mistura ficção com a história política de Getúlio Vargas.
A grande arte e o já citado Bufo & Spallanzani são outros excelentes romances de Fonseca, em que aos preceitos da literatura policial são adicionados elementos marcantes dos contos do autor, como a crueza da linguagem e o protagonismo de personagens moldados pela pobreza e falta de perspectivas. A total falta de bons sentimentos, remorso, culpa ou autocomiseração dos protagonistas estão também nas longas narrativas.
Todos esses livros foram parar ou na televisão ou no cinema, sempre com o acompanhamento próximo do próprio autor, cinéfilo assumido. É comum leitores identificarem nos livros do autor uma marca “cinematográfica”, com cenas muito visuais, como se fosse um roteiro. O que é um fato. Certamente por isso seus livros tenham sido tão adaptados para o audiovisual, em alguns casos com roteiro do próprio Fonseca. Isso também foi outro legado de sua escrita. A partir dos anos 1990, uma geração inteira de escritores começou a fazer uma literatura “cinematográfica”, com bons e maus resultados. Alguns críticos viram nessa “tendência” uma banalização da prosa em nome de aspirações de sucesso e vendas de livros com possíveis adaptações ao cinema.
É certo que Fonseca, dada sua paixão pelo cinema, queria ver seus livros em outras mídias, mas isso certamente não o movia como escritor. Com a obra finalizada agora, percebe-se que tinha uma sede de literatura e cultura: queria colocar tudo que gostava em sua ficção. Charutos, poetas e filósofos da antiguidade, literatura e cinema americanos, vinhos, crimes, sexo, cultura de massa, cultura de rua, televisão, escatologia, bons e maus sentimentos… Essa mistureba, guiada por uma prosa previamente arquitetada, fez de Fonseca um marco. Sem contar que, durante décadas, meio que andou sozinho no deserto que era a ficção policial brasileira. Até seus exageros como narrador — as inúmeras citações em latim e as descrições minuciosas dos aromas e sabores do vinho e do charuto — hoje são perdoadas diante daquilo que tem de bom em sua ficção.
Afinal, uma carreira de mais de meio século não é feita apenas de glórias. Seus últimos livros foram tratados com certo desdém pela crítica, ainda que continuassem sendo analisados por nomes respeitados. Claro, não é papel da crítica passar a mão na cabeça do autor que perde a mão só porque ele escreveu bons livros no passado. Mas quem de nós estará falando coisa que preste aos 80, 85, 90 anos?
E certos criadores alcançam um grau de excelência ao longo da carreira, que dificilmente o levam para a mediocridade. Com Rubem Fonseca, o saldo é mais do que positivo. É como certa vez me disse em uma entrevista o jornalista e escritor Sérgio Augusto, amigo do autor: “Rubem Fonseca só consegue ser inferior a si mesmo”.