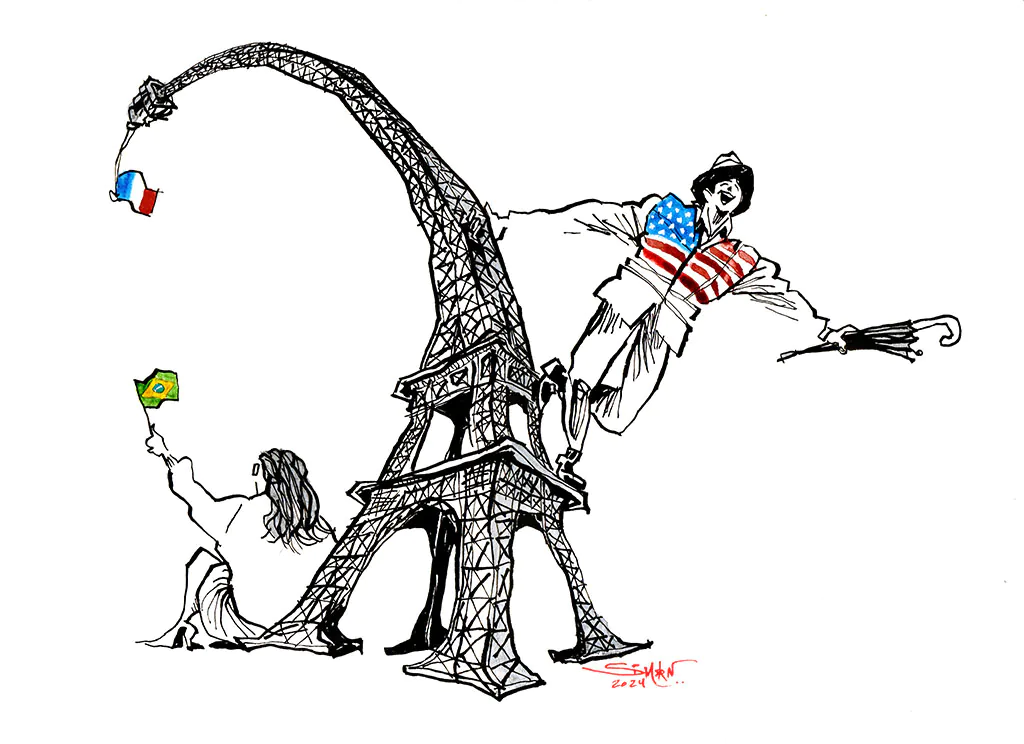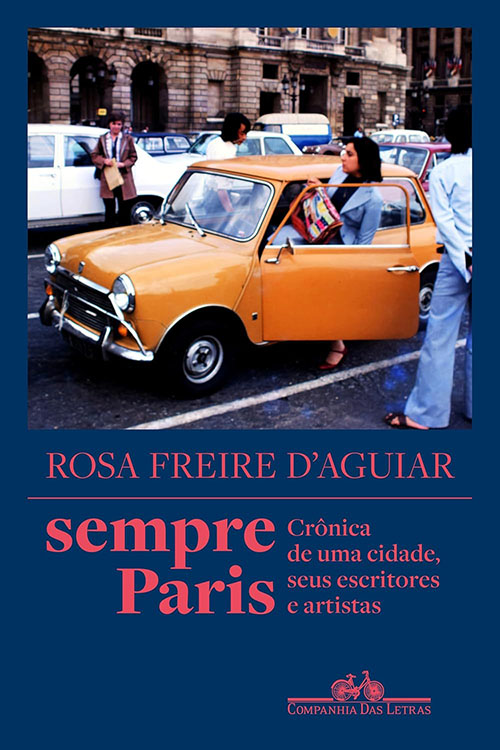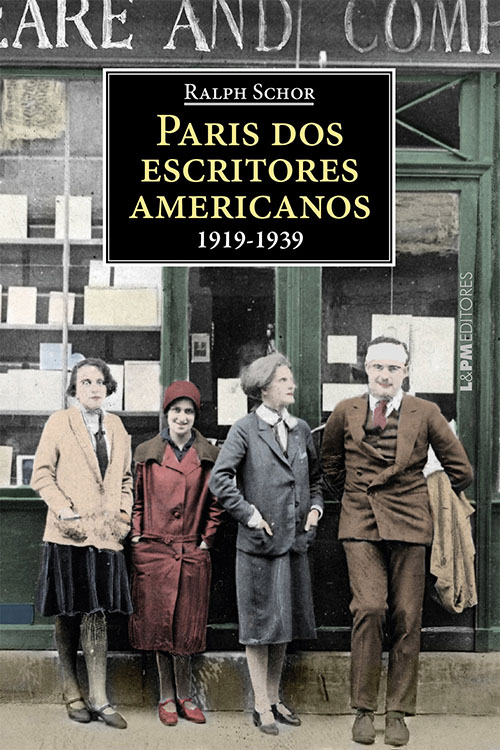I want to see the den of thinking men like Jean-Paul Sartre, canta uma radiante Audrey Hepburn, sonhando em filosofar com pensadores, enquanto caminha numa estreita rua ladeada pelos famosos cafés parisienses destes que parecem ser tão comuns na cidade, com suas mesas na calçada. O filme é Cinderela em Paris (1957). Já seis anos antes um Gene Kelly apaixonado declara: Paris is like love, dançando e cantando por cenários deslumbrantes que ora são típicos pontos da Cidade Luz, ora são reproduções de quadros exuberantes de seus pintores. O filme é Sinfonia de Paris (1951). Eis dois exemplos no mundo ficcional do deslumbramento que Paris suscita em cidadãos estrangeiros; haveria muitos outros, mas fiquemos nestes dois. Eles nos propõem a questão: mas o que Paris tem de tão especial em meio a tantas outras cidades no mundo?
Alguns elementos são interessantes, comumente aparecem ligados à capital francesa: o amor, a cultura elegante, a intelectualidade… Mas muitos hão de concordar que não são monopólio da famosa cidade, podendo ser encontrados conjuntamente em outros lugares. Mas então a questão permanece: por que Paris?
Talvez dois livros presentes nas estantes brasileiras possam viabilizar, cada qual com seu escopo e perspectiva, uma resposta consistente ao “enigma Paris”: Sempre Paris — Crônica de uma cidade e seus escritores e artistas, da jornalista e tradutora brasileira Rosa Freire d’Aguiar, e Paris dos escritores americanos 1919-1939, do professor e escritor francês Ralph Schor.
Uma brasileira em Paris
No ano de 1973, aportou em terras francesas uma jovem jornalista, para assumir como freelancer o lugar de um outro correspondente da extinta revista Manchete. Não ficaria em qualquer lugar do país: faria morada em nada mais nada menos que a capital do país. Certamente, para uma jornalista que estaria destinada a cobrir assuntos tão díspares como cultura e economia, política e costumes, não haveria lugar mais privilegiado, tão favorável ao seu ofício. O nome da jornalista era Rosa Freire D’Aguiar, e na grande capital permaneceria vivendo, primeiro prestando seus serviços à Manchete, depois à revista IstoÉ, quase por duas décadas.
Seu país natal já passara pela instauração do virulento AI-5, que cerceava enormemente a liberdade de expressão, celebrando a censura em âmbito nacional. Pode-se imaginar o que foi para a mente da jovem jornalista trasladar-se para um país que vivia um ambiente tão diverso, pós-Maio de 1968, e que por tradição tinha a liberdade como valor fortemente enraizado em si:
Foi também ali que tive a primeira mostra desse direito sagrado dos franceses: manifestar-se — nas ruas, nos jornais, diante do rei, do policial, do padre. Primeira lição de cidadania.
Não era pouco numa década de recrudescimento político na América Latina. Simbólico, inclusive, que a jovem repórter tenha saído de seu país no dia seguinte ao golpe assestado por Augusto Pinochet no Chile. As tiranias violentas que se estabeleceram então pelo continente, sob o pretexto de se evitar uma ainda maior, de extração comunista, estenderam por ele, durante anos, uma nuvem cinzenta de repressão e angústia existencial que, em contraste, fez de outras regiões, a França à frente, um oásis de vida incontida. Neste contexto, Paris, já com toda sua mitologia cultural, tornar-se-á também o refúgio para tantos taciturnos expatriados de suas terras.
Com sua tradição de receber proscritos dos quatro quadrantes, tendo centenas de organizações não governamentais, associações em defesa disto ou contra aquilo, Paris era um ponto de irradiação e excelente plataforma para se escrever sobre qualquer tema de política internacional.
Paris, para esses infelizes exilados, será algo como uma mãe adotiva, e disso nos dará notícia a própria autora, com seu testemunho em primeira mão:
Houve em Paris uma bela iniciativa para os filhos de exilados: uma escolinha que ensinava aos pequenos o que era feijoada, jacaré, busca-pé, jabuticaba, bola de gude, pororoca. Chamava-se Saci-Pererê e funcionava na Cité Universitaire, aos sábados.
Essas e outras descobertas o leitor fará na primeira parte do livro, que é a crônica da vida que viveu e do trabalho que desempenhou Rosa Freire d’Aguiar durante a sua estada, entre 1973 e 1986. Com uma escrita leve, mas não desprovida de inteligência e acuidade, a autora nos apresentará essa Paris de fins do século 20, passando pelos restaurantes, pelos diversos governos democráticos que se sucederam um após o outro enquanto lá morava, mas também antes de sua estada; falará da cultura, da proliferação de livrarias, do contexto socioeconômico da época, mas também registrará o seu trabalho como correspondente internacional, o que lhe permitiu na cosmopolita Paris cobrir eventos como a democratização da Espanha, a decomposição do comunismo na Polônia, o Irã e seus incidentes e desventuras etc.
É uma abordagem que resguarda um interesse amplo, de diferentes aspectos, da Paris do século passado; em especial o cotejo que a autora faz entre o contexto da capital francesa e do mundo ao redor é particularmente interessante (e doloroso para nós brasileiros, quando feito com o Brasil da época). Acima de tudo, é de grande interesse as observações feitas sobre o espírito e a idiossincrasia francesas:
Franceses têm horror a qualquer mudança que desorganize seu cotidiano, seja a da mão de uma rua, seja a da meteorologia, seja a da paisagem que veem pela janela.
Ante a observação acima, o leitor é levado a refletir sobre essa aversão à mudança e suas raízes, num país cujo passado inclui a decapitação de um rei em praça pública e a mudança radical de um regime político disso decorrente.
Franceses são tagarelas, às vezes falam muito para dizer pouco ou nada. Mas em torno de um pot, na varanda de um café, podem ficar horas entretidos em torneios verbais que são uma delícia acompanhar. Opinam sobre tudo, em geral com bons modos (…) rodopiam as frases com rapidez, vivacidade, clareza. Parece que é a herança do século XVII, quando surgiram os primeiros salons parisienses onde a tirada certa, o trocadilho maroto, o bon mot chegaram ao esplendor — e teriam contribuído para civilizar a França.
Já o trecho acima nos faz lembrar, a nós tão distantes desse povo, às soirées nos romances de Proust e Balzac.
Contudo a pièce de résistance do livro é, sem dúvida, a segunda parte: as várias entrevistas (algumas inéditas) com várias figuras de interesse que a autora conduz com desenvoltura, numa pauta sempre rica.
Ali encontraremos um Julio Cortázar longe de seu país, mas com ele no interior: “neste exato momento em que estou falando com você sinto-me na esquina de Florida com Corrientes. Sinto os odores de Buenos Aires”; crítico e admirador de Borges; descrente na força política da literatura (“o tirano tem que ser derrubado a tiros de canhão”), mas ainda amante de sua arte. Uma descrença igual no poder da literatura, embora de outra perspectiva, encontraremos ali na entrevista com o escritor Romain Gary (“Guerra e Paz, de Tolstói, jamais impediu que houvesse uma guerra”), admirador de Gaulle e reflexivo sobre sua relação com sua falecida esposa, a atriz Jean Seberg (“foi uma história de Pigmaleão. Jean teve muito mais influência sobre mim do que eu sobre ela”).
Esses e outros nomes de interesse, sempre variados no aspecto social, como os escritores Ernesto Sabato, Ionesco e Simenon, as ex-ministras francesas Simone Veil e Françoise Giroud, os pensadores Alain Finkielkraut e Roland Barthes, entre muitos outros, ajudam a elevar o interesse no livro, com suas ideias estimulantes, trazidas à tona por uma condução segura de uma entrevistadora talentosa.
Os norte-americanos em Paris
Partir, distanciar-se dos Estados Unidos, criticar mais ou menos vivamente esse país, às vezes renegá-lo. Todas essas atitudes, comuns aos escritores da Geração Perdida, revelavam um verdadeiro mal-estar da juventude intelectual que sofria por viver numa sociedade considerada materialista e opressora.
Com tais palavras, o professor e escritor Ralph Schor concebe uma admirável síntese não apenas de seu livro, Paris dos escritores americanos 1919-1939, mas também de todo um espírito inconformista que grassou em uma geração de escritores que incluía Hemingway, Miller, Dos Passos e tantos mais relativo à pátria norte-americana, com seus valores desabonadores quando contrapostos à egrégia Cidade Luz francesa.
De fato, no espírito desses então jovens escritores emergiam uma perplexidade, um espanto oriundo da confrontação entre a América que traziam dentro de si e a Paris em que então desembarcavam, e onde viveriam suas vidas por longo tempo:
Paris, capital de uma França vista como a mãe dos direitos humanos, Paris, capital do intelecto e da cultura, Paris, capital das liberdades de todo tipo, oferecia uma imagem aparentemente oposta à dos Estados Unidos, e assim seduzia os que buscavam novos horizontes.
E era um novo horizonte o que surgia diante desses expatriados, embora através de uma arquitetura antiga bem conservada, de uma idiossincrasia local avessa a mudanças, mas aberta ao aprendizado do mundo moderno, de uma terra antiga banhada pelo sangue de tantas guerras e de uma revolução que adentra o século 20 ainda com seu vigor intacto em face de todo o mundo.
A comparação não poderia ser mais conflitante com um país destinado a ser a potência maior do mundo moderno, auxiliada por sua industrialização e uma participação superficial em duas grandes guerras mundiais que lhe renderam o status de credora das grandes potências europeias. Mas um país com valores hipócritas de um cristianismo nativo que tolerava a escravidão e a violência acerba contra afrodescendentes; um país loucamente ávido por lucros e consumo, mais preocupado em produzir para o conforto da vida doméstica de seus habitantes do que para o desconforto de seus espíritos através do fomento a uma arte contestadora e reflexiva (arte que contava mais pelo valor de seu capital do que pela reflexão que poderia suscitar).
É dessa realidade merencória que os autores norte-americanos fugiram, buscando na capital francesa uma existência mais liberal em termos morais e sociais, e encontrarão algo além: uma capital onde aflui uma grande gama de intelectuais e artistas de diferentes direcionamentos estéticos, atraídos por uma efervescência cultural e condições propícias para a publicação e divulgação de seus trabalhos, seja pela tradição de valorizar os frutos do espírito, seja pelo câmbio amplamente favorável aos que tinham o dólar como moeda, e poderão levar uma vida confortável, senão faustosa na região parisiense.
O recorte temporal de Ralph Schor é particularmente interessante, pois foca nos anos decisivos de florescência desses autores americanos, e demonstra que sem Paris, suas carreiras muito provavelmente não seriam as mesmas.
Desse modo, o turbilhão cultural parisiense, os espetáculos, as leituras, os debates constituíam uma espécie de escola que formava o gosto dos escritores, ampliava-lhes o horizonte, dava-lhes pontos de ancoragem e de comparação, suscitava sua adesão ou sua rejeição, às vezes sua perplexidade, despertava entre eles uma real emulação. Sua escrita resultava, em boa parte, das experiências que viviam no núcleo criativo de Paris.
O interesse do livro de Schor não resulta apenas nesse instantâneo da formação dos autores. A obra vai além: traça uma análise sócio-histórica da época, tratando do contraste que os afrodescendentes americanos encontravam em termos de vida na terra dos direitos humanos; das artimanhas empreendidas pelos expatriados ianques (o que envolviam alistarem-se na Primeira Guerra Mundial) só para poderem residir em Paris; da análise do espírito francês e de seus costumes e peculiaridades vistos sempre em paralelo com os dos norte-americanos, entre tantos outros exemplos.
O livro empreende assim uma abrangente análise da capital, majoritariamente pelo ponto de vista dos autores americanos, com um eventual senso crítico por parte destes:
Outra queixa expressada com frequência: a frieza e a indiferença dos parisienses, preocupados unicamente com seus próprios assuntos. Para Dos Passos, “os franceses são as pessoas menos hospitaleiras do mundo”; “o povo mais egoísta da Terra”, reiterava Miller.
Mas o deslumbramento prepondera nas observações. Eis aqui o mesmo Miller (o escritor mais frequentemente citado na obra):
Henry Miller (…) admirava o francês, e confidenciou a um amigo: “No próximo ano escreverei nessa língua prestigiosa. Eu a amo. Amo a maneira pela qual os adjetivos afluem, e as expressões nuançadas, a cadência, a sonoridade, a sutileza de tudo isso”.
Paris dos escritores americanos é, ao cabo, um valioso documento dos anos formativos desses escritores que alcançaram seu lugar inquestionável no panteão dos grandes autores do século 20, ao mesmo tempo que um retrato do zeitgeist de uma época, num local delimitado, que não subsiste mais atualmente. E esse espírito vai além da tensão do momento entreguerras.
Dividido em duas partes, o livro não apenas traça esse retrato como também se preocupa, na segunda parte, em registrar breves notas biográficas das figuras estrangeiras importantes presentes na obra, e assinala sua relevância.
Assim, a despeito de toda a erudição e inteligência dessas duas obras aqui resenhadas, não deve o leitor comum, interessado em conhecer essa ilustre capital francesa — palco de tantas cenas históricas e memoráveis, algumas lamentáveis, sem dúvida, mas também mãe de tantas mentes brilhantes e acolhedora de tantos talentos estrangeiros — deixar de lê-las. Ambas, ricas em informação, são ao mesmo tempo escritas com um estilo objetivo e acessível. Mais que isso: suas páginas pintam aos olhos do leitor brasileiro, em vivas cores, as ruas, os costumes, o espírito e as peculiaridades da vida parisiense.