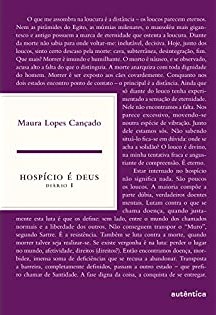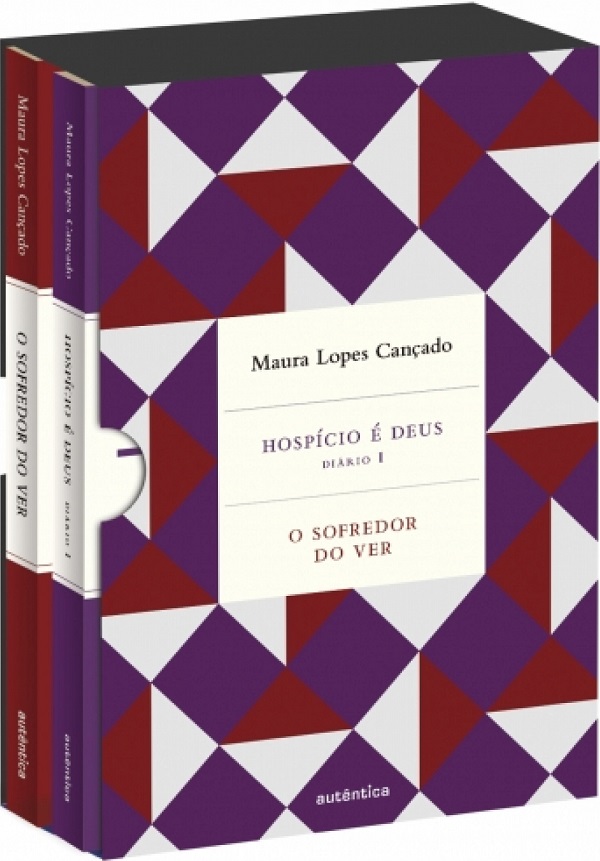Maura Lopes Cançado publicou dois livros: Hospício é Deus (1965), diário escrito num sanatório carioca, e O sofredor do ver (1968), contos. Costuma-se atribuir ao primeiro o estatuto de confissão, enquanto o segundo materializaria a criação literária. Produzido no calor da hora, o diário constituiria laboratório para a contística, fornecendo perfis e episódios posteriormente reelaborados em clave criativa. De fato, há forte intercâmbio entre as obras: personagens do título de 1968 inspiraram-se em pacientes homônimos do hospício; Maura registra no diário a redação e a publicação de contos, enfatizando a similitude entre as realidades vivida e contada. Entretanto, causa espécie a sobriedade estilística de Hospício é Deus, quando comparada ao discurso eletrizado de O sofredor do ver. Ambos os volumes ostentam título chamativo, mas o diário, escrito in loco, não transpira formalmente a tensão verificada nos contos, eivados de rupturas gráficas e espaços em branco. Do ponto de vista estrutural, o texto literário parece mais condizente com o terror do sanatório. O diário sangra revolta e dor, porém submete o páthos ao tom ponderado da autoanálise. O aparente descompasso entre forma e fundo solicita atenção, pois, a nosso ver, rasura a repetida fronteira entre confissão e criação.
Boa parte do diário foi escrita a lápis, no colo de Maura, incomodada com a má luz do quarto e com as internas. As folhas no colo e o lápis quase extinto simbolizam a intensidade da experiência, cuja escrita se torna extensão do corpo, ambos sob ameaça: Maura perturbada pela penumbra, pelas guardas e pelas internas; o grafite próximo ao fim. Sobressai a impressão da escrita urgente, quase fisiológica. Todavia, um episódio timbra o distanciamento analítico: dr. A. presenteia Maura com um bureau e a incentiva a começar um curso de datilografia, que, até a época de conclusão do livro, ela parece não ter concluído, já que foi a amiga e também escritora Maria Alice Barroso quem datilografou seus manuscritos. A presença da escrivaninha e a iminência da máquina de escrever fraturam o espelhamento entre texto e vida, pois se lhes interpõem enfáticos mediadores.
Abundam em Hospício é Deus elementos requerentes de seu estatuto literário, a começar pelo fato de ser um diário público, promovendo a partilha do sensível. Maura prevê a publicação do texto, o que, sem dúvida, modelou a escritura. O início do livro, por exemplo, compila extensa rememoração da sua juventude: a quem se dirigem essas informações? Supostamente, o diário equaliza os papéis de escritor e leitor, servindo para anotar acontecimentos importantes ou banais, impressões, sentimentos e lembranças. O autoexame e o pendor memorialísticos são inerentes ao gênero, mas o enunciador não precisa apresentar-se a si mesmo, a menos que haja a perspectiva da publicação, o que, em certa medida, compromete o esperado pacto de intimidade.
1Na sondagem do ficcional em Hospício é Deus, convém analisar a nomeação das pessoas. Internas, guardas e médicos, a quase totalidade do hospício é nomeada, às vezes com o requinte do sobrenome. Especificam-se, fora dele, colegas do Jornal do Brasil e do convívio literário, repertoriando o cenário das letras cariocas em 1950. Dentre os familiares, Maura designa algumas irmãs (especialmente, Judite e Selva), o padrinho Antônio e o filho Cesarion, sem maior especificação quanto aos pais, o marido e o sogro. Cabe-nos indagar acerca dessa discrepância onomástica. Vejamos como Maura descreve “Mamãe”:
Seu nome é Santa. É modesta, generosa e quieta. Talvez a mais modesta pessoa que conheço. Jamais em minha vida ouvi mamãe julgar alguém. É Álvares da Silva, família aristocrata, de sangue e espírito (ainda se pode falar sem constrangimento em aristocracia?). Descende de barões e coisas engraçadas. Possuo pouco conhecimento de nossa árvore genealógica. Sei que sou descendente de Joaquina de Pompéu, mulher extraordinária — que durante o Império manteve o poder político em Minas, entretendo com Dom Pedro II relações políticas e amistosas. Conta-se que mandou-lhe uma vez, de presente, um cacho de bananas feitas de ouro. De Joaquina de Pompéu nasceram oito filhas e um filho. Apenas este filho conservou de seu marido, Oliveira Campos. As oito filhas casaram-se em diferentes famílias, como Álvares da Silva, Maciel, Ribeiro Valadares, Vasconcelos Costa — e outras. Daí sermos parentes das principais famílias mineiras. Já se escreveu mesmo um livro sobre isto, Os gregos de Minas Gerais. Somos descendentes de nobres belgas, parece-me.
Ambos os volumes ostentam título chamativo, mas o diário, escrito in loco, não transpira formalmente a tensão verificada nos contos, eivados de rupturas gráficas e espaços em branco.
Papéis arquetípicos
O detalhamento genealógico desmente a alegada desinformação e desvia o parágrafo do objetivo de apresentar a mãe, restrita a parcas linhas iniciais, economia que se choca com as várias páginas dedicadas ao pai. Acresce ainda o equívoco no registro do nome materno, em verdade Affonsina Lopes Cançado. Todos esses aspectos insinuam que certas pessoas — como os pais — desempenham, na escrita, papéis arquetípicos, entrando no diário menos como entes referenciais do que como personagens simbólicos na aventura existencial da protagonista. Tudo coopera para a imagem que Maura cria para si: a hipertrofia paterna antecipa o perpétuo desejo de proteção, bem como a postura altiva, enquanto o vazio materno prefigura a inadequação ao estereótipo feminino de moça religiosa, serena e maternal. A ênfase na estirpe gloriosa, remontando a gregos e belgas, forja o perfil nobre de Lopes Cançado, cuja irreverência se espelha em Joaquina de Pompéu.
No âmbito profissional, impera referencialidade mais objetiva, o que tanto reforça a imagem de autora bem relacionada quanto empresta tonalidade mais ramerrã à redação de jornal, reduto da escrita menos visceral do que a do diário. Nomeando as internas, Maura resgata-lhes a humanidade perdida no manicômio aviltante, cujos guardas e médicos também são citados, em protesto. Excetuam-se os doutores A. e J.. Pode-se alegar que Maura, temendo confisco do diário, optasse pela linguagem cifrada; contudo, dr. Paim, diretor do hospital, é abertamente ironizado, sobrando farpas inclusive para sua filha, a escritora Alina Paim. A opção pela letra única A. e J. não parece mesmo ter motivação prática, antes estilística.
A. e J. encarnam, respectivamente, o máximo de amor (por isso a inicial?) e de ódio sentidos por MLC no hospício. O segundo encara o interno como inimigo a ser punido com eletrochoques e quartos-fortes, tornando-se a letra-síntese dos aspectos negativos do hospital. Na direção inversa, há o afeto crescente entre a paciente e dr. A.: inicialmente, ela julga-o incapaz de alcançar seu nível de inteligência, rejeição a que se acrescenta certo racismo ao médico negro. Aos poucos, todavia, ele amacia a interlocutora, oferecendo-lhe respeito, ternura e diálogo, horizontalizando a relação que desperta o amor de Maura por A., a quem, antes da declaração explícita, ela esbanja seus atributos físicos.
A insinuação erótica ao médico constitui etapa importante na transformação do sentimento amoroso em Hospício é Deus. Na regressão estampada nas páginas iniciais do diário, Maura conta a iniciação sexual aos cinco anos, observando animais e jovens no interior de Minas. De observadora passa a vítima, quando, mais tarde, é estuprada por funcionários do pai. A incursão deliberada no sexo ocorre com amigas da escola até, aos 14 anos, engravidar de um companheiro do aeroclube, com quem se casa. O erotismo desperta bruto e doloroso (animais e abuso), seguido da experimentação provisória da homossexualidade até a vivência voluntária e socialmente aceita. No horizonte patriarcal do início do século 20, a moça teria atingido o auge do amor, mas, casada com o pai do filho, apaixona-se pelo sogro, logo se separando do marido. Depois, dinheiro e amantes conjugam-se na fase boêmia da escritora até a primeira internação em hospital psiquiátrico. Sucedem-se, portanto, diferentes faces de amor incompleto antes do surgimento de A., que, sem usurpar nem desmerecer o físico de Maura, despertará nela compreensão mais abrangente do sentimento, para além da carne. Assim, Hospício é Deus é uma narrativa de descoberta do amor: não por acaso, finaliza, melancolicamente, com as férias do médico, o que, causando grande sofrimento em Maura, lhe deixa o legado da epifania. Não há enlace concreto entre eles, pois A. não é amante, mas agente revelador de potência ainda desconhecida no interior de Maura ou, se quisermos, seu terapeuta… Não parece gratuito o presente que ela oferece ao amado: o romance A peste, de Albert Camus, que também encena a solidão dos doentes de uma cidade infestada pela peste bubônica, posteriormente empenhados em esforço coletivo de salvação (e as doentes do Engenho de Dentro trabalham juntas no centro terapêutico concebido por Nise da Silveira).
Aliás, as referências literárias de Hospício é Deus, presentes em epígrafes, alusões e citações, parecem destacar seu componente ficcional, confirmado pela sequenciação dos fatos narrados. O texto inclui diversos flashbacks, ativados pelas semelhanças com o presente da enunciação. Examinemos um exemplo. Maura reflete sobre a publicação do diário: “Seria verdadeiramente escandaloso meu diário íntimo — até para mim mesma, porquanto sou multivalente, não me reconheço de uma página para outra. Prefiro guardar minhas verdades, não pô-las no papel”. Após desbancar a veracidade imputada ao gênero, presenteia a filha de uma interna com O diário de Anne Frank, atestando que, como o europeu, Hospício é Deus é também um conjunto de folhas e tinta. Depois, ela dirá que Anne Frank não ficou louca porque amava, intensificando conexões entre ambas.
Outros aspectos tornam a autora personagem do próprio diário: ao roubar um livro de dr. A. sobre a loucura ou ao procurar seu nome nos registros de ocorrência do hospício, deseja também se ler no discurso alheio. Ver-se como outra acusa a forte inclinação teatral de Hospício, a qual, sim, pode se vincular ao quadro clínico da paciente, sem, todavia, mitigar a rentabilidade estética do dispositivo: Maura finge amnésia, ataques, suicídio, ensaia peças de teatro, sempre à busca de efeito cênico.
A datação do diário também projeta ramificações simbólicas: o primeiro bloco da obra, recompondo a infância, não vem datada, como se pertencesse a domínio mítico, fora do tempo e do diário. Embora a cronologia seja rigorosa, abarcando a virada do ano para 1960, chama a atenção o fato de MLC falar do Natal e do Carnaval, sem nada comentar acerca do Ano-novo. A omissão sugere o tempo circular e claustrofóbico do hospício, onde nada se transforma (leia-se No quadrado de Joana, de O sofredor do ver). Ironicamente, a festa natalina celebra a solidão e a infelicidade das pacientes. O Carnaval, todavia, resgata o ludismo dramático, representado pelo cabelo de Dona Auda, tingido com água oxigenada.
Os espaços não escapam à arquitetura metafórica do diário: a primeira internação de Maura no Rio de Janeiro ocorre em luxuoso sanatório particular do Alto da Boa Vista, migrando depois para o precário hospício do Engenho de Dentro. Do pomposo estabelecimento inicia o segundo guarda apenas certa glória de “engenho”, cuja especificação “de Dentro” assinala a crescente pesquisa interior da paciente. Do alto ao baixo, do luxo ao lixo, de fora para dentro, os dois espaços pontuam a experiência radical esboçada no diário.
Se é válida essa interpretação, resta saber por que a autora não optou pelo gênero romanesco. Responde ela mesma: “Incapacidade quase total de escrever. Lapsos. Terei resistência para escrever um romance? Há longos vazios em minha mente que me tornam difícil formular uma história. Se me fosse possível escrever mais rápido, e sem as interrupções. Estou sempre cansada, disposta a deixar tudo para começar depois. Quando? Me pergunto”. O diário constitui, portanto, o melhor caminho para “romancear” a vida instável, já que é gênero intrinsecamente descompromissado com unidade, clímax e desfecho, podendo sempre recomeçar. Daí talvez a perspectiva de continuidade assinalada pelo subtítulo de Hospício é Deus: Diário I.