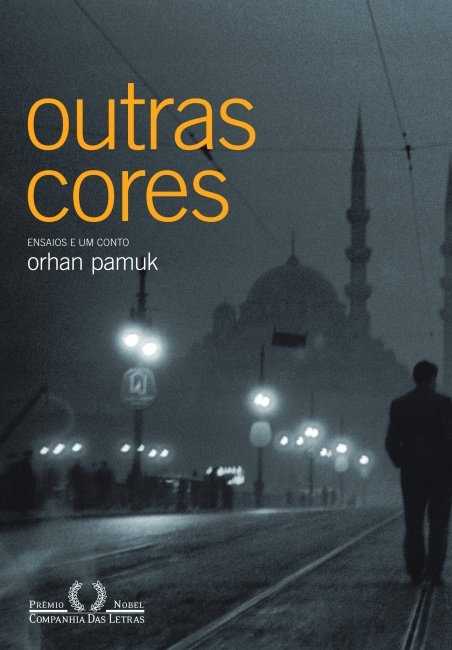Escrevendo um prefácio para Tristam Shandy, Orhan Pamuk, prêmio Nobel de literatura de 2006, a certa altura, põe-se a lembrar o leitor (e a si próprio) de que vive em um país pobre em que os livros são lidos não por prazer, mas por sua utilidade. Nesse país, o prefaciador teria aprendido a necessidade de recomendar livros que de algum modo contribuíssem para que o leitor pudesse se aperfeiçoar: Guerra e paz valeria a pena por fornecer detalhes sobre a Batalha de Borodino; Moby Dick, por apresentar um relato enciclopédico sobre a caça às baleias; o livro prefaciado, por oferecer “inestimáveis percepções sobre a vida e a época de um menino nascido na Irlanda do século 18, e que se tornaria vigário inglês”.
Ironias à parte, na página seguinte entenderemos que o fascínio central da obra de Sterne, para Pamuk, estaria em fazer parte de uma tradição que comportaria, também, Ulisses, livro que “faz o possível para salvar o mundo do realismo superficial”. Ainda: por ser difícil detectar no livro um centro em torno do qual todo o resto se organizasse, por serem desafiadas em sua forma concepções estabelecidas sobre a vida e a literatura, pelas liberdades tomadas quanto às tradições de seu tempo e de seu lugar. De certo modo, creio, pelas relações desagradáveis entre Sterne e seus contemporâneos, derivadas dos aspectos mencionados.
Outras cores, ensaios e um conto é uma nova versão do livro Outras cores, publicado em Istambul, em 1999. A primeira constituiu-se como uma antologia resultante de um período, entre 1996 e 1999, em que o romancista escreveu para uma revista de política e de humor “breves ensaios líricos”, em que se flagravam os momentos vividos com a filha, os livros e pinturas preferidos, mas também terremotos ou outras ocasiões de comoção ou pensamento.
Esta versão aparece composta de modo a produzir uma espécie de narrativa autobiográfica pela edição e reordenação dos textos presentes na primeira versão, com inclusão de novos textos, como o prefácio mencionado, os escritos sobre experiências nos Estados Unidos, ou os discursos (publicados à parte, em turco, com o título A maleta de meu pai). Compõe-se, assim, uma seqüência: “Idéias, imagens e fragmentos de vida que ainda não encontraram lugar em meus romances”. E, se o tom é assumidamente biográfico, lembrar que o jovem Orhan dedicou-se por alguns anos à pintura (depois abandonada pela arquitetura e, enfim, pela literatura) talvez ajude a propor um primeiro sentido para o título escolhido para as duas obras:
A partir do momento em que utiliza as palavras como cores num quadro, o escritor começa a ver o quão maravilhoso e surpreendente o mundo é, e quebra os ossos da linguagem para encontrar a própria voz.
Em Outras cores, narra-se a história de um escritor em busca de sua voz. Uma voz que se forja por uma rotina cotidiana de isolamento e trabalho, por uma disciplina incansável, pela aceitação de privações e insegurança financeira, mas sobretudo por uma relação vital com as palavras e os livros. Uma relação cheia de percalços, como as demandas a respeito de quais seriam os temas adequados para um escritor “turco-não europeu”, personificadas no jovem da platéia que ressurgia em cada conferência ou leitura pública de trechos de seus romances, escarnecendo de alguém que ousava “escrever livros que falavam com desenvoltura sobre a beleza abstrata”, quando “ainda havia tortura e opressão na Turquia”. Percalços como o imperativo de uma literatura nacionalista:
Portanto, essas conversas sobre identidade e as intermináveis questões de nacionalidade, apenas contribuíam para criar a atmosfera de família. Quando a leitura terminava, os organizadores levavam-me, com mais dez ou quinze pessoas, para comer. Geralmente era um restaurante turco. Mesmo que não fosse, as perguntas que me fariam à mesa, as piadas que os outros contavam entre si e os assuntos que abordavam logo me davam a impressão de estar na Turquia, e, como eu estava mais interessado em discutir literatura do que em falar sobre a Turquia, aquilo me deprimia. O que percebi depois foi que, mesmo quando parecíamos discutir literatura, na verdade discutíamos a Turquia. Literatura, livros e romances serviam apenas de pretexto para falar ou fugir das perturbadoras incertezas de personalidade das quais emanava nossa profunda infelicidade.
Alteridade elaborada
Nesse sentido, uma primeira particularização dessa voz derivaria da ocasião específica de tratar-se de um escritor de Terceiro Mundo, consciente de estar produzindo uma obra de algum modo deslocada em relação aos centros onde se escreve a história do gênero a que se dedica: o romance. Um gênero que, para Pamuk, não pode ser entendido em termos das “alegorias nacionais” propostas por alguns teóricos, mas por uma tomada consciente de posição em relação à alteridade. O romance seria, nesse sentido, um gênero em que a alteridade é ficcionalmente elaborada e no qual não há escrita conseqüente se a liberdade do escritor quanto a tal elaboração for de algum modo cerceada:
O romancista que aplica bem as regras da sua arte sentirá que só coisas boas podem resultar da identificação com esse outro. E também saberá que pensar sobre esse outro que todos conhecem e julgam ser o oposto de si pode ajudá-lo a libertar-se dos limites da sua própria persona. A história do romance é a história da libertação humana: ao nos colocarmos no lugar do outro, usando a imaginação para nos desprender da nossa identidade própria, podemos conquistar a liberdade.
Ao longo de suas páginas descobrimos que há toda uma teoria do romance dispersa na obra, e que ela talvez possa ser abordada a partir de dois termos: a alteridade e a construção quase arquitetônica de uma estrutura cujo centro se disperse sem que se possa localizá-lo concretamente. O gosto da dispersão chega a ser defendido como uma opção estilística, como o projeto de uma escrita avessa a outro imperativo, o imperativo formal da concisão. Para Pamuk, o romance é o gênero da proliferação, o que lhe permitiria ser um gênero adequado (o mais adequado) a tratar do mundo moderno.
Emprestam-se, assim, ainda outras conotações ao título Outras cores. O romance pode ser pensado, então, enquanto gênero, a partir de um texto como Meu primeiro passaporte e outras viagens pela Europa. Ali, a descrição do pequeno Orhan, constante do documento oficial, não coincide com a verdadeira cor de seus olhos: “O que aprendi com isso foi que — diferentemente do que eu pensava — o passaporte não era um documento sobre quem somos, mas sobre quem os outros pensam que somos”. Recusando-se sistematicamente a ser “turco” (ou apenas “turco”), Pamuk professa o desejo de escrever sobre a pluralidade que o habita, sobre algo mais complexo que a identidade compreendida como derivação da pertença a uma etnia:
Talvez seja bom saber que um passaporte — documento que registra os estereótipos e os julgamentos dos outros a nosso respeito — pode aliviar nossas tristezas, ainda que seja um pouco. Mas nossos passaportes, todos eles parecidos, nunca deveriam nos cegar para o fato de que cada indivíduo tem seus próprios problemas de identidade, seus próprios desejos, e suas próprias tristezas.
O romance torna-se, assim, uma maneira de pensar, mas em especial de pensar o lugar do outro. A esta difícil tarefa seria dedicada a literatura de Pamuk. No discurso com que agradeceu a premiação que lhe atribuiu a Academia Sueca , intitulado A maleta de meu pai, o romancista tece uma densa memória do pai que desejou um dia ser escritor, mas que, sem renunciar a uma vida aparentemente adversa à escrita legou ao filho uma maleta cheia de cadernos e notas inconclusas. Esse mesmo homem fracassado respeitou sozinho a opção do filho pela escrita e pela vida que a possibilitou. Foi, ainda, aquele que vaticinou que seu menino um dia receberia a honraria, com a verdade e o desejo de um pai amoroso e generoso, que levou a seu modo uma vida feliz e compensadora. Pensando o lugar do outro, o lugar do pai como outro, Pamuk ocupa seu próprio lugar sem hesitações ou complacências:
Não escreva assim, escreva assado; se vai escrever, então escreva desse jeito; sua mãe ficará furiosa, seu pai ficará furioso, o Estado ficará furioso, os editores ficarão furiosos, os jornais ficarão furiosos, todo mundo ficará furioso; vão estalar a língua e sacudir o dedo; faça o que fizer, eles sempre interferem. Você pode dizer “Deus me ajude”, porém, ao mesmo tempo pensará: vou escrever de tal maneira que todos ficarão furiosos, mas será tão lindo que terão de baixar a cabeça.
O livro é percorrido, de extremo a extremo, por um humor sutil e de grande delicadeza, mas também por um certo tipo de displicência. A voz (embargada ou risonha) aborda afetos particulares, memórias doces ou incômodas, teorias do romance ou do narrador, inventariando com particular dedicação as leituras mais caras, as incompreensões resolvidas pelo leitor interessado e atento, bem como as lições colhidas em cada exemplar de uma biblioteca afetiva sem fronteiras ou catalogações prévias. Um olhar atento que se estende, enfim, para o mundo circundante, matéria futura de páginas a serem escritas. Como quando presenciamos o primeiro contato do menino com americanos, em uma ocasião em que a família se mudara para Ancara:
Num dos novos apartamentos, (…) havia uma bela jovem americana, em quem prestávamos a maior atenção. Um dia seu marido tirou o carro da garagem e passou lentamente por nós, interrompendo nosso jogo de futebol, enquanto contemplava-a em pé na varanda com sua roupa de dormir, soprando-lhe um beijo. Ficamos um bom tempo calados. Por mais amorosos e apaixonados que fossem, os adultos que conhecíamos jamais demonstrariam sua felicidade diante de outros de modo tão displicente.
Outras cores, obra de gênero indefinido organizada pelo sofisticado romancista pós-moderno Orhan Pamuk (que já respondeu a processo por difamar a nacionalidade turca em uma entrevista em que denunciou casos de genocídio), trata as palavras e as memórias que as circundam com a displicência dos amantes.