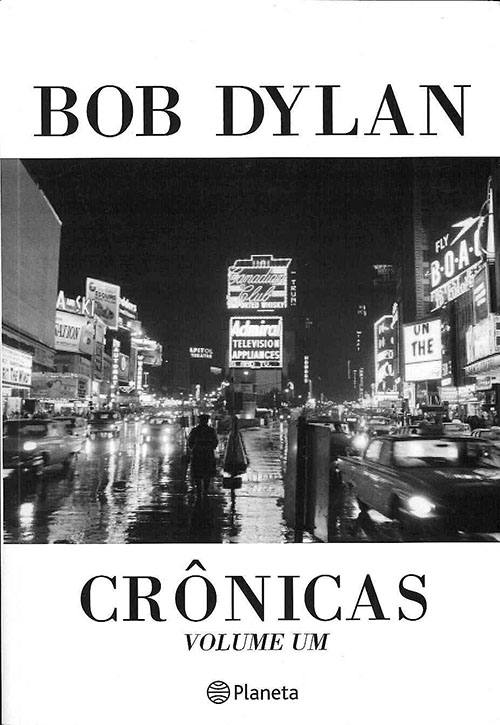Diz o povo que toda e qualquer mentira é atarracada e tem as pernas curtas. Bob Dylan, lançando mão da mesma lógica, quer nos fazer crer que as verdades, por sua vez, sejam encantadoramente “coxudas”, ligeiras e longilíneas, entidades perturbadoras de nosso sossego devido a sua beleza e eficácia. Premissa interessante, mas possivelmente falsa, fácil de ser desmontada. Afinal, é justamente quando se dispõe a escrever sobre essas verdades, cobiçadas e sedutoras como um tesouro enterrado no coração do século 20; é quando as amontoa sob a forma de livro de memórias — longo relato autobiográfico que faz de seu século e de sua terra luxuosos coadjuvantes —, que Dylan melhor engana seus leitores. Em especial, os que engrossam as tropas da imprensa cultural, para quem os folclorismos são sempre bem-vindos. Aliás, é desse reducionismo que costuma queixar-se o zoólogo Paulo Vanzolini, coincidentemente também compositor: diz ele que o jornalista — e, por conseqüência, aquele que lê e sustenta o jornalista — estaria sempre atrás do pitoresco e do lendário em seus personagens. Tudo precisaria ter ou esconder uma história, de preferência exótica; tudo — uma canção, um poema, um romance, um casamento — exigiria ser documentado e/ou divulgado com graça e urgência. Admitindo-se que nisso haja alguma verdade, por que Dylan, ao perceber que podia, ele próprio, redigir, publicar e vender a lenda oficial de sua vida, não lançaria suas Crônicas?
Para lê-las, é necessário, antes de mais nada, destituí-las da sacralidade limitante a que muitos, deslumbrados, as condenaram. Dylan, ao que tudo — e principalmente ele indica — está mentindo. Sobre isso, logo nas primeiras páginas de seu livro, uma boa pista nos é oferecida. Quando o autor, prestes a assinar contrato com a Columbia Records, é levado pelo caça-talentos John Hammond para um encontro com Billy James, espécie de assessor de imprensa da gravadora, dá-se um diálogo revelador. Encarregado de escrever uma “matéria promocional” sobre o lançamento daquele jovem compositor, James teria entrevistado um Dylan já arrogante e monossilábico. Forçado a falar de si próprio, o cantor resume sua trajetória em pouquíssimas palavras: o pai eletricista o expulsa de casa, em Detroit; Bob, contrariado, sobe num trem de carga e parte para Nova York. Ao contrário do que acontece com os leitores de Crônicas — Volume 1, Billy James não fica sabendo que nada daquilo acontecera. Tratava-se de “pura baboseira, papo de doidão”, desvenda-nos o autor.
Dylan, em suas memórias, parece esforçar-se para ser compreendido como um personagem antes ficcional, literário, que real; alguém que não se mostra exatamente avesso a mitificações de natureza mais ou menos duvidosa, mas, sim, à mitificação que historicamente lhe impuseram. Por isso, renega valores antes associados a sua personalidade e a seu trabalho, recria-se sem escrúpulos, culpas ou maiores compromissos. Seus recursos estilísticos — pouco originais, mas funcionais e corretos — servem bem à hipótese da reinvenção do mito pelo próprio mito. A desordem cronológica de suas lembranças, carentes de datas e contextos, os eventos aparentemente desimportantes que faz questão de revisitar, a fria institucionalização daqueles a quem Dylan ama, amou ou deveria ter amado — “minha família”, “minha esposa”, “meus filhos”, “meu pai” e “minha mãe”, nunca nomeados —; todos esses são elementos que ajudam o autor a distanciar-se das páginas de sua própria autobiografia. Sua vida verdadeira, íntima, privada, permanece isolada, fora do alcance e da vista dos fãs por quem o ídolo, sem temer a impopularidade, confessa não alimentar qualquer simpatia.
Mas por que Dylan prefere esconder-se mesmo quando escreve sobre o que jura ser sua quintessência? Talvez porque, como quase todo criador de gênio, ele tenha uma queda perversa pela mentira alegórica, pela fábula que incomoda e pela metáfora que confunde, pelos códigos narrativos que exigem a imaginação e a espirituosidade de seus decifradores. Vejamos, por exemplo, o que diz o compositor sobre o tipo de música que lhe fez a fama:
“As canções de folk são evasivas — a verdade a respeito da vida, mas a vida é mais ou menos uma mentira, só que é exatamente o que queremos que seja. Não ficaríamos confortáveis de nenhuma outra maneira. Uma canção de folk tem mais de mil faces, (…) pode variar de significado e pode não parecer a mesma de um momento para o outro. Depende de quem está tocando e de quem está escutando.”
Reconstruir, remodelar os fatos ao narrá-los ou ouvi-los, dar-lhes interpretações renovadas, mutáveis, tudo surge como uma questão imprescindível e relativa de “conforto”, um processo em que a subjetividade e a independência tanto do artista quanto do seu ouvinte são colocadas como fatores primordiais ao bom funcionamento da comunicação entre eles. Dylan reforça essa idéia quando, ao discorrer sobre a tradição oral e a temática da música folk, afirma, malandramente: “Eu andava cantando um monte de canções sobre acontecimentos reais. Você sempre podia encontrar algum tipo de ponto de vista e apostar suas fichas nele, e o compositor não precisa ser fiel, pode contar qualquer coisa, e você vai acreditar”. Em seguida, ilustra sua teoria dizendo que, graças à romântica balada que o compositor Billy Gashade supostamente escreveu para o bandido Jesse James, muitos ainda acreditam que ele teria sido um autêntico Robin Hood norte-americano, um herói das massas desfavorecidas abatido à traição por um “covardezinho sujo” qualquer.
Dylan também entrega suas intenções mitistóricas ao selecionar e enumerar as influências artísticas que teriam agido com maior intensidade sobre sua juventude e sobre os primeiros anos de sua carreira. Sob esse aspecto, é bastante esclarecedor o longo trecho das Crônicas dedicado às incursões de Bob, astuto e absolutamente blasé, pela vasta biblioteca de Ray Gooch e Chloe Kiel, casal que lhe deu guarida em Nova York antes da celebridade. Os comentários que faz das obras e dos autores que ali encontra ou descobre são típicos de quem já se sabe, hoje, personagem de renome mundial e relevância atemporal, verbete enciclopédico ambulante. De propósito, Dylan se compara — se equipara — e se refere a diversos artistas, pensadores, políticos e cientistas reconhecidamente brilhantes como a um bando de colegas de escritório muito ou semitalentosos, alguns um tanto chatos, outros até que bem divertidos. Dessa forma, ficamos conhecendo as opiniões do autor sobre “Balzac, o romancista francês”, “Freud, o rei do subconsciente”, “Smith, o profeta americano”, “Gutenberg, o cara que inventou a imprensa”, “Defoe, o inglês que escreveu Moll Flanders”, “Rasputin, o monge siberiano louco” e “Moby Dick, a história definitiva de pesca”. As idiossincrasias do compositor oscilam entre a irreverência desavergonhada e a ingenuidade gritante — essas peregrinações à biblioteca, não custa lembrar, teriam sido levadas a cabo por um Dylan ainda acaipirado, recém-chegado à cidade grande e recém-liberto da adolescência.
O efeito, positivo, é quase hilário. Na casa de Ray e Chloe, Bob Dylan teria sido introduzido ao pensamento e à obra de poetas como Dante, Ovídio, Byron, Shelley, Coleridge, Longfellow e Poe, entre dezenas de outros. Descobrira a pólvora, finalmente. Quando leu Massacre no Piemonte, de Milton, conta ter se surpreendido ao perceber que aqueles versos, que relatavam a matança de inocentes pelo Duque de Savóia, eram como um poema folk, “só que mais elegantes”. Dylan também notou semelhanças entre ele e Dostoiévski, um russo sofrido que teria escrito “histórias para escapar dos credores”. “Do mesmo modo que eu escrevi álbuns no começo dos anos 70 para escapar dos meus”, brinca o roqueiro milionário. Fica evidente que, para ele, é como se não houvesse panteões inalcançáveis. Ao contar sobre a visita que fez, certo dia, à casa de Tolstói nos arredores de Moscou, Dylan destaca: “Um guia turístico deixou-me andar na bicicleta dele”.
Há também, em Crônicas, o Bob Dylan que afirma ter desejado balear e riscar do mapa as dúzias de hippies que habitualmente invadiam sua propriedade rural em Woodstock; o transgressor que confessa ter sonhado com uma carreira militar gloriosa e que almejava morrer num campo de batalha; a estrela que queria ter sido um novo Pablo Picasso, alguém que tinha “quebrado o mundo da arte” e que, aos 70 anos, ainda traçava as suas mocinhas; o astro que se aconselhava com Tony Curtis, que cantou para John Wayne num navio cenográfico no Havaí, que excursionou com Tom Petty, que era um fracasso social e nos estúdios de gravação, que dava ouvidos a inúmeros paranóicos de beira de estrada. E há, também, o Dylan que, ao receber um diploma de doutorado honorário em Princeton, foi aclamado pelo reitor como “expressão da consciência perturbada e engajada da América jovem”. Não é de se estranhar que ele tenha pensado em reinventar-se e em se vingar dos acadêmicos. No livro, é com gosto que o músico David Crosby os define como “bando de cuzões auto-aduladores”. A mídia também não escapa do descaso desse Dylan repaginado. “A imprensa?”, pergunta-se ele. “Concluí que você mente para ela.”
Para quem Dylan não mente, afinal? Quando é sincero? Talvez ao reafirmar seu amor por Roy Orbison, híbrido de “mariachi e cantor de ópera”; seu respeito por Johnny Cash, de quem “emanavam dez mil anos de cultura”; sua dívida com Woody Guthrie, grande guia ético e profissional; sua admiração pelo cinismo corajoso da obra de Bertolt Brecht e Kurt Weill; sua surpresa ao deparar-se com a música quase primitiva de Robert Johnson, o bluesman que proferia “verdades coxudas” e absurdamente chocantes. Tudo isso parece comovê-lo.
Para finalizar o primeiro volume de suas Crônicas — mais dois estão a caminho —, Dylan ainda cita “Rimbaud, o simbolista francês”: “Eu é um outro”, sugere, proclamando-se personagem fugidio e indistinto de si mesmo. O livro acaba onde começou: na Columbia Records. Lá Bob Dylan assina o seu primeiro contrato com uma gravadora. Sessenta milhões de discos depois, seu clássico Like a rolling stone embala um comercial da Coca-cola.