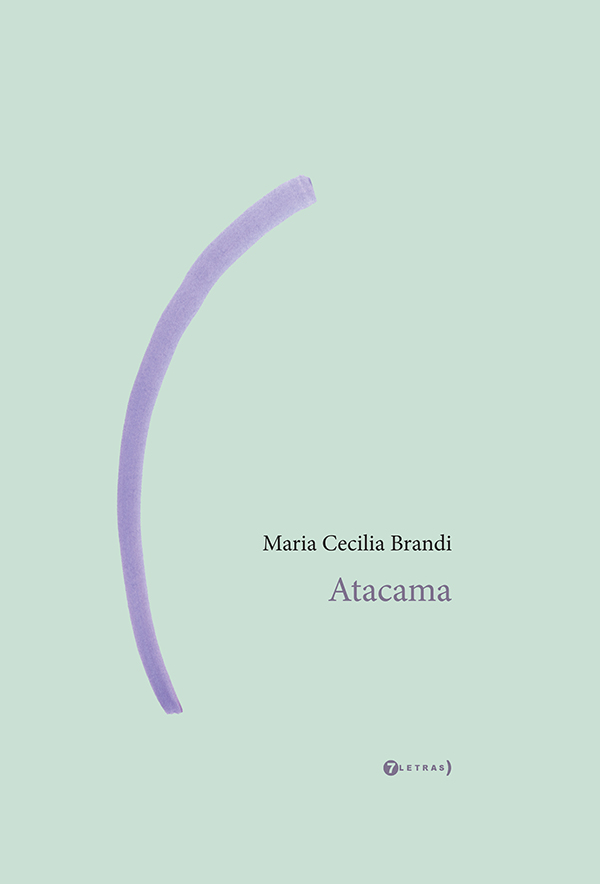Atacama é o deserto mais árido e alto do mundo, único lugar em que a água raramente banha a terra, composta de areias milenares e sítios arqueológicos pré-colombianos. Ali, apenas morte, silêncio e passado.
Além de sua intensa aridez, Atacama também consegue a proeza de interromper o fluxo da umidade nas nuvens que chegam do Pacífico. O poder de filtrar e ressecar o que vem de fora, a impermeabilidade, o limite natural intransponível: a extensão da terra não permite a passagem da brisa marítima. Encontramos, assim, a natureza em sua face mais cruel, inóspita, revolta: a essência do planeta. É justamente essa extrema aridez que faz dele um dos lugares mais belos e únicos do mundo. O que poderia ser considerado demérito se torna magicamente qualidade invulgar.
Não. Não é sobre esse lugar montanhoso e vulcânico que Maria Cecilia Brandi escreve; o deserto de Maria Cecilia reside em suas mãos e nos olhos ágeis que filtram de sépia o tempo e o espaço por onde transita. Não à toa, Passagem é o primeiro poema do livro, indicando exatamente a matéria de que a poeta se serve para escrever: a necessidade de “cingir-se ao realismo como vento/ que dobra na curva sem dor”, a chegada da idade em que “aprendemos a voar quietos” suspeitando da existência de “fios invisíveis” que talvez manobrem e determinem o caminho dos homens.
Nesse deserto de que fala Maria Cecilia, algo grande, majestoso, atroz, faz a vida parecer suspensa, inaudível. Ressalte-se a importância, contudo, do verbo “parecer”: porque a vida não se suspende, ela flui, a despeito de nossas impressões parciais e limitadas. Seja no sul da Espanha, nos carrosséis franceses (“Um eixo fixo, mas tudo gira”), na área de serviço, na aula de natação, “no incêndio de palavras que precede a conversa”, no bocejo que antecede o sono profundo — “o que importa é o afeto”.
A poeta estréia trazendo a beleza silenciosa e serena do deserto para os momentos mais áridos e doloridos da vida, aqueles onde o amor não é capaz de regar palavras fáceis e excessivas. Faz uso de formas livres de poemas, versos curtos, poemas em prosa, transitando livremente para surpreender sempre. Aqui não há suavidades, sentimentos úmidos e melosos das praias nordestinas. Aqui, nada que remeta à profusão de adjetivos, feito a mata espessa da Serra do Mar. E ainda assim há uma ternura intensa, ainda assim se exibe uma espécie de imagem exótica, distante, impalpável, onde a vida continua, apesar de parecer que o tempo e o espaço esqueceram sua própria função.
Claro, quando se ama jorram vendavais de idéias, dilúvios de versos e rimas e tudo parece fácil, estupidamente belo e doce, encantador — tudo digno de ser anotado e, pior, eternizado em cadernos sem fim. Quando se ama, entra-se numa floresta de palavras que insistem em nascer profusa e ininterruptamente, sem qualquer motivo: basta uma rachadura no cimento e já estão lá capins, matos, marias-sem-vergonha a exibirem sua mesmice. Sem que ninguém tenha pedido, oferecem-se. Sobre a superfície confortável e festiva da paixão, o senso de julgamento fica abalado, mãos e olhos permitem o trânsito de tudo que seja ordinário e quem escreve pode já não ser o poeta, mas alguém que possivelmente perdeu a noção do ridículo.
Maria Cecilia Brandi, de mochila nas costas e um Instagram poético entre os dedos, focaliza e filtra exatamente o oposto: extrai o encanto exatamente da penúria, da secura, da ausência, dos desenhos na areia, do chão pedregoso por onde caminha, do canto inaudível que embala noites de vento onde nenhuma folha irá escutá-lo. É exatamente a poesia o que acontece enquanto a vida caminha sob as sombras, distante dos flashes e holofotes dos acontecimentos memoráveis.
Sob as sombras
Lembro que foi Rainer Maria Rilke quem advertiu, logo na primeira das suas Cartas a um jovem poeta: “Não escreva poesias de amor”. É senso comum que a maioria vira as costas para essa lição e arrisca as primeiras palavras exatamente nas poesias de amor (ops, mea culpa, eu já cometi esse crime). Maria Cecilia, porém, obedece a Rilke e a outros bons mandamentos do mestre sobre como fazer a grande poesia: “Aproxime-se então da natureza. Depois procure, como se fosse o primeiro homem, dizer o que vê, vive, ama e perde”.
A poeta aproveita essa e outras oportunidades para mostrar sua ousadia e força. Observa com firmeza “a estrada: única palavra/ ao alcance do horizonte”, fala do “enxoval de palavras burocráticas ditas” se contrapondo ao “enxoval de palavras poéticas engolidas”, das vezes em que “ficava com os adultos na lareira e não parecia que/ tinham segredos tristes”, das noites soturnas quando, após conhecer Elizabeth Bishop, “faltam motivos para/ não escrever”.
A ternura da passagem, o realismo da briga, a falta de tesão no sono, o amor retalhado feito um coração suturado sobre a maca do hospital: Maria Cecilia sabe falar com precisão rara sobre a aridez da dor, sobre a destruição que o próprio amor é capaz de causar, sobre a “velocidade das coisas”. E, ao falar do amor, permite-se apenas lembrar daquela espécie de afeto eterno que pode ser dedicado a um jabuti, a um cão, ou a um simples e fugidio momento, quando encontramos rastros, pistas, vestígios do que já fomos.
O livro se fecha e o leitor permanece à espera: de uma nova viagem, de um novo enquadramento, de outros inúmeros motivos que tiram o sono e fazem a poeta ouvir ventanias de areia, travessias improváveis, e sombras que não ousamos encontrar — pero que las hay, las hay.