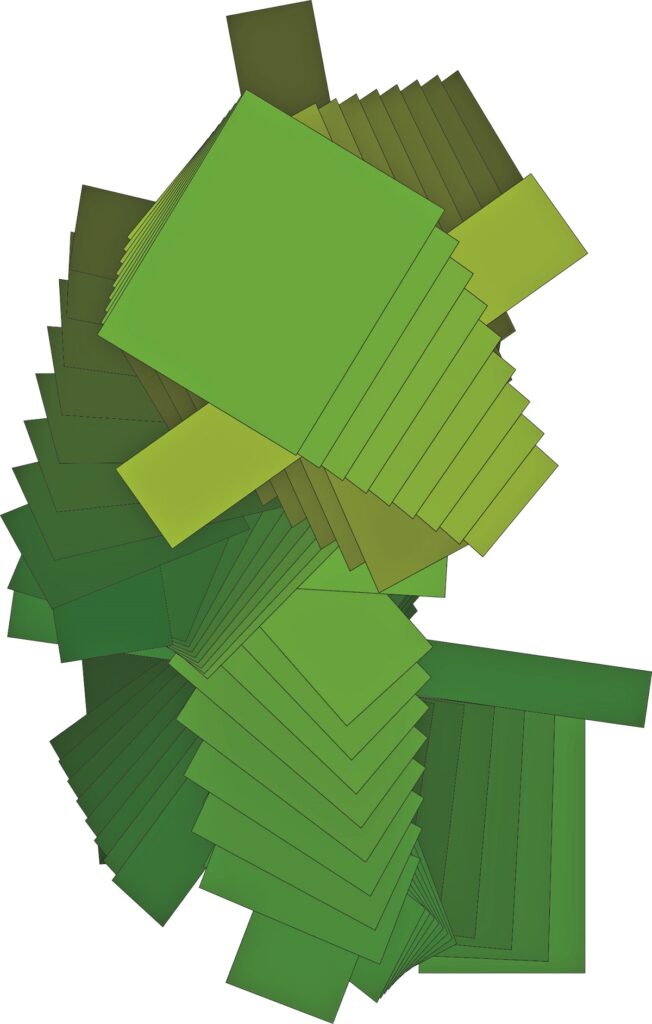Enquanto admiradora de artes plásticas, procuro me informar sobre as estéticas, sobretudo quando elas não me conquistam de imediato. Afinal, um aprendizado consiste em acrescentar juízos e ponderações àquele estágio emotivo primeiro, que nos identifica — ou não — com a obra de arte. Embora a emoção nunca deva ser desprezada, e em última instância retorne como o eficaz medidor das nossas preferências, sair de uma contemplação “selvagem” exige estudo.
Eu me empenhei bastante em apreciar o Concretismo. E inicialmente pensei que, sendo uma tendência derivada do Construtivismo, a arte concreta talvez pudesse ser articulada com a revolução comunista. O pensamento em torno do Estado Operário negava qualquer primazia ao artista: estava longe o tempo em que a “musa” tocava de maneira especial um indivíduo; aos olhos da sociedade soviética, qualquer sujeito, fosse poeta, artista plástico ou operário, deveria estar a serviço do bem comum.
Desde o momento em que o termo “arte construtivista” foi aplicado pela primeira vez por Malevich para descrever o trabalho de Rodchenko, uma sugestão do clima de progresso e modernidade impera nessa proposta. A utilização abundante de elementos geométricos e cores primárias recai como influência valiosa sobre a arte concreta — mas o Construtivismo também foi crucial para o design moderno e para movimentos como o De Stijl, o Suprematismo, o Neoplasticismo e as experiências da Bauhaus, numa tal medida que, grosso modo, pode-se considerar que toda a arte geométrica do século 20 foi derivada de suas ideias.
O Concretismo consegue destacar-se em meio a esse panorama que, numa primeira visada, poderia passar por homogêneo. Os seus princípios estipulam “clareza absoluta” e busca por uma construção “técnica”, “mecânica” e “controlável visualmente”, nas palavras de Theo van Doesburg em texto introdutório ao primeiro número da revista Arte Concreta, fundada em 1930, em Paris. Ora, todos esses objetivos já eram perseguidos pelo Construtivismo — mas, enquanto este movimento ligava-se a um contexto político e nacional (russo), os concretistas aclamavam a arte como “universal” e defendiam que “um elemento pictural só significa a si próprio” e “um quadro não tem outra significação que ele mesmo”. Ou seja, estavam bem distantes de uma estética a serviço das transformações sociais, ao menos enquanto ideologia explícita.
Por negar a expressão de sentimentos, a proposta concreta opõe-se não somente à tradição figurativa, mas até mesmo à arte abstrata. O abstracionismo podia, com suas obras, levantar questões simbólicas ou emotivas — basta, por exemplo, resgatar o gesto de Pollock, pulsante no percurso de suas telas. Ao contrário, o Concretismo quer apenas os elementos concretos: a linha, o ponto, a cor, em sua materialidade imediata, sem abstrações de qualquer espécie.
Essa ojeriza aos elementos paisagísticos nos recorda o holandês Piet Mondrian. Suas pesquisas em torno do grupo De Stijl buscavam “a pureza e o rigor formal na ordem harmônica do universo” — mas sua investigação do equilíbrio entre cores e espaços afastava-se tal modo da representatividade que (dizem) Mondrian não suportava a cor verde. O verde existia na natureza, nas folhas, nas árvores; enquanto criador, o artista autorizava-se a negar o já criado pelo mundo. Chegava a pintar de branco o caule das poucas flores que tinha em casa.
No Neoplasticismo — tendência que Mondrian iria liderar — a limpeza espacial da pintura é evidente, bem como o seu aspecto confessadamente artificial. O cromatismo chapado e a composição geométrica são indícios de uma arte fortemente racional, que rejeitava impulsos para além do estímulo da visão. O “prazer retiniano” como uma primária fruição estética, uma fruição orgânica, começa a ser celebrado, em detrimento de uma arte visual com valores narrativos ou simbólicos.
No Brasil, a proposta de uma “arte sem ilusões” começou a crescer a partir de 1950, com uma sequência de nomes e coletivos fervilhantes, como o Grupo Ruptura e o Grupo Frente. Dentre os participantes deste último, encontramos Hélio Oiticica, Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro e Franz Weissmann. É importante assinalar, entretanto, que cada um — por mais que estivesse enquadrado numa estética, grupo ou revista — teve trajetória e estética particulares. Note-se, por exemplo, a singularidade de um Oiticica, que produz obras inegavelmente ricas de emotividade e expressão, como os Parangolés a partir de 1964, mas que também produziu trabalhos bem dentro da estética concreta, como o Metaesquema.
Ou então, vejamos Lygia Clark, ainda como exemplo dessa riqueza que torna cada artista um ser jamais classificável por completo. A sua famosa série Bichos explora, pelo trabalho com o alumínio, os materiais de indústria e as formas geométricas. Mas quem dirá que as dobradiças, capacitando cada peça a assumir diferentes posturas, não abrem espaço para a subjetividade? E o próprio nome, Bichos, não é exatamente uma palavra afetiva, simbólica, carregada de memória — ou seja, o oposto do que o Concretismo propôs?
Lógico, toda tentativa de explanação sobre um período ou uma pessoa cai na armadilha da superficialidade. Mas se os rótulos são, em certa medida, incontornáveis para a compreensão, cabe problematizarmos o que resta insuficiente. Foi o que fez, aliás, o crítico Mário Pedrosa, que em artigo sobre a Exposição Nacional de Arte Concreta observou a diferença entre os concretos paulistas, mais teóricos e dogmáticos, e os cariocas, intuitivos e empíricos. Seguindo essa linha, em 1959, os cariocas assinam o Manifesto Neoconcreto, liderados por Ferreira Gullar: era o fim do repúdio ao subjetivo, nas artes.
Se a pintura concreta, de acordo com o suíço Max Bill, deveria ser uma “realidade controlada e observada”, a finalidade de sua existência não estaria numa representação da natureza, mas na simples demonstração de seus elementos constituintes. Assim, o prazer do olhar seria motivado pelo essencial: a vibração provocada pela cor pura ou pela linha, sem qualquer conteúdo simbólico.
Como a arte prossegue sendo um gesto humano, porém, os paradoxos são inevitáveis — sinais de uma fluidez perene. É assim que percebemos a curiosa contradição que parece nascer dessa dupla base: razão e retina. Para os Concretistas, os maiores cálculos, a maior contenção, seriam requisitos para gerar um efeito de fruição primário. Isso equivale a dizer que as maiores complexidades criam os resultados mais simples — ou de aparência mais simples. É algo paradoxal porque o prazer retiniano se aproxima da inocência de um olhar animal, dessemiotizado — mas para elaborá-lo foi necessário um esforço da razão.
Assim, por mais que os concretos parecessem exaltar o homem em seu raciocínio e sua técnica, o homem muito próximo da máquina ou do cérebro total, no fundo também celebravam o orgânico, a reação que surge no olho à provocação de uma luz, forma ou cor. Perceber esse intuito nas composições concretistas é um aspecto extremamente positivo, que nos assegura estarmos diante de obras artísticas — portanto, o sentido existe, a emoção existe, a humanidade está pulsando, ali. Ainda que num primeiro momento isso não pareça tão evidente, é o bastante para me convencer, dentro de um museu.