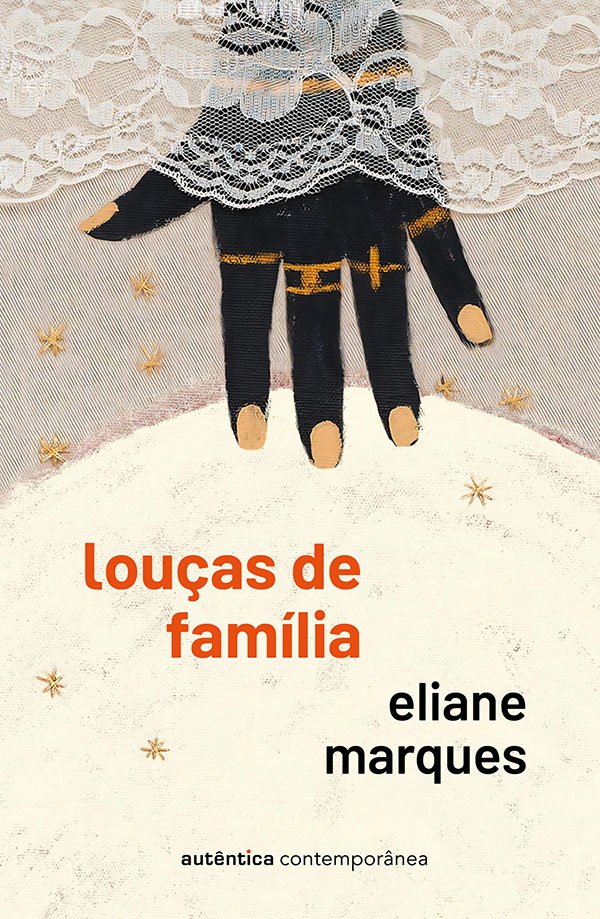Louças de família, de Eliane Marques, começa com o espólio (que de fato consiste em contas a pagar) de uma tia da protagonista Cuandu. Essa tia, mulher preta, cozinheira, empregada doméstica, deixa assim o seu legado em cifras, compartimentalizações de dívidas. Ao longo do romance, haverá muitas outras formas de retornar sobre essa ideia dos fragmentos. Não apenas a memória familiar dos destinos surge, em resquícios de lembranças que se constroem e se desmontam em diversos momentos, mas a perspectiva do despedaçamento parece ser a tônica aplicada aos próprios corpos das personagens. No final do livro, um dos parágrafos mais comoventes sintetiza a experiência dolorosa da narradora:A
Na maior parte do tempo, eu nem quero viver, não me sinto pertencente a esta terra, assim como não me sinto pertencente a nada no meu entorno ou mesmo fora dele. Tudo nesta terra me é enormemente pesado, como as mãos da Dona Nida sobre os meus ombros, me achatando, me aterrando, tudo me é tormentoso, as manhãs são louças de dureza que se espatifa e me corta. Carrego um sentido de desmundo, onde tudo se quebra e nada se abre.
A sensação de ser partida, fissurada pelas tragédias dos parentes, encontra sua metáfora nestes objetos referidos no título do livro. A louça antiga, afinal, veio nos navios de tráfico humano:
As peças faziam parte do serviço dos pavões, coleção real de altíssima qualidade feita em porcelana de pasta dura, confeccionada no país do imperador qianlong, sob a encomenda do continente da mulher que amou (ou foi estuprada por) um boi da cara branca. Comercializado pela companhia das índias ocidentais, junto com as gentes amontoadas nos porões de seus navios, o serviço dos pavões chegou às terras dos antepassados da senhora.
Segue-se que pisar no interior de qualquer “casa de família” era o pesadelo da gente preta — a lenda contada como que para assustar as crianças: o boi da cara branca e seus descendentes prenderiam naquele território, num sacrifício diário e imutável, a gente preta, sobretudo as mulheres pretas.
Mas há outra lenda, reconstruída a partir de uma obra de Amos Tutuola — a lenda do cavalheiro completo — que sintetiza a fragmentação do corpo escravizado, “todos sem cara, descarados”. O tema espelha a imagem da louça em cacos, os pedaços desse corpo que se arruína, se vende, se queima, adoece e desaparece.
Em muitos momentos, o relato me lembrou Cartas a uma negra, de Françoise Ega, livro no qual a autora, nascida na Martinica, também expõe a rotina opressiva que foi o destino trágico de tantas empregadas caribenhas na França dos anos 1960.
Assim como Cuandu na infância criou um armário para guardar peças quebradas, na vida adulta, enquanto narradora dessa história, toma para si a tarefa de reconstituir a importância desses corpos feridos, dessas feridas de sua linhagem, encenando infinitamente um processo de construção e desmembramento literário. Os episódios são quadros vivos de figuras castradas, rearticuladas em variadas composições, numa espécie de “incessante elaboração do inalterado”, como diz Rosalind Krauss a propósito da obra do surrealista Hans Bellmer.
A ideia de um corpo direcionado para a dor ou o abate é ainda reprisada no cenário da matança do gado:
O frigorífico tinha várias instalações divididas por função graxaria cozimento do sangue salgadura dos couros conservas moedura dos ossos câmaras frigoríficas rotulagem matança picada tanque para cozer ossos salmoura resfriador.
Mesmo dentro da família de Cuandu encontra-se a opressão, a violência:
Na presença do expaimeu eu pisava cacos de louças com pés descalços enquanto ele protegia os seus por sapatos de couro e galochas de aço.
O peso desse sofrimento extravasa através de uma escrita que atinge uma abundância sensitiva e uma dicção irônica, em verdadeiro tom de quem escreve mordendo os lábios para não gritar. O trauma ancestral vem carregado pela história de tantas pessoas escravizadas:
Quisera que alguma liberdade a tivesse alcançado antes da morte. Algo me diz que apenas assim eu confiaria na possibilidade de me ver livre dos corpos que me achatam.
O esmagamento é um outro tipo de mutilação deste corpo. A memória soterra Cuandu: “Ossadas me achatam e me impedem a caminhada dentro da própria casa, se arrastam nos babados de meu vestido surrado. Não tenho onde pisar os pés”. Em seu sufocamento, ela constata algo irremediável: “Uma mulher negra jamais poderá ser livre entre a gente branca e até entre a gente preta”.
O caminho possível para o expurgo é a palavra. Deixar irromper a raiva no texto, a bile, o fel, o ódio: “Não sei escrever textos em que a raiva não desponte”, diz a narradora, ao falar da “morte das gentes empretecidas e de seus esqueletos enlouçados”.
Aliás, o movimento de despedaçar/reconstruir também se percebe na prática da intertextualidade. São muitas as referências que Eliane Marques traz: cita Georgina Herrera, Jamaica Kincaid, Ahmadou Kourouma, Wole Soyinka, Aimé Césaire, Derek Walcott e Carolina Maria de Jesus, dentre outros nomes, que perpassam Louças de família como se criassem suturas para os temas, costurassem os caminhos das vozes literárias.
A força dessa escrita é autoimposta, revela Cuandu:
Além de rancorosa, sou muito desconfiada. Sou da escola das ressentidas. Não preciso afirmar isso. Vocês já puderam ler. Mas preciso afirmar que não somos fortes, apenas não temos outra saída senão suportar, senão sobreviver.
A autora, também por ser psicanalista, sabe das implicações disso.