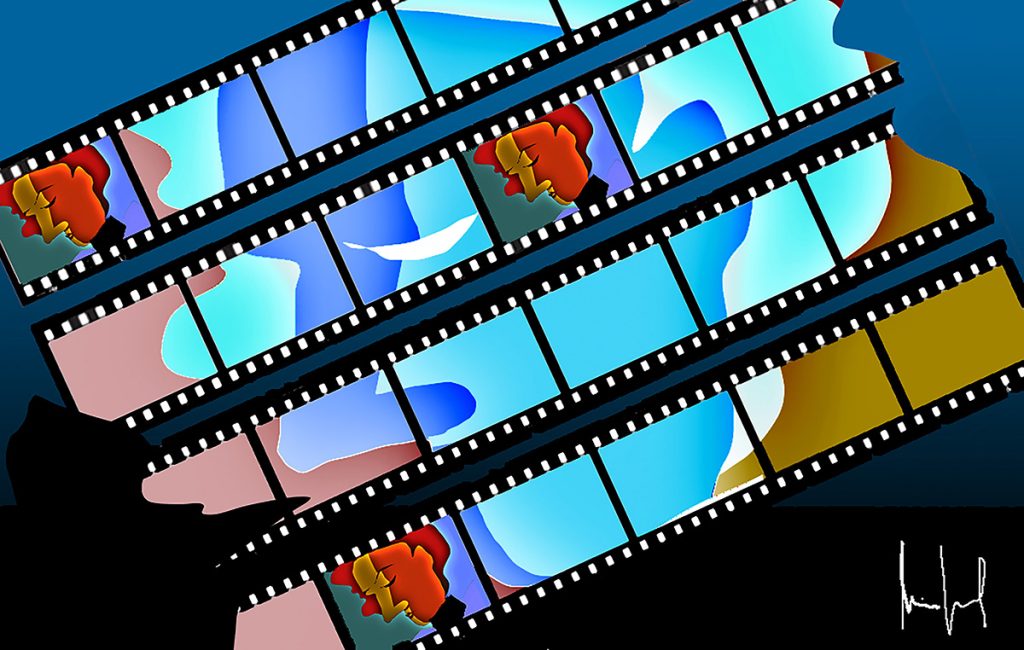Se todo retrato é um retorno do morto (conforme dizia Roland Barthes em A câmara clara), por outro lado também é uma forma de refletir sobre a vida e suas circunstâncias. O volume Photo Icons, publicado pela Taschen sob organização de Hans-Michael Koetzle, trouxe uma boa oportunidade para isso, ao cobrir uma história da fotografia de 1827 a 1991. Não se dedica aos tempos mais recentes, da chamada pós-fotografia — mas para tanto podemos consultar os livros de Joan Fontcuberta, que já citei nesta coluna, algum tempo atrás.
A publicação de Koetzle a cada capítulo parte de uma foto icônica, por assim dizer, e faz sua análise incorporando curiosidades, dados técnicos e informações sobre o autor. Com esse método aparentemente simples, segue numa progressão cronológica que, ao final, constrói um panorama da própria história humana nesse período (claro, sob uma perspectiva ainda eurocêntrica, podemos criticar).
Recordamos situações extremas que talvez hoje tenham sido pacificadas na memória, e no entanto foram grandes tragédias. O fotógrafo Richard Peter pai, que registrou a destruição de Dresden pelos nazistas, perdeu nos bombardeios seus arquivos, milhares de placas, negativos e provas que representavam trinta anos de trabalho. Ao seu redor, centenas de vítimas mortas ou queimadas — e a maioria não pôde ser retirada dos escombros, porque a devastação da cidade se estendia por quinze quilômetros. A impossibilidade de enterros apropriados favorecia o risco de epidemia, e assim foi preciso calcinar as ruínas com lança-chamas, além de murar abrigos provisórios.
O que Richard Peter pai viu e viveu (vamos tomá-lo como símbolo de tantos) é inclassificável. Saber que tantas pessoas estavam ali, sob os escombros, algumas vivas mas sem chance de resgate e, portanto, condenadas a perecer no fogo antes que seu corpo espalhasse doenças… apenas essa escala de horror deve ter preservado a mente do absoluto desespero. Porque os que perderam tudo mas estavam vivos ainda eram sortudos. E, então, o que poderiam fazer? Reconstruir a cidade, refazer a própria identidade. Uma fotografia, junto com o seu contexto, traz uma preciosa lição acerca de recuperar os eixos. É preciso tomar uma atitude prática em prol das melhorias, nem que seja um gesto mínimo por dia, e é preciso não desistir da beleza, não deixar que o ódio a substitua.
Através da análise de variantes de fotos — como, por exemplo, na obra de Man Ray —, acompanhamos o processo pelo qual um artista chega à perfeição. Quem vê somente Noire et blanche aprecia o equilíbrio dos rostos (o de Kiki de Montparnassse e o de uma máscara africana), em posições, tons e formatos tão complementares, que pode ser levado a pensar que foi fácil compor a cena. Mas o que parece hoje evidente surgiu após um longo processo de testes, uma busca confusa em que o autor sabia, sim, desde o princípio que os dois rostos juntos seriam capazes de gerar uma boa foto — mas não alcançou de imediato a melhor maneira de criar a imagem.
Aliás, a falsa ideia de que a fotografia depende de um espontaneísmo pode ser dissipada com a leitura desse livro. Diversos exemplos de retoques, encenações ou montagens são revelados, em obras bastante conhecidas. Embora seja cabível discutir os limites éticos de tais procedimentos no caso de fotos documentais, em nenhuma outra ocasião as edições de imagens devem ser julgadas negativamente. Criticar um fotógrafo por aperfeiçoar sua obra é tão absurdo quanto censurar um escritor por reescrever um original: o trabalho de revisão integra qualquer arte e, quando o autor sabe o que está fazendo, o resultado tem maior qualidade que a versão “bruta”, inicial.
Descobrimos ainda como uma belíssima fotografia de moda, Corset Mainbocher, de Horst P. Horst, pode ensejar uma discussão política, na medida em que a peça de roupa exibida na imagem, em 1939, já era considerada um “vestígio da época feudal” e um acessório agressivo à saúde das mulheres. Entretanto, um espartilho fotografado à beira da Segunda Guerra sem dúvida pode representar algo mais que a repressão em torno de um único corpo…
Com Sandy Skoglund, temos um exemplo da tendência de, a partir dos anos 1980, a fotografia se tornar cada vez mais performativa. Os autores, em vez de encontrar seus temas na realidade, capturando-os sem intervenção ou manipulação, começam a praticar “staged photography”, ou seja, “fotografia posta em cena”. Skoglund constrói esculturas de papel machê, gesso ou poliéster, para ambientar suas instalações fotográficas.
Revenge of the goldfish e Radioactive cats são duas de suas famosas obras com essa proposta. O aspecto manual de uma construção prévia de artefatos para serem fotografados lembra Vik Muniz, na medida em que este artista brasileiro (não citado no livro trabalhado aqui) adota, para compor suas figuras, matérias as mais diversas, como comida, lixo ou diamantes. O lado trabalhoso e demorado do processo artístico — que tão bem se percebe num vídeo sobre o processo criador de Teun Hocks, por exemplo — talvez esteja em decadência, nos artistas da geração Y ou Z. Com a facilidade dos programas de edição que produzem imagens já absolutamente desprendidas do real, através de montagens quase automáticas, vindas de um acervo do próprio software, o passo seguinte é a desmaterialização da própria obra. Isso se realiza em negociações de produtos não-fungíveis, os tais NFTs, feitos para consumo digital, sem dimensão empírica, por assim dizer. A luz se torna, em tais imagens, o único elemento sensitivo pelo qual podemos desfrutá-las.
A fotografia se afasta cada vez mais do mundo e dos aprisionamentos referenciais, para se tornar um recurso de inventividade. Na impossibilidade de citações exaustivas, trazemos somente mais um autor — Joel-Peter Witkin —, que inclusive dialoga com vários outros. Koetzle comenta que “é principalmente como uma revolta contra a tradição da iconoclastia judia e contra o tabu que representam o corpo e o erotismo na religião cristã que se deve ler sua obra”.
Conhecido como o Bosch da fotografia, Witkin coloca em cena personagens desviantes: anões, gigantes, siameses, transexuais antes da cirurgia, além de “todos aqueles que nasceram sem braços, sem pernas, olhos, seios, órgãos genitais, orelhas, nariz, lábios”. O interesse por corpos excepcionais lembra a estética de Diane Arbus, embora o estilo de retrato seja bem diferente (Arbus preferia as poses frontais, com poucos ornamentos, ao passo que Witkin monta cenários elaborados, com releituras do repertório iconográfico). A proximidade com outro fotógrafo do grotesco, Jan Saudek, é notável — mas, para além destes nomes mais modernos, o seu trabalho referencia clássicos como Giotto, Velázquez, Goya, Rembrandt, Archimbold e Delacroix.
Ao tematizar corpos alternativos, Witkin, por um lado, é acusado de oportunismo escandaloso — mas, por outro, é defendido por seus próprios modelos, que afirmam ter posado para ele numa atmosfera de respeito e dignidade. Para estas pessoas, habitualmente postas num lugar à margem, invisível do comum social, serem fotografadas em sua identidade “ganha uma força metafísica”. Como o próprio autor ressalta, episódios de sua infância fizeram com que ele se interessasse pela gente excluída, e isso, de acordo com Hal Fisher, estimulou em sua obra algumas ideias filosóficas extremamente complexas, “uma miscelânea de pensamentos oriundos da cabala judaica, da fé católica, da filosofia oriental e da cultura underground moderna”. Esse amálgama o inspirou a buscar a “expressão divina” em retratos, à primeira vista, repulsivos. E quem dirá que aí não se revela uma verdadeira luz da vida?