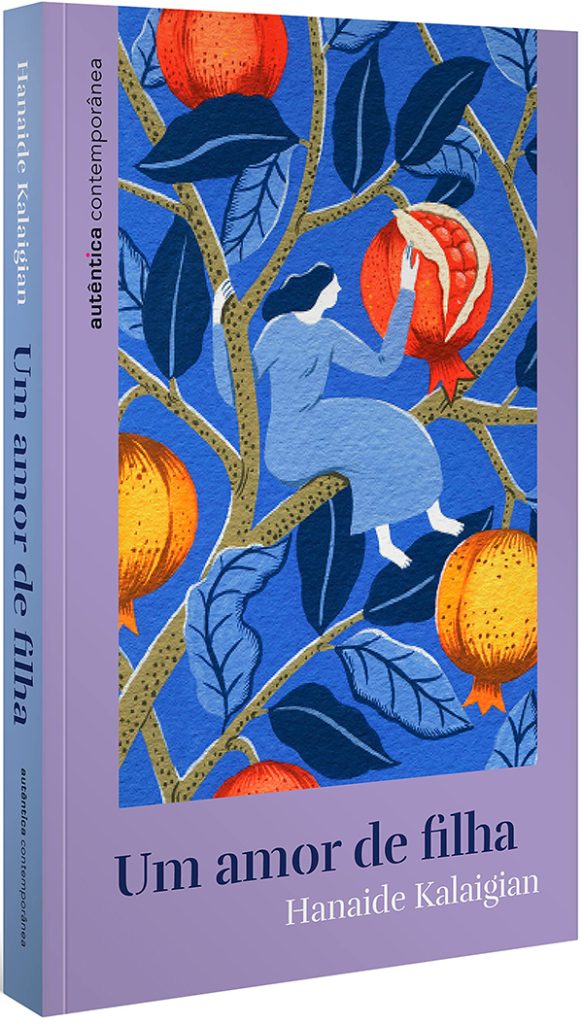Hanaide Kalaigian é uma escritora brasileira — mas seu nome, assim como seu romance de estreia, traz a marca da cultura armênia. Um amor de filha se concentra na história de Meliné, que aos 57 anos enfrenta uma mudança brutal na rotina. O divórcio inesperado a desestabiliza, e ela já não encontra mais lugar dentro do planejamento social que lhe foi destinado.
Ao longo de várias páginas, reconhecemos — na expectativa imposta às figuras femininas — a estrutura patriarcal, fiscalizada pelas próprias mulheres, no ardor de manter as “tradições”. Por toda parte, mulheres “eficientes” despontam, eternamente envolvidas no preparo de refeições e na organização da vida diária, cuidando de todos, afligindo-se por causa de horários, compromissos, aparências que precisavam ser impecáveis:
Ligeirinha, parecia que minha mãe estava sempre com pressa. Acordava cedo e saía do quarto vestida como se já fosse sair, com batom, blush e cabelo arrumado. Se não tivesse atividade, logo tratava de inventar alguma. Acho que nunca vi minha mãe de penhoar tomando o café sossegada, nem aos domingos sem os almoços de família.
O “sentimento de armenidade” se constitui na preservação dessa rigidez de costumes. Uma forma de honrar os ancestrais é imitá-los, seguir com suas crenças e hábitos:
Não era aceito nenhum tipo de desleixo, desordem, feiura, nada que pudesse apontar sinal de abatimento ou desânimo. Quantas vezes ouvi da minha mãe que mulher tem que estar sempre bem, disposta, ou pelo menos parecer que estava. Nada de tristeza, depressão então nem pensar. Era esse o modelo de mulher da minha mãe, a guardiã da família, mãe e esposa, que deveríamos seguir. E, claro, era esse o motivo do seu sorriso na foto. A filha mais velha casada, o segundo neto a caminho, a outra filha casando, as duas com netos de armênios, sim, minha mãe parecia realizada, muito realizada.
É interessante constatar como, na narrativa, a construção dessas personagens se vincula à experiência da diáspora armênia e ao compromisso de sua descendência com a manutenção da cultura tradicional — por mais opressiva ou inadequada que ela seja para a atualidade. Entretanto, tais costumes não trazem qualquer atmosfera “exótica” ou vinculada a um povo específico (ao contrário da culinária, por exemplo, que é amplamente citada no livro, em pratos turcos ou armênios). As exigências que aprisionam o comportamento feminino são algemas universais. Poderíamos trazer, para uma leitura paralela a este romance, Mentiras que contam às mulheres, da jornalista Kaz Cooke: um inventário de restrições e lendas que o machismo construiu por séculos e ainda respingam, de algum jeito, em qualquer sociedade.
O medo surge como um método de controle clássico das mulheres, no mundo e também na história de Meliné:
Lembrei das histórias que minha mãe e minhas tias contavam quando eu era pequena. Nem eram histórias, não lembro de ter começo, meio e fim, ou algo que tenha acontecido. Eram receios, angústias, sempre carregados de horror, de muita aflição. Nós tínhamos que nos proteger, elas diziam, nós mulheres éramos muito vulneráveis, qualquer um poderia se aproveitar da nossa fragilidade.
Habituada ao amparo masculino, não à toa essa mulher ficaria desnorteada após se ver sem marido, o esteio básico de sua identidade.
Meliné não encontra mais o próprio lugar. Não sabe o que fazer de seu tempo, passa a sofrer com o descontrole do corpo e das emoções — e rejeita qualquer tentativa de construir para si uma nova perspectiva. O que ela gostaria de fazer seria capturar de volta o passado, a sua zona segura — e, dessa maneira, resgata velhos álbuns, apega-se às imagens como se fossem o atestado de que ela teve, sim, uma vida. Quando uma curadora de arte, Amanda, expressa interesse em Meliné, o que poderia ser um passo rumo à reconstrução é desfeito em caricatura, com o ridículo engano de Amanda ao interpretar como instalação fotográfica a bagunça memorialística que Meliné espalhou por seu ateliê, uma edícula anexa ao jardim de sua casa. Esse ateliê será destruído, consumido por um incêndio — e a própria estrutura física de Meliné se torna ameaçada, na série de expurgos pelos quais ela passa.
O título de Kalaigian pode ser lido de forma dupla. A personagem Aline é um amor de filha porque, na primeira parte da narrativa, ilustra a obediência e delicadeza que se espera: “Aline nunca me deu trabalho, não lembro de um dia ter dado, nem com os tais chiliques da fase da adolescência de filho querendo ter vida própria. Não, nado teve nada disso”. Aos 28 anos, porém, tornada excessivamente independente para o contexto familiar, é essa filha quem, apesar de toda a opressão, dedica um amor solidário à mãe perdida de seus referenciais.
Aline resgata a história da ancestralidade armênia que pertence a ambas, e através de documentários sobre os horrores do genocídio e as marcas que os sobreviventes (principalmente, as sobreviventes) carregaram, Meliné se defronta com a linhagem trágica da qual proveio. Essa consciência prepara o final do livro, num crescendo delirante que se confunde com a manifestação de uma doença, uma tragédia pessoal. Meliné descobrirá ter câncer de estômago — talvez, por tudo o que “engoliu” durante as décadas em que teve de se conformar a uma existência tão limitada. Impossível não lembrar aqui as reflexões de Susan Sontag, em Doença como metáfora, sobretudo quando a ensaísta diz:
Segundo a mitologia do câncer, a doença é em geral provocada por uma constante repressão do sentimento. Na modalidade mais antiga e mais otimista dessa fantasia, o sentimento reprimido era sexual; hoje, numa guinada notável, se imagina que o câncer é causado pela repressão de sentimentos violentos.
Meliné e Aline serão capazes de reinventar-se e honrar seus familiares, mesmo sem repetir o seu destino de dores? Isso, cada leitor(a) de Um amor de filha dirá.