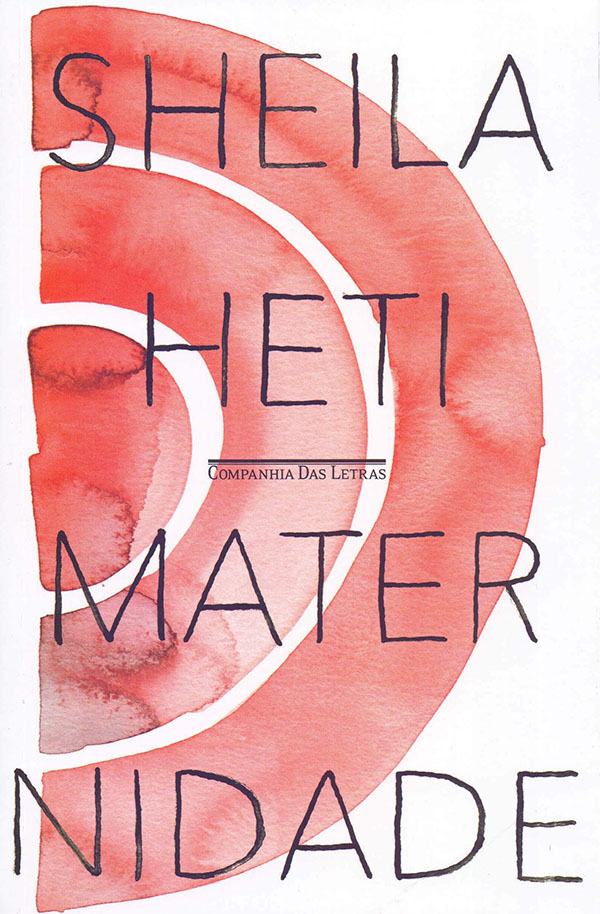Retirei Maternidade, de Sheila Heti, emprestado de uma biblioteca pública. Embora o exemplar parecesse (pelo seu estado impecável) pronto a estrear, à medida que comecei a folheá-lo descobri que pelo menos uma leitora, antes de mim, o tivera em mãos. Encontrei quase no final, espremido entre as últimas páginas, o recibo de empréstimo com um nome que eu desconhecia, talvez pertencente a uma mulher bem jovem, interessada no assunto por carregar os dilemas anunciados na apresentação da obra. A jovem poderia ser uma de minhas alunas no curso de Letras. Teria as pontas dos cabelos pintados de roxo, como tantas agora usam? Uma coisa pelo menos eu sabia: certas passagens do livro mereceram o seu sublinhado a lápis.
Espero que chegue um dia em que este título de Heti seja considerado como um testemunho de egolatria excêntrica, apenas — mas sei que não é o caso por enquanto. Os grifos que a leitora deixou provam sua relevância temática. Maternidade promove a identificação e talvez auxilie várias mulheres que se veem atormentadas por essa dúvida crucial, dúvida que nunca fez os homens perderem tanto tempo quanto elas perdem, ponderando se querem ou não repassar sua genética, se aceitam alucinantes responsabilidades ao fabricar a vida de mais uma pessoa no mundo, se são capazes de levar isso adiante, ou de realmente abdicar de tal projeto.
O livro traz reflexões filosóficas instigantes, e é o que o salva de se tornar um mero frenesi repetitivo, uma verborragia sobre aquele que parece ser um destino clássico feminino. Embora o movimento childfree hoje discuta a decisão contrária com argumentos bem lúcidos, Heti está sempre exasperada ao longo das páginas, parecendo revirar sozinha o assunto, enquanto praticamente todas as suas amigas engravidam. A sensação alienígena soa extravagante, vinda de uma escritora canadense que circula por Nova York e viaja em turnês pela Europa. Esperava-se que ela estivesse mais conectada com as discussões contemporâneas e não abordasse o tema de modo confessional a maior parte do tempo.
Lina Meruane, em Contra os filhos, apesar de também envolver sua experiência pessoal, adota postura bem mais lógica, conforme comentamos em nosso texto para o Rascunho #225. Sei que é injusto comparar artistas, pois não se pode julgar a qualidade de alguém com base na expectativa criada pela obra de outra pessoa — mas no fundo este é o mecanismo que acionamos para formar nossos critérios e avaliar um produto estético. Heti não teve o mesmo propósito, a mesma abordagem ou estilo de Meruane (e nem poderia, pois são pessoas distintas); porém, as escolhas de Heti deixam o seu livro frágil.
A voz narrativa se apresenta como imatura, inclusive pelo excesso de repetições, pela ideia de um texto rascunhado e ali exposto como uma experiência meio caótica, uma catarse de uma mulher que diz ter 37 anos (no início do relato), mas escreve como uma adolescente que vive chorando, banhada em seu ciclo hormonal depressor. A rotina que divide com o parceiro, Miles, tem um clima hippie e confuso, alternando momentos de sexo com paternalismo: fica evidente que a narradora continua agindo como a garotinha que foi cuidada por um pai amoroso, enquanto a mãe permaneceu inacessível, privilegiando sua carreira profissional.
Esses traumas, repisados ao longo das cenas (que com dificuldade parecem sugerir uma história em pedaços de biografia esparsa), levam o(a) leitor(a) à impressão de acompanhar um fluxo de palavras com finalidade terapêutica, um processo extremamente individual e que, portanto, não deveria jamais ser publicizado. A natureza conflitiva do livro é quase a de um diário, em termos éticos — mas ele se salva, repito, pelos momentos de transcendência filosófica. Nesses instantes, a autora parece de fato se voltar para uma investigação sobre a “alma do tempo”, como esclarece no início.
Nas passagens em que Heti se aproxima de questões universais e olha além do umbigo da autoficção, o livro vale a pena, pede para ser sublinhado com justiça. Apenas por um zelo com a coisa pública, não acrescentei os meus próprios realces ao da leitora que me antecedeu, na biblioteca. Cito aqui os trechos relevantes, e não resta nada melhor para dizer acerca deste título:
O sentimento de não querer filhos é o sentimento de não querer ser a ideia que o outro faz de mim.
Se a satisfação existencial pudesse ser alcançada pela criação dos filhos, você sentiria o mesmo desejo de produzir arte?
Talvez criar filhos realmente seja uma tarefa ingrata. Talvez não exista qualquer razão para agradecer a alguém por ter investido tanta energia em um ser humano que não precisava nem ter nascido. Então será que devemos tentar lutar contra esse impulso — como Miles disse — e passar pelos nossos anos férteis sem gerar um filho, não importa o quanto desejemos fazer isso; mas altruisticamente, e com todas nossas forças, fazer de tudo para evitá-lo? Encontrar nosso mérito e nossa grandeza em outro lugar além da maternidade, como um homem deve achar seu valor e sua grandeza além da violência e da dominação, e quanto mais homens e mulheres fizerem isso, melhor o mundo será? Miles disse que valorizamos homens beligerantes e dominadores, da mesma forma como reverenciamos a mãe. O egoísmo da geração de filhos é como o egoísmo de quem coloniza um país — ambos carregam o desejo de deixar algo de si no mundo e o reformar com seus valores, à sua imagem.
E você nunca se sente sozinha quando está escrevendo, pensei, é impossível — categoricamente impossível — porque escrever é um relacionamento. Você está envolvida em um relacionamento com uma força que é mais misteriosa que você. No meu caso, suponho que esse tem sido o principal relacionamento da minha vida.
Em uma vida em que não há filhos, ninguém sabe nada sobre o sentido da sua vida. Talvez suspeitem que não existe nenhum — nenhum centro ao redor do qual ela se organiza. O valor da sua vida é invisível. Que maravilhoso é trilhar um caminho invisível, onde o que mais importa mal pode ser visto.
Se meu desejo é escrever, e que essa escrita defenda algo, e que a defesa realmente esteja viva — não só por um dia, mas por mil dias, ou dez mil dias —, essa não é uma aspiração humana menos válida do que ter um filho pensando na eternidade. A arte é a eternidade de trás para a frente. Escrevemos arte para nossos ancestrais, mesmo que esses ancestrais sejam escolhidos, como escolhemos nossas mães e pais literários.
Por que não vemos algumas pessoas que não querem filhos como pessoas que têm uma orientação diferente, talvez biologicamente diferente? Não querer ter filhos pode até ser encarado como uma orientação sexual, pois nada está mais ligado ao sexo do que o desejo de procriar, ou não procriar.
O problema mais feminino que existe é não se conceder tempo ou espaço o bastante, ou não se permitir isso. Nós nos esprememos todas para entrar nos momentos que nos concedemos, ou os que nos foram concedidos. Não nos esparramamos no tempo, languidamente, mas nos concedemos os menores lotes de tempo para, mal e parcamente, existirmos. Deixamos que todos nos ocupem. Tratando-se de tempo e espaço, somos avarentas com nós mesmas. Mas ter filhos não gera a distribuição de tempo e espaço mais avarenta de todas? Ter um filho soluciona esse ímpeto de não se dar nada. Transforma esse ímpeto em uma virtude. Se alimentar por último por abnegação, se encaixar nos menores espaços na esperança de ser amada — isso é algo inteiramente feminino. Ser virtuosamente avarenta consigo mesma em troca de amor — ter filhos te leva a isso mais rápido.
Eu realmente preciso de uma quantidade de tempo infinita para trabalhar. O infinito soa tão assustadoramente impossível! — mas o infinito pode ser penetrado em momentos como esse. O que não significa que eu precise de uma quantidade de tempo infinita para escrever estas linhas, mas que preciso acessar o infinito do tempo. O infinito não é uma duração de tempo, é uma qualidade de tempo. E posso atingi-lo em momentos como esse.