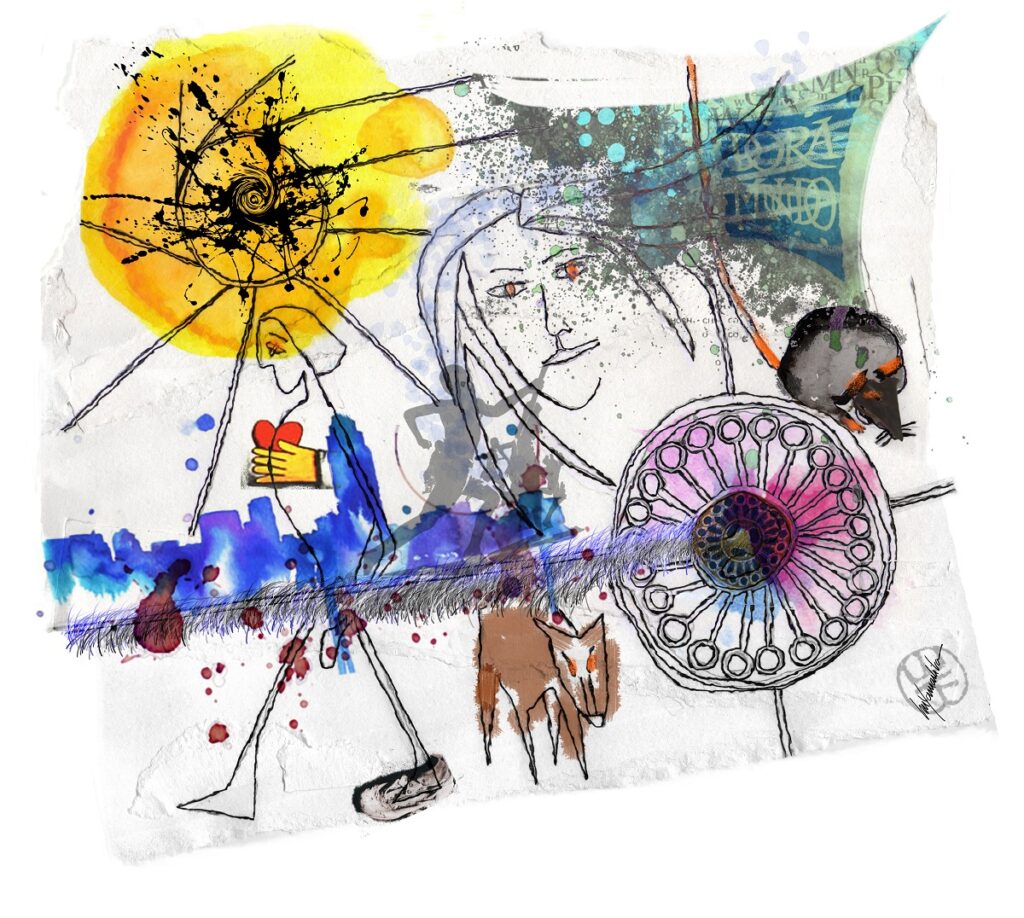1.
Poucos são os leitores acostumados a enxergar na literatura uma amante. Em geral eles enxergam na criação literária uma mãe conscienciosa ou uma irmã mais velha e mais sábia. Há reverência demais nessa postura. Enxergar na literatura uma amante é encarar o céu e o inferno: ora ela nos faz provar do prazer supremo, ora nos trai covardemente. Nestas treze teses pretendo falar só da traição, apenas do lado mais doloroso das obras-primas. Talvez porque, por pudor, esse defeito de caráter da própria literatura seja pouco comentado nas revistas e nos cadernos literários. Ou talvez porque nunca a literatura tenha sido mais perversa e infiel do que no trato com o homem comum. A traição, como se verá, é muitas vezes inconsciente. Na tentativa de ser nobre, de só fazer boas ações, nossa amante infiel não se dá conta de que trai. Em certos casos acredito até que saiba o que está fazendo, que traia com a melhor das intenções. Não importa. O fato é que o homem comum que aparece nos livros — idealizado, caricaturado, estereotipado — não é o que existe na vida real. Isso não impede que determinados romances, iguais aos que citarei em breve, sejam de fato a obra-prima que são. O valor estético, sempre dependente da verossimilhança e da coerência das partes constituintes de uma narrativa, e a verdade empírica, muitas vezes inverossímil e incoerente, raras vezes andam juntos.
2.
O século 20 foi o século do homem comum não só na literatura, mas também nas artes plásticas, na música, no teatro, no cinema, em toda a parte. Nunca na história da humanidade o povo, a plebe, a massa, a multidão, esteve tão presente nas preocupações de artistas e intelectuais. Afinal foi o homem comum, sem dinheiro nem qualidades salientes, que impulsionou a indústria, elegeu estados autoritários no mundo todo, compareceu a duas grandes guerras, fez a revolução na Rússia, matou e morreu nos campos de concentração, alavancou o rádio, a tevê e o cinema, tornou-se o menor, porém o mais importante acionista da indústria cultural. E esse movimento titânico foi o tema central de inúmeros romances e dramas teatrais, de infinitas pinturas e canções. A coletividade sem rosto foi representada à exaustão pelos artistas mais significativos, mas raramente os indivíduos que a compunham compreenderam as obras inspiradas em suas ações. Tudo porque o século 20 firmou-se também como o século das vanguardas, do hermetismo, da ruptura com a tradição antropocêntrica. Nesse período não houve nada mais estranho para o homem comum do que as transgressões tão incomuns da grande arte. Já a elite cultivou o mórbido hábito de só consumir a arte que tratasse do sofrimento e dos vícios dos deserdados e explorados. Van Gogh virou grife, o jazz seduziu até o Oriente e o romance mais interessante do século reproduz as desinteressantes vinte e quatro horas na vida de um pobre-diabo irlandês.
3.
O outro lado da moeda, a rejeição da ruptura vanguardista a favor do conservadorismo populista — como o que Stalin impôs aos escritores e artistas soviéticos — mostrou-se o maior equívoco estético do século. Ainda hoje a literatura engajada, ao sair em defesa dos descamisados, raramente escapa de ser pega com as calças nas mãos. Nada de bom costuma brotar daí, pois o escritor panfletário sempre faz o jogo do inimigo sem saber. Nas sociedades divididas em classes, cada classe procura a todo custo recrutar a arte, colocá-la a serviço de seus propósitos particulares. Nessa briga vence o grupo que tiver maior poder de persuasão retórica e econômica: em cem por cento dos casos, a elite. Por isso a literatura disse e ainda diz tanto sobre a aristocracia, refletiu e ainda reflete tanto seus hábitos e costumes, mesmo quando pensa estar falando dos hábitos e costumes do proletariado.
4.
O que é minimamente exigido do indivíduo interessado em escrever romances, novelas e contos? Que saiba ler e escrever. No Brasil boa parte da massa trabalhadora — dezenas de milhões de obtusos comuns — é analfabeta ou semianalfabeta, o que a impede de criar obras literárias que reflitam em grande estilo seus dramas e anseios. De certa maneira, como na política, esse povão incapacitado para as letras é obrigado a eleger representantes que façam o serviço por ele. A literatura que tenta dar conta da vida nas fábricas, no campo, nos garimpos, nas favelas e nos cortiços, escrita por gente que mora nos bairros mais nobres das capitais, atesta isso. A ironia é que a própria incapacidade para as letras impede que haja, por parte das tais dezenas de milhões de aleijados intelectuais, o interesse por livros. Dessa forma, perde o livro, ganham a tevê e o rádio.
5.
O próprio conceito de homem comum aos poucos se tornou o pior dos enigmas. Quem é ele? É o pequeno comerciante ou o seu faxineiro, a dona de casa ou a sua empregada? Ambos? Ambas? Como definir sua participação na prosa, na poesia ou no drama? Eis o problema. Para o bom observador não existem homens comuns na literatura seja de que gênero for. Simplesmente porque o talento do escritor faz de todas as suas personagens criaturas incomuns, únicas, quer elas posem de policial, costureira, zelador, motorista de ônibus ou cobrador. Mais fácil do que determinar os atributos essenciais dessa espécie xexelenta de protagonista, espécie que vem se multiplicando feito praga nas páginas dos romances desde o século 18, é apontar alguns avatares seus. Assim não restará dúvida. O homem comum do romance brasileiro — deixemos os outros gêneros e o resto do mundo de fora — são os Naziazenos, os Fabianos, os Mestres José Amaro, os Riobaldos, as Macabéas. Sei o que está pensando. Não faça essa cara, você não é o primeiro a se sentir contrariado. Amigos a quem mostrei este conjunto de teses não disfarçaram o espanto e o desapontamento. Esperavam algo muito diferente. Em sua opinião, o tema seria mais bem aproveitado se eu evitasse os aspectos grandiosos do fenômeno e aproximasse a lupa do que verdadeiramente vale a pena ser observado: a crônica, não o romance. Em vez de Graciliano Ramos, Rubem Braga. Em vez de Clarice Lispector, Paulo Mendes Campos. Em vez de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, e assim por diante: Nelson Rodrigues, Fernando Sabino, Millôr Fernandes. A efemeridade da crônica — gênero do tipo conversa fiada, que nas mãos desses autores transfigura o efêmero e o corriqueiro em epifania — sem dúvida parece ser, na prosa, o terreno ideal do homem comum. Afirmar que você e meus amigos não têm razão seria tolice. Vocês estão certos. Na verdade estamos todos certos, pois não se trata de erro ou acerto, mas de opção. Em vez de tratar do homem comum no plano mais intimista, camerístico, preferi erguer a voz e fazer uso da retórica grandiosa do épico. Por mais que a crônica tenha atingido pontos altíssimos, esse gênero ainda está longe de suplantar o romance. Preferi acossar o homem comum lá onde a perenidade lhe cai melhor: no ponto máximo da prosa ocidental.
6.
O procedimento mais importante da tentativa de representação do homem comum no romance foi o mergulho na coloquialidade, nos vícios e cacoetes da fala do povo. Esse mergulho decretou o fim da literatura beletrista, da prosa escorreita. O modelo refinado, purificado das mazelas da gente rude, até então o único aceito pelos eruditos, foi trocado por outro, bastante impuro e por vezes grosseiro. A norma culta torceu o nariz para o odor do imigrante europeu e do nordestino. Gramáticos como Napoleão Mendes de Almeida jamais aceitaram a prosa de Antônio de Alcântara Machado, por exemplo. Outra questão importante: o mergulho na coloquialidade não é sinal de sucesso garantido, não significa que a massa líquida irá penetrar a pele doutoral do mergulhador. O homem comum de certa maneira é o mais curioso dos truques literários. Boa parte dos grandes romancistas, de José Lins do Rego a Graciliano, passando por Rosa e Clarice, lançou mão de expedientes demasiadamente eruditos pra definir a silhueta do demasiadamente popular. Pura ilusão de óptica. Em romances como Fogo morto, Vidas secas, A hora da estrela, Grande sertão: veredas, entre outros tantos, o escravo, o retirante, o caboclo, o jagunço, o operário e a datilógrafa, todos iletrados ou sub-letrados, são a reprodução palpável do modelo multifacetado extraído dos documentos da cultura letrada.
7.
O homem comum e a alta literatura não se dão bem, o homem comum nasceu foi para o futebol, o carnaval e a novela das nove. Então por que a literatura insiste em sequestrá-lo para suas páginas? Parte da resposta está na definição do que seja comum, regular, normal. O conjunto de regras estabelecidas como normais varia de sociedade pra sociedade, de época pra época. É claro que é próprio da ideologia veiculada por esse mesmo conjunto fazer as pessoas acreditarem na eternidade das regras. Assim, a existência ou não de deuses, a divindade ou a secularidade do rei, a razão e a loucura, as leis e as contravenções, tudo isso foi encarado de diferentes maneiras por diferentes comunidades. Machado, em O alienista, ironizou a inversão de valores: se a população toda de Itaguaí está louca, isso transforma a loucura em norma, consequentemente quem deve ser internado na Casa Verde é o próprio Simão Bacamarte. Definição provisória de homem comum: indivíduo responsável pela sanção e manutenção das normas ditadas pela elite dirigente. Vale dizer, já que as regras precisam ser sancionadas pela maioria, o homem comum, normal, é o elemento uno e indivisível formador dessa mesma maioria. Economicamente falando, ele faz parte da grossa camada de mão de obra que se encontra bem distante do topo da pirâmide social. Eis o óbvio ululante. Tanto na vida quanto na literatura, o homem comum não se encontra nas mansões ou nas coberturas, está nos sobrados e nos mocambos. Ele não dá festas vergonhosas pra cachorrinhos de madame, como a socialite Vera Loyola e outras. Ele tem é que se virar com os ratos que à noite, enquanto dorme, vêm roer o dinheiro do leite.
8.
Os ratos, de Dyonelio Machado, publicado em 1936, não só inaugurou a literatura urbana no Brasil como apresentou pela primeira vez o protótipo do homem comum, meio esquizofrênico, que seria reproduzido até os dias de hoje: Naziazeno. Durante vinte e quatro horas (como em Ulisses, de Joyce) esse pé-rapado perambula pela metrópole, tentando levantar o dinheiro pra pagar o leiteiro. A técnica de composição do romance é a da observação meticulosa dos atos e pensamentos do protagonista e do meio em que vive. A voz do narrador é seca e impessoal, quase como a voz do leiteiro: “Lhe dou mais um dia!”, ou a do patrão: “Não queira que lhe pague as dívidas!”. Ela a tudo descreve, eximindo-se de beletrismos e digressões. Essa técnica normalmente torna as personagens distantes, estranhas e impenetráveis. O mundo em que vivem é igualmente estranho e impenetrável. Nesse mundo os seres humanos surgem como objetos sem alma entre objetos sem alma. Assim, Naziazeno é quase um fantoche, uma marionete solitária, sendo deslocada daqui pra lá contra a sua vontade.
9.
O homem comum e o romance, dependendo da posição daquele em relação a este, podem interagir de dois modos: por meio da inclusão ou do espelhamento. Édipo incluindo-se em Tebas e em Jocasta ou Narciso hipnotizado pelo próprio reflexo. Noutras palavras, o homem comum pode pertencer à determinada obra romanesca ou ser o seu autor. Ou ambos, se bem que essa terceira possibilidade é uma hipótese ainda a ser comprovada: até agora não foi localizado em toda a literatura um único romance em que autor e protagonista sejam a mesma pessoa, tenham o mesmo peso e a mesma consistência, sem que o primeiro suplante o segundo ou vice-versa. A obra de Pedro Nava é a que mais se aproxima dessa categoria, mas trata-se agora de memorialística, não de romance. Além de que o doutor Nava jamais se enquadraria na categoria de homem comum. O diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus, publicado com o título de Quarto de despejo, também não serve, quase que pelos mesmos motivos.
10.
Já Clarice Lispector tentou chegar ao cerne da pobreza pela via indireta. Criou um anteparo, um escritor ficcional posicionado entre o escritor real e sua mulher comum, Macabéa. Com isso procurou provar que há comunhões que distinguem e há as que unem em blocos homogêneos os diversos indivíduos comuns do cotidiano. Não é justamente isso o que acontece em A hora da estrela? Nesse romance, Rodrigo, o narrador-escritor, embaralha as máscaras sociais a ponto de trocar a sua com a dos indigentes. Enquanto tenta representar da maneira mais fiel possível sua alagoana pobre, raquítica e feia, e os amigos dela, Olímpico, Glória, madame Carlota, não acaba justamente se posicionando ao lado deles? Macabéa fede, tem o rosto manchado, não está preparada para o amor, ela é a cara do sertão nordestino. Mas seu biógrafo enxerga-a com outros olhos: “Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela”. Rodrigo sabe que pra falar de Macabéa tem de deixar de fazer a barba, de tomar banho, adquirir olheiras e só usar roupa velha. Sabe que tem que se pôr no nível de sua personagem. Mas os pobres são sempre grotescos e promíscuos e tudo o que Rodrigo consegue, tornando-se também grotesco e promíscuo, é a falsa impressão de que alcançou Macabéa em seu território. Na verdade ele não trocou a velha máscara de classe média pela da indigência. Ele apenas sobrepôs esta última à primeira, ficando duplamente mascarado.
11.
Álvaro Lins certa vez escreveu que Graciliano Ramos, na aparência, na exterioridade, nada revelava que pudesse distingui-lo do homem comum. “Tudo o que ele tem de especial, de anormal, de misterioso, fica reservado para a sua literatura e não para a sua vida.” Essas palavras parecem suspeitar do engodo supremo da vida e da arte: o homem simples, comum, é pura abstração, é fumaça e espelhos. Ele só existe enquanto conceito formatado pela ideologia burguesa e disseminado sem contestação por toda a sociedade. Jamais existindo enquanto indivíduo — porque, como cantou Caetano, de perto ninguém é normal —, ele tem que ser visto sempre de muito longe, inserido em grandes grupos: na praia, na saída das fábricas, nas passeatas, nos sambódromos, nos estádios de futebol. Mas sempre que o repórter de rádio ou tevê aproxima o microfone do zé-povinho e o deixa falar livremente, a personalidade rica e dolorosamente profunda dessa gente surge de súbito. Isolado, o homem comum é tão imprevisível, original, divertido, irônico, desagradável, rancoroso, paranoico, abençoado, que nos assusta, a nós que nos achamos tão incomuns. De perto ninguém é mero objeto. Isso é o que acontece quando os grandes escritores tentam criar personagens baseadas na gente simples: não dá, a humanidade inteira aflora na tragédia particular.
12.
Em Cordilheira — vilarejo do romance Doramundo, de Geraldo Ferraz —, a pobreza, a promiscuidade e a violência formam um coquetel demoníaco. O enredo é puro realismo-naturalismo, o tratamento literário é puro futurismo-cubismo. Essa estranha mistura faz dos mequetrefes de Cordilheira trágicas figuras circenses. A verdade é que o grotesco tem essa capacidade de transformar qualquer criatura, por mais rasa que seja, numa subjetividade profunda… Quem leu Vidas secas sabe que Fabiano, sinhá Vitória, os meninos e até mesmo Baleia, a cachorra mais querida da literatura brasileira, são criaturas míticas, medievais, organizadas pela aspereza da seca. São seres cuja vida interior cuidadosamente anotada pelo romancista é até mais intensa do que a nossa, tão moderna, desordenada e aquosa. Onde o retirante comum aqui? Onde o jagunço comum também no épico sertanejo de Rosa? Porque Grande sertão: veredas é o ponto máximo da traição a todo tipo de tradição populista. Riobaldo e Diadorim são universais, pertencem à humanidade inteira. São criações tão vigorosas que rapidamente implodem as estatísticas e os gabaritos sociológicos que porventura tentem enquadrá-los em determinado grupo social. As dezenas de coadjuvantes, igualmente movidas por questões morais (o bem, o mal, a justiça, a honra) e metafísicas (a morte, o demônio, a religião), não se comportam diferentemente. Medeiro Vaz, Zé Bebelo, Joca Ramiro, Sô Candelário, João Goanhá, Titão Passos — a guerra para a qual se alistaram é tão santa quanto a das cruzadas.
13.
Do sertão arcaico para a metrópole contemporânea. A hipertrofia de todos os defeitos imagináveis faz parte da caracterização do que o romancista de hoje acredita ser o típico indivíduo citadino, massacrado pela economia de mercado, pela sociedade de consumo. Centenas de protagonistas cafajestes e egoístas têm se multiplicado rapidamente. Metade da crítica está aturdida, seu bom gosto faz com que rejeite romances como O azul do filho morto, de Marcelo Mirisola, e O cheiro do ralo, de Lourenço Mutarelli, devido ao neorrealismo escatológico que lhes é característico. O protagonista de Mirisola é sempre o mesmo, livro após livro: é o jovem de classe média, grosseiro e obtuso. O protagonista do primeiro livro de Mutarelli é o comerciante de objetos usados, também grosseiro e obtuso. Ambos só se interessam por sexo, falcatruas e programas de tevê de péssima qualidade. Os dois romancistas veem o grupo de onde surgiram como a escória e é assim que o reproduzem em seus livros. Nunca o estereótipo do homem comum da ficção esteve tão colado ao seu correspondente da vida real. É como se finalmente a camada mais baixa da classe média, de gente inculta e sórdida, tivesse chegado à literatura, arte exclusiva até então de gente refinada e esclarecida — os doutores e as autoridades. O início de outra utopia… Os dois autores não falam diversos idiomas, não moraram na Europa, não respeitam a tradição clássica. Talvez por isso a crítica mais refinada e esclarecida torça o nariz pra eles: trata-se mais de luta de classes do que de simples julgamento estético promovido entre pares.
>>> O homem comum em treze romances brasileiros
Dyonelio Machado: Os ratos (1936)
Jorge Amado: Capitães de areia (1937)
Graciliano Ramos: Vidas secas (1938)
José Lins do Rego: Fogo morto (1943)
Lúcio Cardoso: Inácio (1943)
Geraldo Ferraz: Doramundo (1956)
Guimarães Rosa: Grande sertão: veredas (1956)
Oswaldo França Júnior: Jorge, um brasileiro (1967)
Clarice Lispector: A hora da estrela (1977)
Dalton Trevisan: A polaquinha (1987)
Marcelo Mirisola: O azul do filho morto (2000)
Luiz Ruffato: Eles eram muitos cavalos (2001)
Lourenço Mutarelli: O cheiro do ralo (2002)