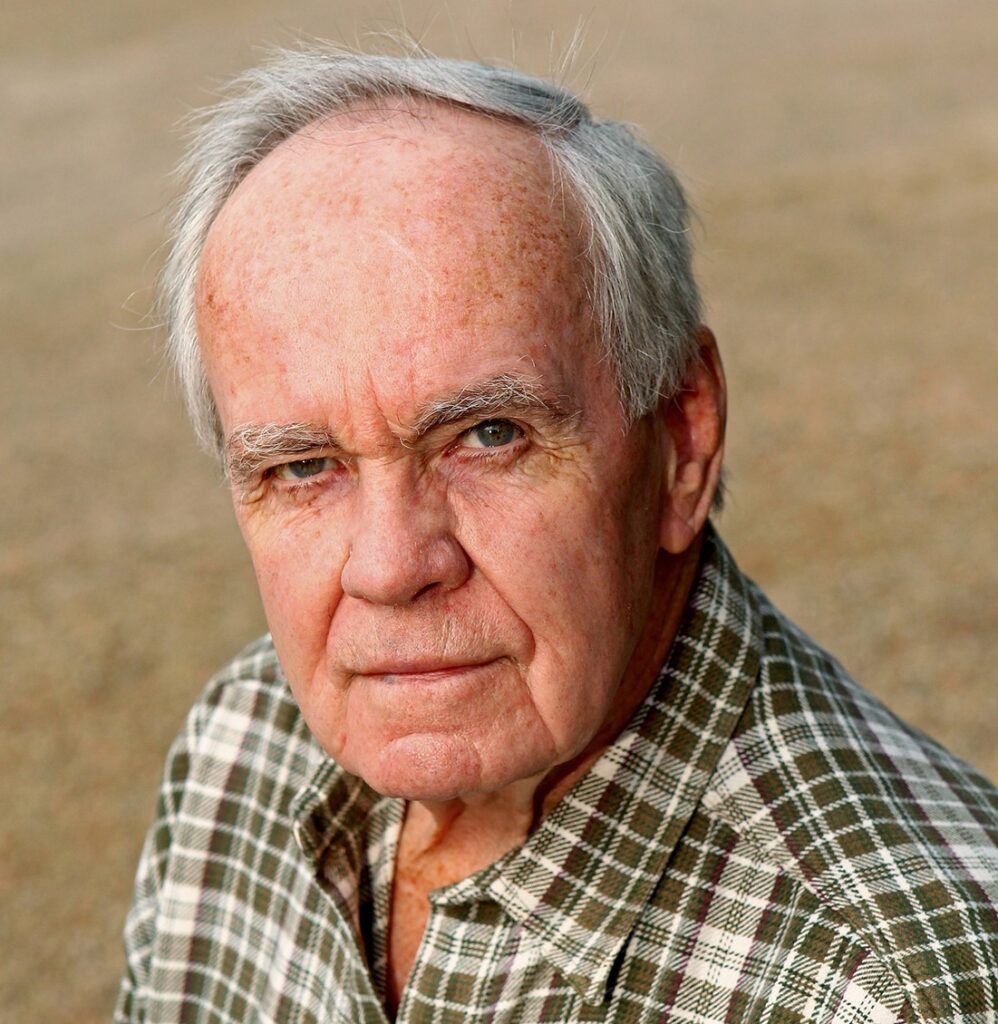A narrativa pós-apocalíptica é um dos subgêneros mais interessantes da ficção científica. Mas no divertido conto de Bradbury o apocalipse acontece na Terra, bem longe do local do entrecho: as cidades silenciosas de Marte. Essa foi a primeira ficção que eu li sobre o assunto e ainda é uma de minhas prediletas. Outra narrativa pós-apocalíptica de que gosto muito foi escrita já no século 21. Refiro-me ao terrível romance de Cormac McCarthy, A estrada, de 2006. A trama se passa numa Terra fria e inóspita, devastada provavelmente — o narrador não diz — por uma guerra intercontinental ou por um cataclismo cósmico. Boa parte da humanidade foi dizimada. Também não há mais lavouras nem animais. Os poucos sobreviventes — muitos começaram a recorrer ao canibalismo — passam o tempo procurando comida e driblando os perseguidores. Os protagonistas desse comovente romance são um pai e um filho pequeno há meses na estrada, famintos, extenuados, tentando fugir do caos. Infelizmente ambos não tiveram a mesma sorte que o minerador de As cidades silenciosas. Não ganharam de presente um mundo desabitado, pronto pra ser usufruído. Aqui o inferno realmente são os outros.
Em mais dois romances interessantes sobre o assunto — Só a Terra permanece, de 1949, e Eu sou a lenda, de 1954 — a humanidade é exterminada por uma pandemia. O primeiro, escrito por George Rippey Stewart, tem um tom mais luminoso e otimista. Como no conto de Bradbury, aqui o protagonista também estava isolado, bem distante de todos, quando as pessoas desapareceram. Mesmo que o drama do fim da civilização como a conhecemos esteja presente o tempo todo, ao menos os poucos sobreviventes conseguem se reorganizar e dar início a um novo capítulo da história da humanidade. Já o segundo romance, de Richard Matheson, é muito mais sombrio e pessimista: o último homem na Terra, imune à bactéria mortífera que transformou seus semelhantes em vampiro, consegue resistir por algum tempo, mas é finalmente caçado e aniquilado. Fim de jogo para o Homo sapiens sapiens.
Leio num artigo de Roberto de Sousa Causo, publicado em sua coluna na Terra Magazine, que O último homem, romance de Mary Shelley lançado em 1826, e A praga escarlate, romance de Jack London lançado em 1912, foram os precursores das narrativas pós-apocalípticas fundadas numa pandemia. No mesmo artigo Causo cita outro romance que ainda não li, mais recente: A dança da morte, de Stephen King, publicado em 1978. Sugestões anotadas. Tempos atrás Causo me emprestou a coletânea de Fredric Brown, Paradoxo perdido, que inclui o conto Batidas na porta, de 1948, também sobre o último homem na Terra. Essa narrativa irreverente sobre uma invasão alienígena e um zoológico interplanetário começa com o célebre microconto de suspense e horror:
O último homem na Terra estava sozinho na sala.
De repente, ouviu baterem na porta.
No cenário brasileiro, as narrativas pós-apocalípticas mais celebradas são certamente o conto de Levy Menezes, O último artilheiro, publicado em 1965, e o de André Carneiro, A espingarda, publicado em 1966. Ambos estão na antologia Os melhores contos brasileiros de ficção científica, organizada por Causo.
No conto de Menezes um sujeito sem nome, assustado, desastrado e armado, zanzando por aí, palmilhando o mundo esvaziado de gente, de repente encontra um bunker e um canhão. Esse encontro é narrado com muitos detalhes divertidos, em suas memórias. O saboroso senso de humor está presente até na maneira como esse homem enumera os capítulos do relato: de trás pra frente, “como quem conta para o disparo”. No conto de André Carneiro um homem também sem nome avança solitário pelo continente, pelo país, pela rodovia cheia de buracos e postes caídos. Ele avança rumo ao norte. As cidades são uma coleção de edifícios caindo aos pedaços e milhares de carros enferrujados, retorcidos. Há por todos os lados cadáveres ainda em decomposição. Quando quer comer ou beber algo, o homem cobre a boca e o nariz com uma máscara improvisada e entra num bar ou numa mercearia pestilentos.
Há também o romance de Marcelo Rubens Paiva, Blecaute, publicado em 1986, em que três amigos, após passarem quatro dias isolados numa caverna, encontram a população mundial misteriosamente paralisada. Todas as pessoas foram convertidas numa bizarra e vasta coleção de estátuas de borracha. A partir daí a vida dos três amigos segue a rotina natural de um mundo (quase) sem ninguém: nervosismo, dúvidas, saques, confissões, brigas, esperança.
Já deu pra perceber que é no galho geral da literatura pós-apocalíptica que está o ramo mais específico das narrativas sobre o último homem na Terra. Das ficções citadas, apenas O último artilheiro, de Menezes, contempla esse tema da primeira à derradeira linha. Seu protagonista artilheiro permanece realmente sozinho do começo ao fim. Nos outros exemplos em pouco tempo surge uma pessoa pra fazer companhia ao protagonista solitário — a última mulher (Bradbury e Brown), uma mulher-vampiro (Matheson), um homem armado (Carneiro) — ou muitas outras, reiniciando a civilização ou promovendo o próximo estágio da espécie humana.
Em todas as narrativas citadas, incluindo O livro do apocalipse de São João, existe um narrador ímpar, em primeira ou em terceira pessoa. Cada narrador é diferente dos demais porque diferentes são os autores citados. Porém esse grupo de narradores díspares, uns mais bem construídos, outros menos, pode ser dividido em pelo menos dois subgrupos, se levarmos em consideração um detalhe muito importante: a indicação ou a supressão do nome próprio.
Nas ficções pós-apocalípticas mais antigas, o narrador onisciente, que tudo vê e tudo sabe, não faz questão de ocultar do leitor o nome dos protagonistas e dos figurantes. Já nas ficções mais recentes essa ocultação acontece com freqüência. O narrador não é mais aquela entidade equilibrada e objetiva, tão comum na ficção dos séculos 18 e 19. A experiência do pós-apocalipse é tão desestabilizadora, tão acachapante, que a confusão mental e emocional dos protagonistas e dos figurantes acaba contaminando a própria narrativa. Um personagem sem nome é um personagem quase sem identidade. Quase sem personalidade. Que importância teriam um nome próprio, uma certidão de nascimento ou uma cédula de identidade num mundo devastado?
Outra informação que o narrador moderno gosta de sonegar: a causa da catástrofe. Nas ficções pós-apocalípticas mais antigas o desaparecimento abrupto da humanidade é imputado a uma pandemia, a um cataclismo cósmico ou a uma guerra genocida. O leitor não fica no escuro, sem saber exatamente o que houve. Já nas ficções mais recentes as coisas são mais nebulosas. O máximo que certos narradores concedem são algumas poucas pistas pra que o leitor elabore sua própria hipótese.
Duas de minhas narrativas contemporâneas prediletas, sobre o último homem na Terra, apresentam narradores lacônicos e protagonistas inominados: Acenda uma fogueira, miniconto de Causo, publicado em 1999 na coletânea A dança das sombras, e Da cidade que não conheço, 3 de Agosto de 2013, conto de Cláudio Brites, publicado em 2010 na coletânea Cartas do fim do mundo, organizada por Brites e Nelson de Oliveira. Nessas duas ficções a humanidade foi varrida do planeta, restando apenas um indivíduo desnorteado e desconsolado, certo de que, igual ao leitor, jamais descobrirá o que realmente ocorreu. Após a angústia inicial comum a todas as histórias desse ramo — o que está havendo? o que causou isto? estarei sonhando? —, em cada narrativa há um momento dramático pleno de força poética: o incêndio das metrópoles, em Acenda uma fogueira, e o suicídio falhado, em Da cidade que não conheço, 3 de Agosto de 2013. A civilização sendo dizimada pelo fogo e o suicídio baldado pela descoberta da imortalidade foram dois momentos literários que me comoveram.
CONCLUI NA PRÓXIMA EDIÇÃO.