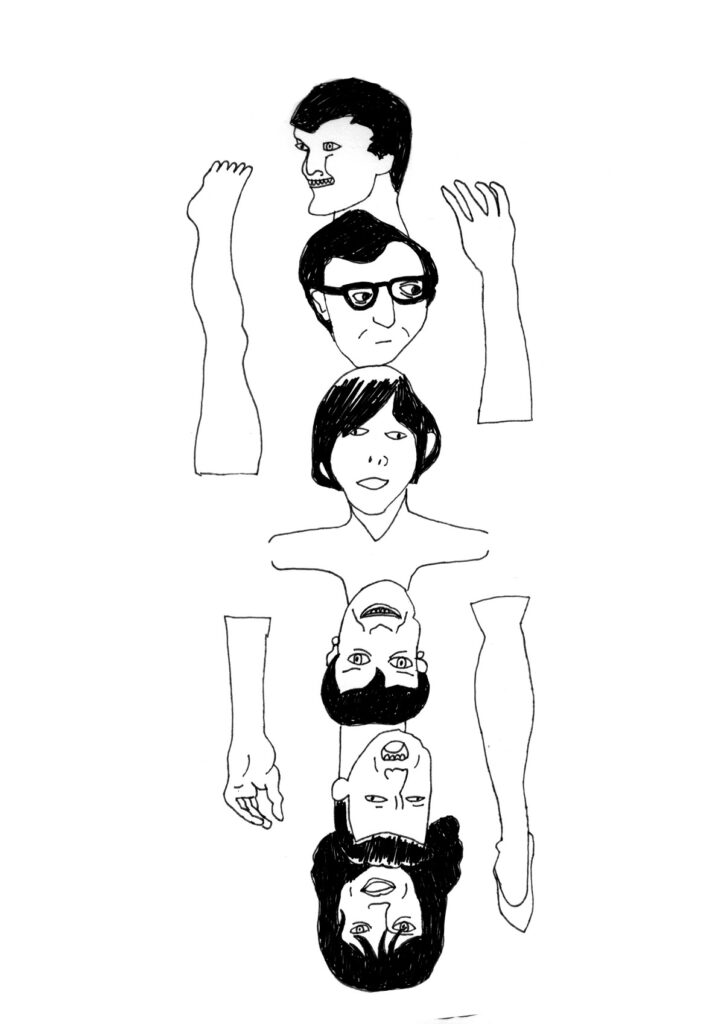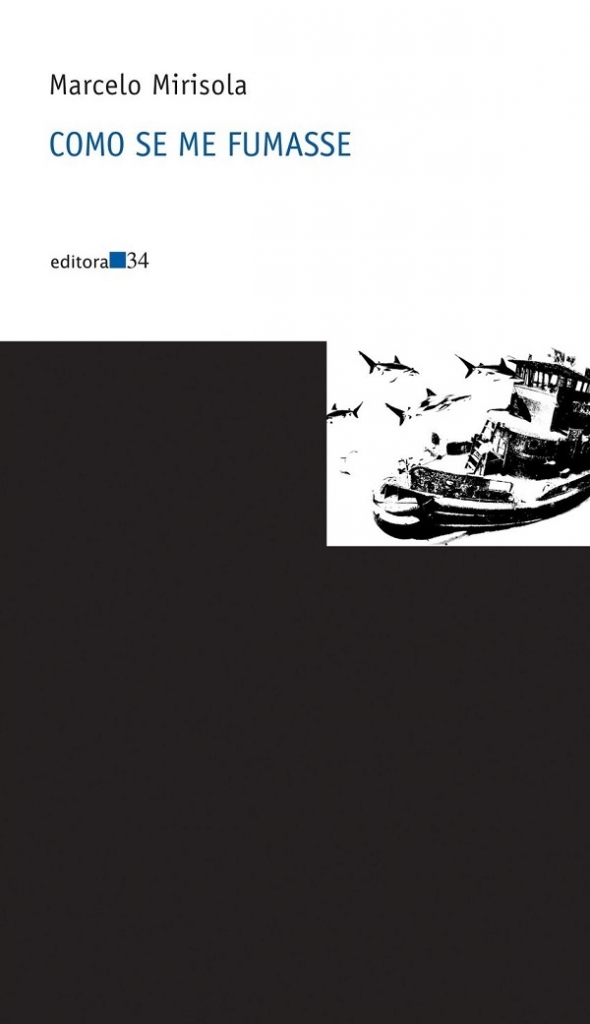A grande tendência da literatura brasileira contemporânea é a autoficção, um discurso que se elaborou entre nós desde o começo do século 20 (Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, 1909), tendo como marcos recentes dois romances nascidos da crônica (O pavão desiludido, 1972, de José Carlos Oliveira — e Quase memória, 1996, de Carlos Heitor Cony). A maioria de nossos ficcionistas de hoje já se submeteu a alguma experiência nesta modalidade que se apropria do nome real do autor e de pessoas próximas, transformadas em personagens. Isso pode ser apenas um jogo, uma brincadeira estrutural, para acobertar áreas ficcionais (como é o caso de O irmão alemão, 2014, de Chico Buarque), ou pode ir ao limite da renúncia da ficcionalidade e fazer do excesso de confissão um confronto com tudo e com todos.
Neste último caso, o escritor atenderia ao que Michel Foucault definiu, no final da vida, como a “coragem da verdade”. Interessam, para a literatura, os escritores autoficcionais deste segundo grupo, cujo caso mais requintado, pelo que há de arte e ódio em seus escritos, é Marcelo Mirisola — que acaba de publicar um dos romances mais contundentes da literatura brasileira: Como se me fumasse. Sem o menor receio, ele avisa: “escrevo deliberadamente na primeira pessoa, e assino o meu nome embaixo, sem pudores nem disfarces”.
Nenhum outro escritor da língua portuguesa se dedicou tanto para reelaborar literariamente o que poderíamos chamar de uma gramática de Facebook. Passando das postagens de seu perfil pessoal para sua literatura, não sentimos alterações de registro. Nas redes sociais, ele se manifesta de forma feroz, reclamando, analisando, zombando, mimetizando procedimentos de escrita, cacoetes, oralidades grafadas, para chegar ao coração selvagem do agora. Em Como se me fumasse, Mirisola se vale deste código para construir um romance-síntese, um túmulo de todas as nossas ilusões, importando do feicibuque (tal como ele escreve) os instrumentos de linguagem para este epitáfio de uma geração.
A busca da verdade só funciona quando destrói quem a procura. E é exatamente este desejo autodestrutivo que diferencia as análises impiedosas de Mirisola da mera vingança amorosa, social e literária — que não deixa de se manifestar na narrativa. Vendo-se como alguém fadado ao insucesso nas relações, o personagem MM (Marcelo Mirisola) revela a sua fragilidade. Assim, as descrições indignas de intimidades, as versões das vilanias alheias e as cobranças acusatórias que encorpam a narrativa saem sempre pela culatra, atingindo primeiro quem as escreve.
O romance tem duas linhas evolutivas que se encontram no final — uma partindo da juventude do narrador e outra contemporânea. Comecemos pela segunda. De um ponto de vista mais anedótico, mostra o retorno de uma mulher que destruiria a vida do narrador bem na época em que ele enterra a mãe — há uma similitude entre as duas, como veremos.
Esta fêmea fatal, portadora de um poder sedutoramente maligno, seria o grande amor que, ao se aproximar novamente dele, abre todas as feridas afetivas. A aproximação é momentânea, dura um beijo, o suficiente para atormentar o cinquentão em mais uma tentativa de relacionamento. O beijo o precipita no abismo de suas próprias frustrações. E ele começa a girar em torno desse amor, como todos os demais, inviável. Há uma trajetória espiralada em torno dessa mulher feiticeira, anunciada por oráculos debochados como a sua perdição. Por conta disso, o narrador a chama apenas de Ruína, com maiúscula.
Colecionador de casos ligeiros, complicados e devassos, o narrador aos poucos percebe que Ruína não é uma mulher específica, representando uma feminilidade terrível e noturna, que vem roendo o seu coração desde o início. Ela é todas as mulheres de sua vida ao mesmo tempo. A tentativa de reconquistá-la está, portanto, fadada a novas desilusões, das quais ele sairá mais machucado e com mais vontade de machucar as pessoas.
No outro plano narrativo, cujos episódios se alternam com a obsessão por Ruína, dando movimento ao livro, encontramos a história do narrador, desde o período em que deixa a casa dos pais, em São Paulo, para entrar em uma faculdade de Agronomia no interior do Estado, logo abandonada para perder-se no garimpo pelos cafundós de Minas Gerais. A construção do herói carente e errante é feita com um grau de verdade que constrange e comove, obrigando-nos a ver sob a sua pele de monstro a matéria humana de que é feito. Tudo que ele tenta, até ser dono de um barco para turistas em Santa Catarina, dá errado. Só é salvo pela tolerância de um avô maluco (Pascoalão), com que passa a viver em Santos, no papel de secretário informal. É então que, na condição de desistente de qualquer carreira, se faz escritor, passando pelas dificuldades todas, para subitamente se tornar a grande promessa da literatura brasileira dos anos 2000: “eu me acostumei a ser tratado como um gênio, e não aceitava nada abaixo dessa ‘categoria’”. Esta fase mais pretensiosa de sua atuação acaba, e ele se descobre errado também em tal identidade, mais incômoda do que qualquer uma. Neste momento fantasmagórico em que narra a sua trajetória, ele a resume, ironizando as acusações que sofreu: “No começo, um gênio excêntrico, depois o bom louquinho, depois o maluco ensandecido, arrogante e prepotente, depois o mauricinho filho de mamãe que morava numa quitinete de marfim e que não conhecia a realidade dos pobres e oprimidos da periferia e, por fim, o proscrito”.
Seu ostracismo, experimentando como apoteose suicida nas páginas do “maldito feicibuque”, é que dá a força literária e humana a um livro cruel com todos, principalmente com o autor. Sobressai sua luta para a sobreviver à própria família, outro centro narrativo do relato. As suas maluquices foram inicialmente apoiadas pelo pai, que logo se torna seu pior inimigo, preferindo proteger o caçula, que lhe dá netos. E MM não perdoa o pai, o irmão, a cunhada e mesmo os sobrinhos, acusando-os dos comportamentos mais escrotos, tornando-os a encarnação da maldade.
Percorremos o livro como se fossem condensados ali todos os círculos do inferno, caoticamente misturados, em que parentes, amigos, amadas e o próprio viajante estivessem pagando pelos erros da condição humana.
Assim, o nome dado à mulher que o destrói se faz um mito maior. Não é apenas a identidade repetida do rosário de amadas que o maltratam, e que são maltratadas por ele, e sim dos seres reunidos neste livro porque companheiros de idêntica sina. Todos são (somos) Ruínas.
Neste percurso altamente conflituoso do herói degradado, em que o mal está em toda parte, apenas uma figura se salva, a mãe do narrador-autor — que aparece também na dedicatória (“Saudades, mãe, este livro é para você”). Antítese clássica do mitema da mulher fatal, a mãe devolve o narrador a uma inocência impossível, completando o retrato do escritor como alguém que odeia como única forma de amar e ser retribuído.
NOTA
A partir desta edição, o Rascunho passa a republicar os artigos da coluna de crítica que Miguel Sanches Neto (www.miguelsanches.com.br) mantém no Jornal de Letras, de Lisboa.