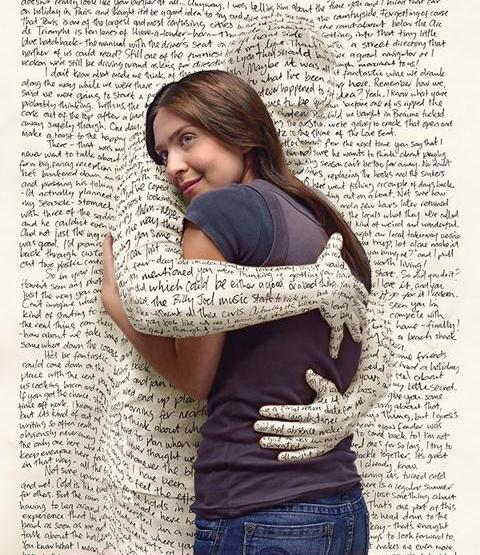A literatura tipicamente brasileira passa por uma guinada sociológica. Em um país com tanta vulnerabilidade social, a arte e a linguagem que ignorem as tensões do povo tendem a ser vistas como inimigas. A exigência de um viés prioritariamente engajado da escrita cresceu muito na última década, por conta da dependência do mercado em relação às universidades.
Sem uma faixa extensa de leitores autônomos, com interesse literário, o Brasil se divide em nichos, com produções dirigidas a públicos intransigentes, que não aceitam nada que fuja a valores grupais. De uma maneira perigosamente sumária, poderíamos dividir o pequeno universo de consumo em três correntes ortodoxas.
A dominante, porque com potencial econômico, que mimetiza as estruturas mercantis do best-seller, e que já tem um público consolidado pelo produto estrangeiro e constantemente referendado pelos filmes e pelas séries dirigidas para a distração digestiva das massas. Este campo vai do romance de misticismos baratos à narrativa de autoajuda, dos livros de fantasia às narrativas de clichês sentimentais, das crônicas humorísticas à poesia para ser lida em programas de tevê. A maior densidade de leitores no Brasil está localizada neste segmento, que é atendido por grandes nomes midiáticos. Esta literatura sob demanda cumpre um papel ativo na manutenção de uma recepção mais aberta, ao mesmo tempo em que fideliza este leitor a um tipo de texto literariamente rudimentar, mesmo (e talvez principalmente) quando com pretensões artísticas.
Neste negócio, o mais importante é corresponder às expectativas do público e dar a ele a certeza de que o autor é alguém de sucesso. Consome-se a marca que está em alta no mercado. O leitor médio precisa desta confiança no nome, que vem antes do livro.
Quase como uma reação à mercantilização do produto literário nacional, há uma romantização estética das experimentações principalmente nos autores mais jovens (e nos que envelheceram na infância da arte), que transformam a ruptura com o público médio em ideal, destinando seus livros à leitura dos artistas e, consequentemente, à busca dos prêmios literários, convite para palestras remuneradas e respeitabilidade dos pares. Escreve-se aqui em uma linguagem que se quer original, quando na maioria das vezes apenas se repetem os procedimentos vanguardistas, cultuando grandes nomes do passado, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Oswald de Andrade e Osman Lins, para ficar apenas em antepassados nacionais, embora este grupo se queira cosmopolita, pois entende que a sua pátria é um conceito de escrita, mais do que o pertencimento a uma tradição.
Nos últimos anos, no entanto, fortaleceu-se a onda que agora ganha centralidade na produção nacional. A literatura do lugar da fala. Desde a entrada dos departamentos de Letras na condução do debate cultural brasileiro, a partir dos anos 1960, os intelectuais universitários interferem nas tendências de consumo especializado. Com um número astronômico de cursos de Letras por todo o país, com grupos de pesquisa, congressos, projetos financiados, publicações especializadas e espaços de aula, a Universidade brasileira é a segunda maior instância formadora de público no país, perdendo apenas para os filmes e séries. O seu é um poder de base, construindo discursos que podem não apenas valorizar determinadas literaturas como criar condições para a sua produção.
Se nos anos 1960 e 1970, os departamentos de Letras foram estruturalistas em sua abordagem estética, nas duas décadas seguintes valorizaram as obras pós-modernas que exprimiam uma voracidade estética, aproveitando tudo de todas as procedências. Neste período, o romance histórico foi o centro, consagrando internacionalmente autores como Rubem Fonseca e Ana Miranda. A partir dos anos 2000, com o ápice do politicamente correto, entra em cena um novo ideário na universidade. A valorização das falas minoritárias: mulheres, negros, gays, favelados, indígenas, etc. Linguagens e experiências sociais a que era negado o valor de arte assumem um poder crescente, com a consagração, em termos simbólicos, nas duas últimas edições da Flip, com a homenagem a autores-chave deste segmento: Lima Barreto (o inventor da língua brasileira literária) e Hilda Hilst (a irreverente autora de textos hermético-desbocados).
Nesta nova onda, que é mais ética do que estética, o importante não é tanto o resultado, mas a oportunidade de os grupos marginalizados tomarem a palavra. Quanto mais distante do poder, mais espaço para a fala — eis a lógica. Assim, vivemos um processo de grande beleza social, em que se começam a mapear as vozes historicamente silenciadas. Esta compreensão, que cresce rapidamente, coloca em xeque reputações e obras, legando ao esquecimento uma produção que, mesmo com validade estética, não tem raízes explícitas no drama da maioria. A principal estratégia da universidade para estimular a produção oriunda, como linguagem, de uma situação de descaso é uma boa vontade crítica e uma tolerância estética antes impensável. Não temos ainda muitas obras universais dos escritores ligados ao que se popularizou como literatura “das quebradas” — ou seja, da periferia. Os maiores nomes são Carolina Maria de Jesus (Quarto de despejo, 1960), Paulo Lins (Cidade de Deus, 1997) e Conceição Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003).
Um reflexo positivo de todo este movimento pode ser visto nas novelas, filmes e comerciais brasileiros, que incorporaram como cidadãos plenos os que antes eram brasileiros invisíveis. O lado negativo é a ideia de que nenhuma encarnação ficcional pode ser feita fora da identidade do autor. Por exemplo, um ficcionista branco ao criar um personagem negro, sem estereótipos, estaria roubando a fala do outro. A literatura é a magia de experimentar-se diferente, de colocar-se no lugar extremo dos seres humanos. Assim, um grande escritor se faz nestes deslocamentos identitários.
Se há algum excesso nestas restrições, o movimento todo é saudável, pois tenta fazer com que a literatura brasileira espelhe a média de sua população. Em algumas décadas, com a democratização de oportunidades educacionais, teremos um cânone literário mais condizente com a nossa formação. Enquanto isso, é claro, nós, homens brancos e heterossexuais, seremos mais questionados e teremos que exercitar uma abertura para o outro heterogêneo. Quero acreditar que a grande literatura brasileira está sendo produzida no espaço de tensão destas três correntes.