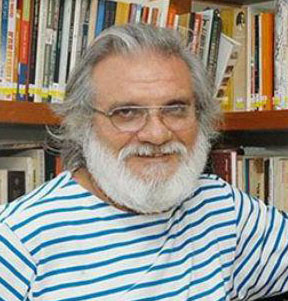O narrador onisciente sempre me fascinou muito, sobretudo depois da descoberta do narrador oculto, ainda no começo da minha atividade literária. Tudo porque jamais gostei de escrever sem ter convicção do que estou fazendo. Desde que voltei meus olhos para os primeiros textos, mesmo os clássicos, costumava fazer a pergunta talvez ingênua: “O que esta palavra está fazendo aqui? Por que não optar por um sinônimo?”.
Bem mais tarde, aprendi com Jorge Luis Borges que não existe sinônimo. Foi um choque. Fiquei perplexo. O poeta argentino afirmava num daqueles prefácios magníficos que uma palavra é única — ou ela ou nenhuma. Lembro-me de que ele citava a palavra mar, que alguns substituem por oceano, de acordo com a conveniência e conforme a necessidade narrativa. Para ele, nada disso: mar é mar, oceano é oceano. E pronto. Assim, definitivo. Fiquei encasquetado e fui pedir explicações, feito se diz na vida real. Compreendi, então, que depois de uma chuva torrencial fica “um mar d’água, jamais um oceano.” Até porque um oceano d’água seria um escândalo de ruim. Embora “um mar d’água” seja um pleonasmo da pior espécie e só se justifica pela expressão popular, a exemplo de “a chuva que caiu ontem”. Chuva sempre cai, não há perigo, mas a expressão popular justifica-a. Escritor não tem o direito de usá-la. Fiz experiências com estas e outras palavras, com estas e outras expressões. Fui me convencendo de que o velho mágico tinha e tem razão.
Flaubert foi o primeiro romancista a entender a presença do narrador como um problema central da estrutura romanesca, o primeiro a notar que este narrador não é o autor, e sim o mais ambíguo dos personagens que um autor de romance cria.
O mesmo aconteceu com o Narrador Onisciente, quase sempre usado nas narrativas clássicas e populares. A primeira impressão é de que o narrador onisciente pode tudo, justamente por ser onisciente e onipresente. Por isso mesmo, dá liberdade para que o escritor — muitas vezes nem sabe que é narrador — transforme a ficção num entrecruzar de monólogos, solilóquios, berros e gemidos. Assim, um personagem no Rio de Janeiro não pode revelar o que outro pensa em Miami. Esta é uma liberdade que mesmo o narrador onisciente não tem, a narrativa precisa de equilíbrio e harmonia. Machado de Assis foge deste equívoco grafando apenas o verbo acreditar — ou seja, Capitu acredita que Bentinho se equivoca ao imaginar uma cena que não é verdadeira, ou acredita que Bentinho está imaginando coisas improváveis. O narrador não diz “Capitu pensa que Bentinho não confia nela”. Mas “Capitu acredita que Bentinho não confia nela”. Um detalhe aparentemente bobo, mas fundamental na ficção. O personagem não pode pensar que o outro pensa. Exemplo magnífico é esta frase no final de Madame Bovary:
Rodolfo, que fora o condutor daquela fatalidade, achou-o bonacheirão demais para um homem na sua situação, cômico e um tanto vil.
Lendo bem, percebe-se, com clareza, que a frase está dividida em duas vozes, embora inteira, sem qualquer problema para o leitor. Ela revela a voz do narrador, sobretudo no aposto “que fora condutor daquela fatalidade” e a voz de Rodolfo que em pensamento faz censura ao comportamento de Charles Bovary, achando-o “bonacheirão demais para um homem em sua situação, cômico e um tanto vil”. Portanto, isto é o que Rodolfo pensa de Charles, mas Flaubert, como bom artista da narrativa, não diz que ele pensa, recorre ao que Mario Vargas Llosa chama de “relator invisível” e ao “relator filósofo”, divisões do narrador onisciente, que submete o próprio narrador onisciente a uma classificação técnica, de qualidade invejável. Então, assim, percebemos que a onisciência e a onipresença do narrador tem suas limitações. Vargas Llosa observou, por exemplo, a diferença entre o narrador onisciente entre Victor Hugo e Flaubert. Aí escreve:
Se algo que distingue o romancista clássico do romancista moderno é exatamente o problema do narrador. A inconsciência ou a consciência com que aborda e resolve este problema estabelece uma linha fronteiriça entre o romancista clássico e o contemporâneo.
Com Madame Bovary, Flaubert cria uma forma narrativa que revolucionaria o romance: matou a inocência do narrador, introduziu uma autoconsciência ou consciência culpada no relator da história, a noção de que o narrador “abolir-se” ou justificar-se artisticamente. Flaubert foi o primeiro romancista a entender a presença do narrador como um problema central da estrutura romanesca, o primeiro a notar que este narrador não é o autor, e sim o mais ambíguo dos personagens que um autor de romance cria. Tornou o narrador impessoal — invisível — coisa que, depois, passou a ser feita pela maioria dos romancistas.
Mesmo assim, a lição de Flaubert foi desconhecida pela maioria dos nossos escritores. Jorge Amado, por exemplo, que tenho na conta de notável criador de personagens, mesmo com a narrativa derramada e inconsequente que cria, chega a fazer com que o narrador de A morte e a morte de Quincas Berro D’água insulte os críticos literários do país, embora esta seja uma novela absolutamente bela. Isto quer dizer apenas que o escritor pode desconhecer a técnica, mas sabe que diminuirá muito sua capacidade inventiva. É um problema de escolha. Por isso Jorge Amado alcançou muito sucesso, mas pouco êxito. Ou seja, muitos leitores, mas pouca qualidade. O que um dia se transformará em silêncio. Um pouco mais de cuidado e tudo estaria resolvido. Os dois caminhos se mostram bem claros: o sucesso, que tem tempo para acabar, e o êxito, que é eterno.