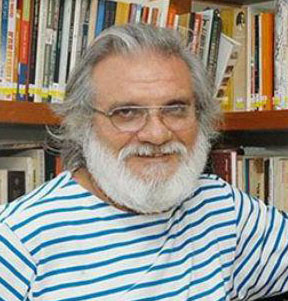Todos nós já ouvimos falar muito em tom, sobretudo em relação à música. Mas o tom existe em todas as manifestações humanas — na fala, no riso, no olhar, no vestir, no comer. E, sobretudo, na narrativa. Assunto, aliás, que tratamos sempre com o maior interesse. Escrever um romance, por exemplo, corresponde a compor uma partitura — sinfonia, valsa, ópera, bolero, samba — e para que isso aconteça da melhor forma possível, com capacidade de induzir e seduzir, é preciso encontrar o tom, que corresponde a uma cena, um cenário ou à fala do personagem — protagonista ou antagonista. E, como se trata da arte da escrita, é preciso encontrar as palavras certas, a pontuação certa, o movimento certo. Mesmo assim, que “certo” é este? Como saber que é “certo”? E por que é “certo”?
Este mês, dando aulas na minha oficina de criação literária, aqui no Recife, destaquei o romance Noturno sem música, do pernambucano Gilvan Lemos, que oferece um começo exemplar , com a escolha de palavras que correspondem ao verdadeiro e correto tom da cena, profundamente denso, tenso, agônico, com tendência ao silêncio e até ao monótono, sem qualquer eloquência ou pontuação rígida, pesada, firme. A primeira frase, devido ao tom menor, sóbrio e simples, quase simplório, introduz o leitor na cena, sem interrupção de sinais gráficos ou advérbios: “Repus a xícara vazia sobre o pires”. Assim, simples, direta. O escritor despreparado poderia introduzir aí a palavra errada e retirar a palavra certa. Qual a palavra errada? Para dar ênfase à frase — ênfase, aliás, que a frase não pede porque tem um tom de leveza e de simplicidade, de despojamento, de aceitação, escreveria o advérbio de modo entre o verbo e o sujeito: “Repus lentamente a xícara vazia sobre o pires”. E qual palavra certa retiraria? “Vazia”. Mas “vazio” não é adjetivo? Sim, mas um adjetivo necessário, informativo. Não se expõe num brilho desnecessário? Brilho solitário de quem empurra a frase para aparecer. Não é incomum que isso aconteça. Há quem imponha o adjetivo. A frase, então, perderia o tom que a cena pede com a introdução, digamos, de um acidente musical que ao invés de embelezar, entorta a frase que ficaria assim: “Repus, lentamente, a xícara sobre o pires”. Tudo errado. A mão pesada do autor substitui a mão leve do narrador e a besteira está feita. A frase de Gilvan integra-se ao tom da cena e o leitor percebe, sem esforço, a sequência musical, nem precisa fazer curvas dentro da frase para somente a partir daí encontrar o tom.
O escritor pode — e deve — ponderar que a inserção do advérbio mostra o conflito psicológico do personagem que é, também, o conflito do narrador. Sem dúvida. Mas perde muito em tom, em ritmo e em efeito literário. Passa a ter elementos de tensão e não de inquietação que se percebe muito bem na cena seguinte com a metáfora do relógio que virá logo depois. Além da poluição visual com a mancha que o advérbio deixa e da interrupção rítmica por causa das duas vírgulas. Isso tudo para lembrar ainda que escrevemos com muita ênfase dando destaque a sentenças e apostos. Em muitos casos, transformamos o advérbio quase mesmo num aposto que pretende explicar cenas e situações. Não é pelo grito que convencemos o leitor, mas pela habilidade e pelo ritmo das palavras na frase. De acordo e sempre de acordo com o tom da narrativa.
A frase seguinte do livro de Gilvan não é apenas uma frase mas uma cena decisiva para a construção da narrativa: “Marta pediu licença e foi à cozinha, Raimundo acendeu o cigarro”. Um acerto definitivo: não adjetivar os movimentos dos personagens. Do tipo: “Marta, gentil e calma, pediu licença, e foi à cozinha”. O uso da crase aí é essencial. Se escrevesse: “Pediu licença e foi para a cozinha”, daria a impressão de que as palavras empurram a personagem para a cozinha, agravada com a falta de elegância do escritor. Neste caso, do escritor ou autor e não do narrador. Sempre assim, apesar da redundância, o escritor escreve e o narrador narra.
Um adjetivo pode colocar em risco não só a cena, mas um parágrafo inteiro ou um capítulo ou um livro. Tenho um exemplo que me acompanha pela vida afora. No meu primeiro romance, usei o adjetivo “enlouquecida” para a personagem Gabriela. Hermilo Borba Filho pediu para riscá-lo, insistiu dizendo: “Basta a cena em que ela aparece”. Por pura rebeldia, deixei o adjetivo, e ficou errado para sempre. O romance A história de Bernarda Soledade está traduzido para o francês, romeno e búlgaro e, para minha sorte, alguns tradutores retiram o adjetivo, mesmo sem me consultar. No Brasil, porém, deixo que fique assim, para não esquecer minha bobagem. E para que sirva de exemplo nas minhas aulas da oficina de criação literária.
Na sequência, eis a terceira frase do início de Noturno sem música: “O relógio da parede enchia a sala com seu tique-taque constante”. Aqui a metáfora do tempo — o relógio — é mais decisiva do que a frase, embora a palavra constante esteja sobrando. Por isso não se pode levar muito em conta a frase, mas a metáfora. O leitor agora está também no tom da frase e vive a atmosfera narrativa. É este tom que leva à atmosfera sutil e leve a destacar a ansiedade de Jonas, a se debater com o amor romântico e, mais do que romântico, platônico. Observem que o narrador não explica nada, pelo simples motivo de que não se explica em ficção. As cenas, as sequências, os episódios explicam sem necessitar da eloquência nem da verborreia do autor que quase comete a fraqueza de opinar. O autor não deve fazer isso nunca.
Se as cenas não conseguem explicar, então a narrativa está errada. Vejam agora como ficou o começo do romance, conforme está publicado: “Repus a xícara vazia no pires. Marta pediu licença e foi à cozinha, Raimundo acende cigarro. O relógio da parede enchia a sala com o seu tique-taque constante”.
O leitor percebe, através de cenas simples, sem palavras eloquentes, sem adjetivos e advérbios, que está dentro da atmosfera do romance que, em princípio, é a atmosfera da casa de Marta e Raimundo, onde se desenrola o drama de Jonas e que será palco de muitas ações romanescas.