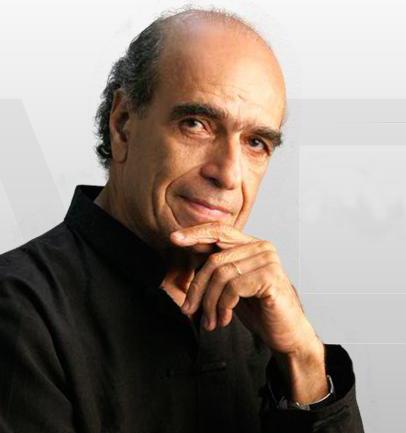Lévi-Strauss, vivíssimo, comemorou os seus 100 anos no dia 28 de novembro. Muita coisa se falou e se escreveu sobre o antropólogo mais importante do século 20, que aos 27 anos veio ao Brasil estudar os “índios” da USP e do Mato Grosso. Mas há um texto dele, que não tem sido considerado e que é importante para se estudar a fracassada “bienal do vazio” de São Paulo, que encerrou melancolicamente em 6 de dezembro.
Lévi-Strauss escreveu o texto “o métier perdido” lamentando que a partir do impressionismo foi-se perdendo cada vez mais um tipo de saber milenar que havia na pintura e outras artes plásticas. Dizia: “os impressionistas haviam ainda aprendido a pintar, mas faziam o que podiam para esquecer; sem ter êxito, graças a Deus, mas logrando persuadir a uma geração de epígonos de que o saber era inútil, que bastava entregar-se à espontaneidade e, segundo uma fórmula que se tornou célebre, pintar ‘como um pássaro canta’”.
O texto é intrigante. Lévi-Strauss não é nenhum tolo ou leviano. Ele pode ter-se equivocado em algumas observações, mas há no seu texto coisas que mereceriam desdobramento. Por exemplo: a ideologia futurista tinha uma visão mecânica do progresso, achava que a história era linear e que o “depois” era sempre melhor que o “antes”. E como os modernistas se apaixonaram pelas máquinas e hostilizavam a natureza, pensavam que a história era a história de Descartes, uma coisa sempre superando a outra, como na indústria.
Hoje, esse conceito (ou ideologia) está desmoralizado. É uma acepção machista e falocrática da histórica: a máquina (masculina) dominando a natureza (mulher). Baudelaire, Marinetti, Duchamp, todos caíram nesse engodo.
Consideremos, em contraposição, a consciência ecológica despertada a partir dos anos 60. Ela é uma tentativa de corrigir as aberrações do progresso e um esforço para salvar e recuperar várias espécies em extinção. Com efeito, Jean Clair havia dito: “A pintura neste fim de século está mal. Para quem ama a pátria dos quadros não restará em breve que o interior dos museus, como para quem ama a natureza, só restarão reservas de praças, para aí cultivar a nostalgia daquilo que não existe mais”.
Então nos perguntamos: será que devemos olhar as obras de “ontem”, como um taxidermista desconsolado, como um melancólico antropólogo? Será que estamos mesmo num “museu de artes e ofícios”, repassando a história a distância? Ou será que é possível uma outra visão, exatamente a partir da mudança de perspectiva que a ecologia trouxe desde os anos 60? Ora, o que os movimentos de preservação da natureza trouxeram, a grande novidade, é que não nos devíamos nos conformar com a idéia de ir aos Museus de História Natural para ver o mundo de ontem, mas transformar a natureza, ainda que tardiamente, num museu vivo, ou seja, num antimuseu, numa negação do museu, posto que seria a reintegração do espaço da vida na própria vida, e não mais friamente armazenada, condensada, segregada, empalhada atrás de uma vitrina.
A ecologia é um passo adiante da taxidermia. A ecologia é realmente “contemporânea”, pois coloca a natureza no mesmo tempo e espaço do observador. Com efeito, no espaço da arte tem ocorrido algo paradoxal, pois as pessoas continuam indo aos museus para sentirem “no passado” o que não mais sentem diante das obras de seu tempo. Ou seja, elas presentificam o passado, o passado não passou, porque a arte autêntica é intemporal. Como muitos já constataram, tornou-se, aliás, constrangedor o vazio que existe nas salas mais “contemporâneas” em contraste com outras salas de museus de “ontem”. Assim estabelece-se um paradoxo, o “ontem” está presente, e o presente está ausente.
E a “bienal do vazio” foi disto um clamoroso exemplo.