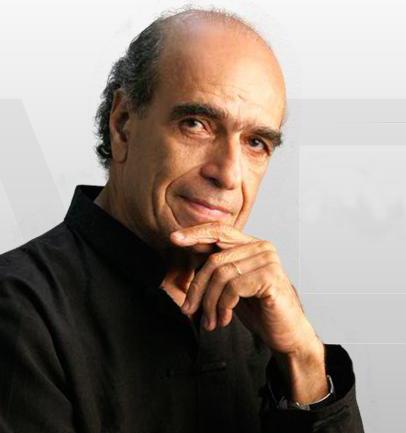Acabamos de sair de um século mortal e mortífero. Morte de Deus, morte da história, morte do homem, morte da arte e quase a morte da morte. Nesse sentido, o vasto cemitério em que a teoria perambulou como um zumbi entre o sentido e o não-sentido complementa a maior e mais devastadora orgia de sangue, destruição e guerras de que a história já teve noticia. Teorizar jubilosamente sobre a morte de certas categorias pode não fazer jorrar sangue no papel, mas justifica a morte onde quer que ela esteja. Dentro da morte da arte aprofundando-se o extermínio, efetivando a “solução final”, passou-se a falar de morte do romance, morte da música, morte da poesia, morte da dança, morte do teatro, morte dos gêneros, morte do autor. Este foi um período marcado pela tanatomania. Pode-se fazer uma tanatografia e até se constituir uma disciplina — a Tanatologia, tanto a morte ocupou espaço dentro da vida.
Estamos regressando da inspeção ao nada.
A tela branca, o teatro sem ator e sem texto, a escultura invisível, a música do silêncio, a literatura sem palavras, a filosofia como jogo de linguagem, não satisfazem mais a nossa fúria de procurar o símbolo até pelo seu avesso. Estamos entediados com símbolo do não-símbolo. Com o símbolo dessimbolizado. Por isso, há quem fale da urgência da ressimbolização. Afinal ainda não se conseguiu negar que somos animais simbólicos. Até os que tentam negar isso o fazem através de símbolos.
Há que voltar aos negligenciados problemas de linguagem e à linguagem do problema. Voltar, porém, criticamente e com esse distanciamento de quase cem anos. Como diz a canção folclórica, citada por James Gleick ao estudar o caos:
Por falta de um prego, perdeu-se a ferradura;
Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo;
Por falta do cavalo perdeu-se o cavaleiro;
Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha;
Por falta da batalha, perdeu-se o reino.
O século que cultivou de maneira mais ampla e sofisticada a violência, seja através dos morticínios estéticos, atômicos e ideológicos em “sibérias” e “campos de concentração”, seria aquele em que a brutalização da arte, o sadomasoquismo subespécie teórica e artística, atingiu o auge, até que torturada e despedaçadamente lançada aos quatro ventos e ao nada se tornasse irreconhecível. Os que alardearam o extermínio da arte repetiram duas síndromes históricas opostas. Ao decretarem que tudo era arte, se assemelharam aos reis espanhóis que batizaram como cristãos todos os judeus, pensando assim acabar com o “outro”. Mas lembram autoritariamente também a “solução final” dos nazistas. Mas não conseguiram exterminar os judeus nem a arte.
Portanto, se fosse possível falar de “novo” ou “novos” paradigmas, isso poderia começar pela reinvenção do jogo. Em vez do “fim de jogo”, o “jogar de novo”. R. D. Laing produziu revolucionários estudos sobre os esquizofrênicos, nos anos 50 e 60. Foi uma época propícia para isso. Estava-se revisando muita coisa, os próprios limites clássicos entre loucura e sanidade. Falava-se também na antipsiquiatria. Retomemos o texto de um de seus pacientes reescrito por ele. Também, ambiguamente, somos pacientes e médicos reescrevendo o texto que nos inscreve. Aí está dramatizada a nossa situação:
Eles estão jogando o jogo deles
eles estão jogando de não jogar o jogo
se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão
quebrarei as regras de seu jogo
e receberei a sua punição.
Há nesse texto algo além das diferenças de percepção. Há também o constrangimento, o double bind exercido por um poder e o temor do “paciente” diante do jogo que não é seu, que é “deles”. Prisioneiro da enfermidade e do sistema ele, constrangido, opta por jogar o jogo deles fingindo não ver a falsidade que lhe impingem. Esse sentimento, pode-se dizer, é semelhante ao de inúmeros pensadores, artistas e do público em geral, em relação a certa arte oficial, que Howard Becker, apropriadamente chama de “institucionalista”.
Conforme a tradição do perpétuo renascimento contra a morte anunciada, superemos o oxímoro paralítico exclamando:
— O rei morreu! Viva o rei!
É hora de desmistificar o antijogo, o não-jogo e dizer alto e bom som:
— Façam o jogo, senhores!