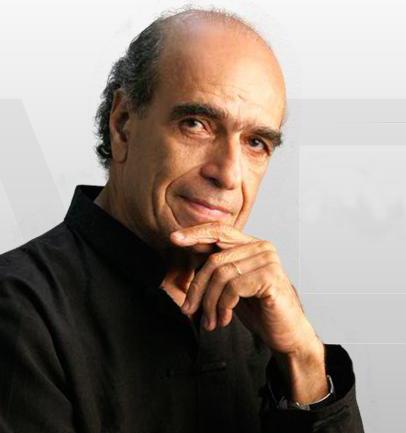Que lições tirar da “Bienal do Vazio”?
O que tem um escritor a ver com isso?
Começo pela segunda questão: primeiro porque as artes plásticas, há muito, invadiram o espaço da literatura e é por aí que se insere meu livro recente — O enigma vazio; segundo porque 99% dos escritores, aqui e no exterior, me dizem que acham a situação atual das artes plásticas um horror. Não só escritores, pensadores de várias linhas. Vejam esses nomes heterogêneos: Lévis-Strauss, Eric Hobsbawm, Vargas Llosa, Alain Badiou, Mircea Eliade, Jean Baudrillard, H. Mechanic, Kurt Vonnegut, Tom Wolfe, Nathalie Heinich, Pierre Bourdieu, Gilles Dorfles, Frederic Jameson, Jean Clair, Terry Eagleton, Suzi Gablik, André Gide, Marc le Bot, Paul Valéry, Paul Virilio, Zygmund Bauman, etc.
Por que os curadores e críticos de arte não se tocam? Por que não levam em consideração o que Robert Hughes — crítico de arte do The Times — vem sinalizando há tempos?
Temos uma situação no mínimo paradoxal e única. A crise dentro das “artes plásticas” tornou-se tão evidente que todo mundo a vê, menos os curadores e artistas que estão instalados dentro do seu sistema e dele estão se beneficiando.
Mas aconteceu a “Bienal do Vazio”, cujo apelido (coincidentemente?) saiu de uma crônica minha. E foi o fracasso que se viu. Poderiam ter aproveitado para reformular o conceito da Bienal. Não ousaram. Teriam que estar fora do sistema, teriam que superar a “agnosia conceitual”, superar os “pontos cegos cognitivos”, saltar os “obstáculos epistemológicos”. Enfim, teriam que pensar as artes plásticas de fora das artes plásticas, fazer uma crítica à famigerada pós-modernidade. Mas se o fizessem, esses curadores e artistas, estariam matando sua galinha de ouro.
E como se não bastasse a pobreza da concepção da Bienal, aconteceu o famoso episódio da pichadora chamada Carolina Pivetta, que, aceitando a provocação, foi lá com um bando de 40 carneirinhos travestidos de lobos e picharam a Bienal. Surgiu então uma polêmica mal colocada, dividida em dois partidos:
A) os que acusam a direção e a curadoria de terem deixado um andar vazio e endossarem a prisão da moça pichadora;
B) os que defendem os pichadores e grafiteiros em nome da liberdade de expressão denunciando no gesto policial traços da ditadura e do autoritarismo.
As duas posições, conquanto lógicas, antagônicas e esperadas, não esgotaram a questão nem solucionaram o problema. Apenas o reafirmam. Há algo que se não for enfrentado com argumentos teóricos transdisciplinares eficazes fará com que este seja um mero episódio jornalístico e policial como se não tivesse nada a ver com a crise da arte contemporânea. Em tempos de antiarte e não-arte, disciplinas não-estéticas têm algo a dizer sobre isso.
Portanto, só se entenderá o que ocorreu, só se sairá dessa crise com algum amadurecimento social e cultural se efetivarmos os seguintes raciocínios:
1. Este não é meramente um episódio policial.
2. Este não é meramente um episódio de luta de grupos pelo controle da Bienal.
3. Este é um problema cultural e teórico, que passa por um dos itens estruturadores da modernocontemporaneidade — o mito da transgressão como forma de arte. Não adianta, portanto, os curadores e a direção da Bienal, como o fizeram numa carta pública, dizerem que não têm nada a ver com a prisão e soltura da moça. Têm sim, a questão não é simplesmente policial nem jurídica. Repito, é cultural.
Não adianta também de uma maneira utópica, e cômoda, ser a favor de toda e qualquer “transgressão”, pondo-se do lado dos mais “fracos”, dos “oprimidos”, dos “jovens”, dos “artistas” que, quem sabe, um dia, serão reconhecidos como “gênios”.
Repito, a crise é cultural, é teórica e ideológica e se insere num dos mandamentos da modernocontemporaneidade: “transgrida e serás um artista”.
Temos, portanto, que analisar esse “mandamento” e enfrentar a seguinte evidência:
— Nem toda transgressão é arte.
— Nem toda arte é transgressão.
Nathalie Heinich, especialista em sociologia da arte, indo além de questões levantadas por Pierre Bourdieu, faz uma elaboração teórica impecável dessa questão ao abordar a aporia daquilo que Howard Becker chamou de “arte institucionalista” de nosso tempo. Tal arte está viciosamente prisioneira de um triplo jogo:
— A cultura moderna manda o artista transgredir.
— O artista, paradoxalmente, obedece e transgride.
— A seguir, a cultura, espertamente, assimila a transgressão neutralizando-a, transformando-a em peça de museu.
Há cerca de 100 anos que se joga esse jogo com dados viciados, uma olimpíada de transgressões que não transgridem. E essa “Bienal do Vazio” mostrou dentro do paradoxo outro paradoxo: a direção dizendo para os grafiteiros: “eu sou o transgressor oficial, eu posso transgredir, você não”.
Esse paradoxo se assemelha a outra falácia contemporânea, de que não existem fronteiras entre arte e não-arte. Fronteiras existem. Temos que saber lidar com elas, não ignorá-las. Atravessar a rua no sinal vermelho pode ser fatal.
Nem toda arte é transgressão.
Nem toda transgressão é arte.
Se não fizermos a análise crítica da ideologia da modernocontemporaneidade, continuaremos a discutir sobre o “vazio”, no vazio.
A arte não é a “casa da mãe joana”. Nem a vida.