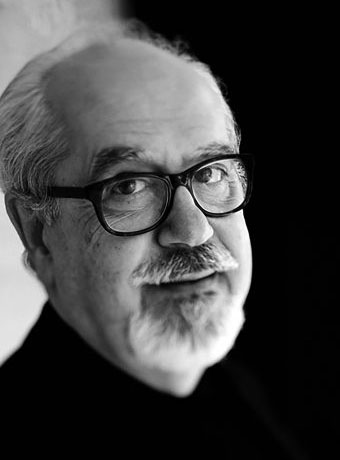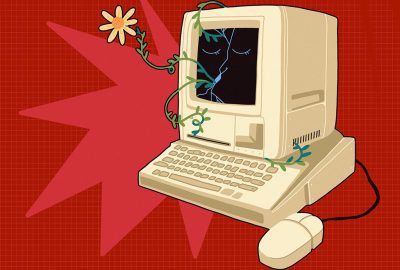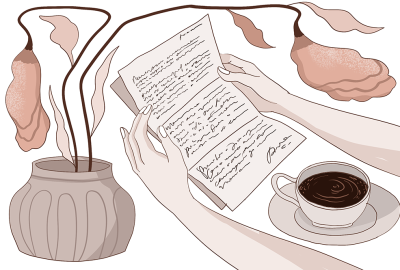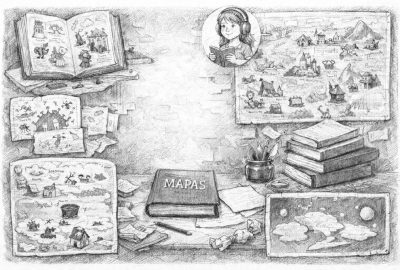1.
Penso que a ninguém passou em branco o livro que lia o Sr. Nogueira, narrador do conto Missa do galo, de Machado de Assis. Era um romance de Alexandre Dumas (pai), Os três mosqueteiros. Dumas, uma celebridade, chegava a todos os rincões do mundo, inclusive ao tão imperial e semicolonial Rio de Janeiro. De toda certeza, o jovem Nogueira já teria lido o primeiro livro do mesmo autor, O conde de Montecristo, como todas as pessoas ilustradas o fizeram. A fama dessa obra chega até hoje, também em mangás, filmes e quadrinhos. Algumas fontes o consideram um dos três livros mais lidos pela Humanidade, antecedido por Dom Quixote e sucedido por O pequeno príncipe. Por mais duvidosas que sejam as listas, ninguém inscreveria O conde de Montecristo entre os três se tivesse receio de passar vergonha.
2.
Antes de mais, é um romance de aventuras, com todas as marcas do gênero: inicialmente publicado em folhetim, precisava criar uma novidade a cada edição do periódico, e isso determinava o ritmo da narrativa: convulsivo, às vezes errático, com mil personagens que aparecem e desaparecem, uma delícia para qualquer leitor de meados do século 19 — e para este primeiro quarto do século 21, embora o cinismo do leitor contemporâneo tenha destruído qualquer possibilidade de ingênuo encantamento.
3.
O que define O conde de Montecristo, do ponto de vista estrutural, é a circunstância de ser aquilo a que se chamava de “romance de personagem” (como se todos não o fossem). Há a centralidade de uma figura humana, Edmond Dantès, que domina a obra de 1.200 páginas do início ao fim, e tudo que nela acontece só ganha sentido por valor da existência dessa figura. Quando acreditamos numa personagem, acreditamos em tudo que ela faz ou deixa de fazer no enredo, até as ações que ela própria não domina. O leitor, assim, perdoa e entende as ações bruscas, outras inexplicáveis, algumas coincidências absurdas. Claro, nem todas são abençoadas por esse prévio crédito: o alerta serve para reiterar a ideia de que, pelo fato de um livro pertencer ao cânone, não significa que seja literariamente impecável. Daí o porquê de nossos jovens se chatearem com certas leituras obrigatórias e perderem para sempre o gosto pela leitura. Pede-se clemência aos professores do ensino médio e a alguns do ensino superior, aos quais recomendo especial cuidado no momento da mediação entre a obra e o aluno. A pata da gazela, de José de Alencar, por exemplo, deve ser submetido a um prévio e acurado escrutínio temporal e geracional.
4.
Outra marca de O conde de Montecristo é a simplicidade de seu projeto. Estamos na França da Restauração bourbônica. Napoleão, exilado na ilha de Elba. Um homem do mar retorna a Marselha de uma viagem mercante, pronto para casar-se com sua amada Mercedes. Seus inimigos preparam para ele uma armação política, atribuindo-lhe o crime de ser bonapartista. Ele é injustamente condenado, fica 14 anos numa cadeia abominável na ilha de If, à vista de Marselha (hoje a cela e o castelo são pontos turísticos, como o verdadeiro local do encarceramento). Lá, na cadeia, uma personagem “de romance” ensina-lhe onde há um tesouro oculto, na ilha de Montecristo. Ao fugir de modo rocambolesco, Dantès dá de mão no tesouro (ele é tido como morto durante todo o resto do romance) — assume o título de conde de Montecristo e, rico com o dinheiro que lhe caiu do céu, vem para a França na intenção de desforrar-se de todos os safados que lhe impuseram o imerecido castigo e, talvez, recuperar o amor da bela Mercedes, que lhe jurara amor eterno. Depois, algumas coisas, aliás, muitíssimas, se passam (apenas atos de vingança), mas o estranhíssimo preconceito contra o spoiler me impede de anunciá-las.
5.
Ao falar em incongruências e inverossimilhanças, a maior e mais notável, para que o leitor deve estar preparado, é que não o reconhecem quando ele volta e circula na alta sociedade que o rejeitou, fala com as mesmas pessoas que o prejudicaram, cria empresas e aceitam que ele seja o conde que diz ser, e com aquela imensa fortuna. Claro, estava morto, e dificilmente um morto aparece vivo e faz negócios. Mas entendamos o tempo: não havia ainda a fotografia, internet era um sonho, e os retratos pintados não eram confiáveis, e nem os atores conheciam um make-up com a qualidade de transformá-los por total. Em tese podemos admitir essa inconsistência. Portanto: ninguém o reconhece como Edmond Dantès, mas depois de um tempo, e com certo esforço, sua amada sim, protagonizando um dos momentos mais líricos do romance: “Veja… (ela tirou o véu que escondia seu rosto), veja, o infortúnio deixou meu cabelo grisalho; meus olhos derramaram tantas lágrimas que estão cercados por veias roxas; minha testa está enrugada. Você, pelo contrário, Edmond, é sempre jovem, sempre belo, sempre orgulhoso…” [“Vous, au contraire, Edmond, vous êtes toujours jeune, toujours beau, toujours fier…”]. Essa frase, ainda que romanticamente hiperbólica, nos enternece até hoje.
6.
Tal era o homem que conduz a ação e faz acontecer tudo o que ali está, e comprova, mais uma vez, a onipotência das personagens centrais, quando nutridas de um estofo identificável. E aqui podemos considerar algo do anunciado no parágrafo 3. A vitalidade da personagem, como se viu, é que sustenta a ação. Ao lado disso, deve-se atentar para os aspectos volitivos da personagem: se Dantès é “sempre orgulhoso”, é porque tem um desejo, e esse desejo não é algo improvisado, nem superficial. Desde que foi para a prisão, ele quer se vingar, e esse objetivo assume uma proporção que ultrapassa as circunstâncias humanas para se erigir a uma dimensão metafísica; digamos, sua vingança é uma reconstituição de natureza moral, por certo, mas, da maneira como esse desejo se especializa em Dantès e o devasta, é como se o universo, ontologicamente pensado, deixaria de ser o que é sem que ele elimine todos que o traíram.
7.
Claro, estamos em outros tempos literários, em que o desejo da personagem se apresenta refinado, ou só entendido após uma interpretação que leva em conta os implícitos, os atos falhos, enfim, o subtexto. Mesmo que a personagem “não queira nada”, é justamente esse não querer que constitui seu desejo. O ensinamento de O conde de Montecristo é cabal, entretanto: a personagem bem constituída só irá subsistir até o final do romance se tiver um desejo, seja vingar-se de quem lhe fez mal, seja completar-se emocionalmente, seja, apenas, fabricar o emplastro Brás Cubas. Uma obra seminal como O conde de Montecristo, com toda sua completude, com todas as suas falhas orgânicas, com toda paixão de Edmond Dantès, vem marcando sucessivas gerações e, por isso, tem todo o direito de estar em nossa mochila — em edição de bolso, mais adaptável ao espaço a que se destina.