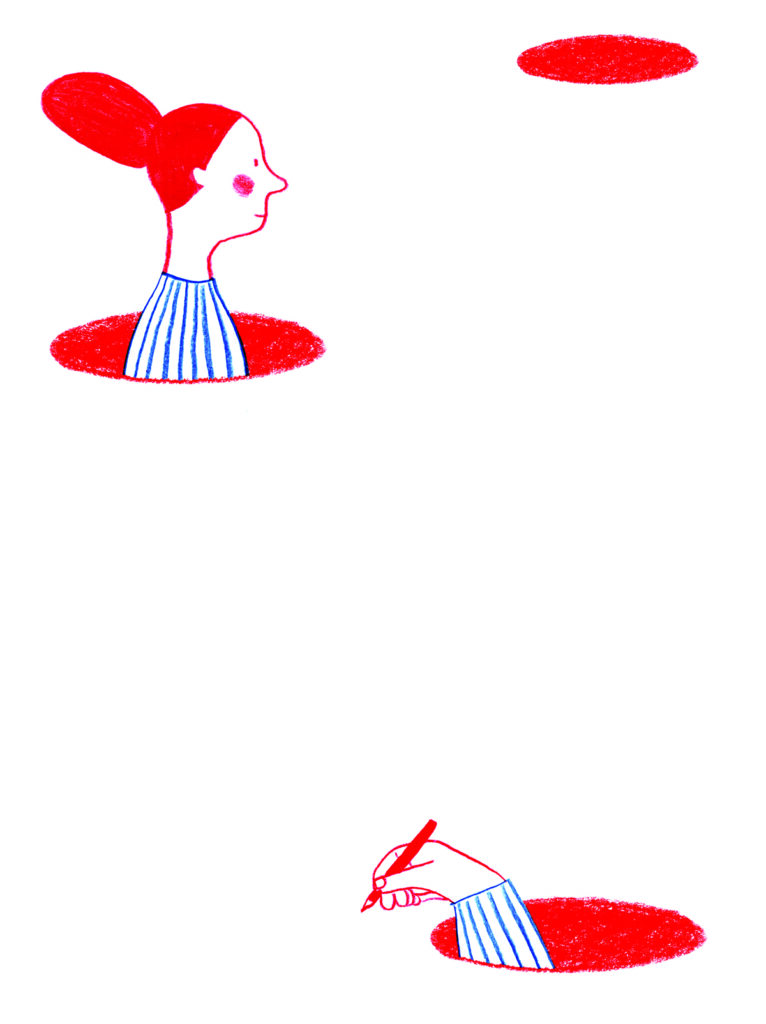Às vezes me sinto como uma fábrica cuja matéria-prima, máquinas, operários e diretoria sou eu mesma. Não posso fazer greve e reclamar das regras autoritárias nem do salário baixo. Por outro lado, também não posso me demitir quando meu trabalho sai malfeito. É uma situação de co-dependência insustentável. Alguém me escreve fazendo uma encomenda e lá vou eu acionar as máquinas para que elas comecem a trabalhar, inserindo os materiais nos devidos encaixes, girando a manivela ou acionando os motores, quando não alguns chips cujo funcionamento eu desconheço, mas que realizam sua tarefa mesmo assim. Na maioria das vezes, o resultado é padrão: objeto para consumo imediato, cumpridor de sua função, servindo para o que se destina. Outras vezes, sai um carrinho usado, meio abalroado, mas com uma pintura aqui e ali, que disfarça as trombadas e o carro anda bem. Mais raro é o produto acima das expectativas, com ótimo acabamento e materiais de primeira linha.
Me sinto péssima comparando meu trabalho como escritora a produtos e a linhas de produção. É tudo o que repudio e se escolhi ser escritora, entre outras coisas, foi inclusive para me afastar do mundo perverso das mercadorias.
Justamente por isso, talvez, me canso de ser eu mesma a fonte do que produzo e esse termo é inevitável. Afinal, criar também é produzir, já dizia a etimologia de poesia (fazer, fabricar) que na Grécia Antiga era aplicada igualmente a sapateiros e escultores. O tempo e a história foram separando a arte útil da arte inútil, mas as duas continuam guardando semelhanças e um sapateiro cria tanto quanto um escritor fabrica.
Nessas vezes, sinto como se carregasse uma mala pesada, um fardo de materiais: são tantas palavras, frases, formulações; é tanta ideia, reflexão, comentário; é tanto personagem, enredo, trama e uma vontade de me desfazer de tudo. Na primeira lixeira que encontrar, descarregar tudo, arejar a trouxa e sair por aí silenciosa e silenciando.
Como poderia escrever um texto que não dissesse nada, nem mesmo esse nada que ele não dissesse? E que, ainda assim, esse nada não remetesse a um protesto nem a uma denúncia, mas fosse o nada só, o nada limpinho, vazio até de si?
O silêncio gritado de Samuel Beckett não é o que busco, porque ele mata. O silêncio da flor que só diz da própria flor, sem remeter à flor dos campos, de João Cabral, também ainda não é. O de Alberto Caeiro, cujas palavras se igualam ao som dos rios e ao vento das campinas nunca me convenceu. Talvez o de Natalia Ginzburg, em Léxico familiar, que diz tanto sem dizer quase nada e que usa as palavras de forma não premeditada, como se elas surgissem iguais a uma concha envolvendo um molusco. Quis falar sobre o silêncio de Ginsburg e já inventei uma metáfora ruim. Falo para os meus alunos escreverem menos bonito, para cortarem todas as frases muito lindas que encontrarem em seus textos. Essas frases falam mais de quem escreve do que aquilo que se está por escrever.
Escrever mal é um dos meus sonhos. Mas não mal de forma que ninguém goste, que o texto atrapalhe e estrague a leitura. O contrário, na verdade. Queria escrever uma coisa pobre e feia, como uma menininha que encontrei na rua e que procurava alguma coisa perdida no chão. Como um resto de papel de bala jogado na sarjeta ou um resto de pipoca esmagada num degrau. Mas não consigo. Tenho tanta história nas costas, experiência de ensinar e traduzir sentidos, tantos sinônimos para tudo, que perdi minha pobreza.
É estranho e pode parecer pretensioso, mas quando me elogiam por um texto muito bem escrito, sinto, ao mesmo tempo, alegria e certa tristeza. É como se não merecesse, como se não tivesse sido exatamente eu a autora e como se aquele texto fosse mais um de uma máquina-pessoa que não faz mais do que escrever.
Tudo isso que digo é também contraditório, pois estou aqui, escrevendo mais um texto que tenta ser expressivo e, claro, também bom. Mas gosto dessa contradição, é dela e é nela que tento encontrar um furo, uma brecha por onde escapar do que já sei.
Se desabafo aqui, e me perdoem por isso, é para expor esse barulho que vai por dentro (e por fora também).
Gosto de Julio Cortázar dizendo “aí, mas onde, quando”. De Italo Calvino criando um personagem de nome impronunciável: “qfvfq”. De Manuel Bandeira falando dos “gatos espapaçados ao sol”.
Mas o que eu queria, queria mesmo, seria escrever um texto que fosse desligado de mim. Que, ao lê-lo, ninguém perguntasse quem escreveu e nem mesmo quisesse saber. Que ele voasse solto e solitário pelos livros e revistas e que parecesse ter sido escrito sozinho. Como se o vento tivesse espalhado as palavras e elas tivessem se reunido por si. Como — e agora lembrei de qual o silêncio de que mais quero me aproximar — “coqueiro de Itapuã: coqueiro; areia de Itapuã: areia; morena de Itapuã: morena”. Trata-se da imanência pura e de uma tautologia cheia de gozo e de verdade. O que mais pode se dizer de um coqueiro de Itapuã além de: “coqueiro”?
Vou. Terminar. Esse. Texto. Assim.
Fim.