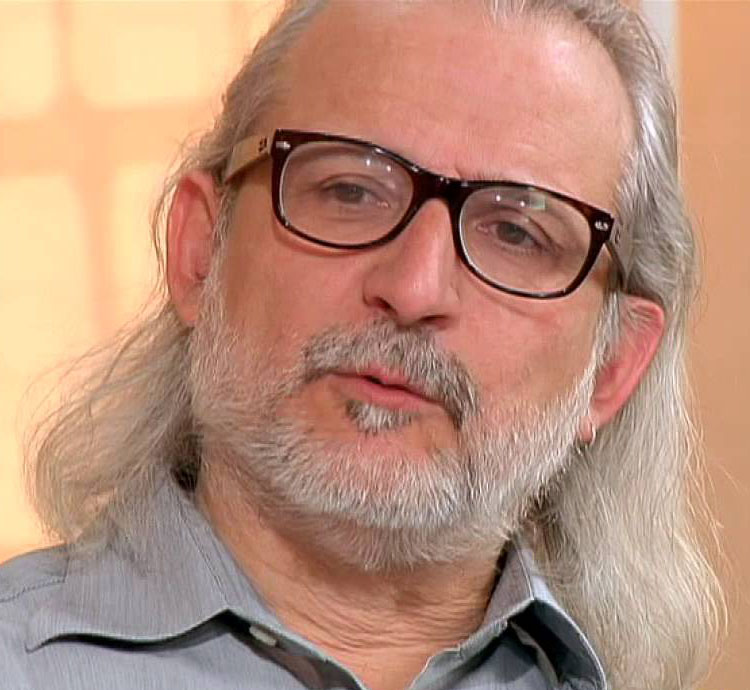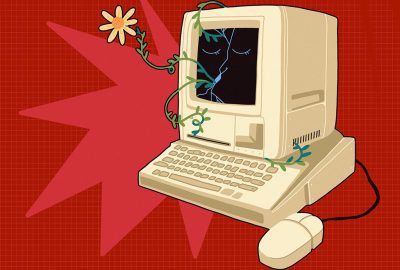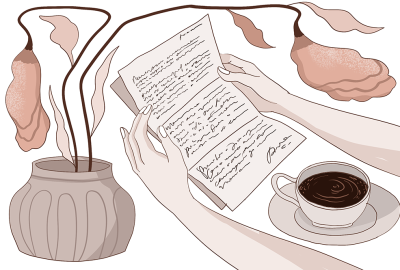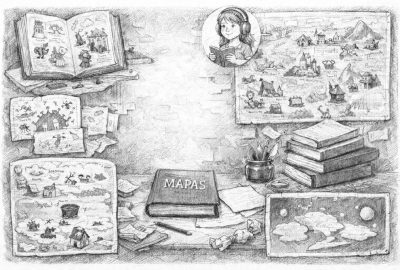O final de Madame Blavatsky — peça de Plínio Marcos, de 1985 — precipita-se com a entrada de um novo e temível “bloco de carnaval” composto pelos “vassalos da Morte”. Como participantes de uma escola de samba a romper triunfante na avenida, os atores carregam vários aparatos simbólicos reconhecíveis, como estandarte, cetro, tridente, machado, trombeta, tambor, sino etc., ao mesmo tempo que puxam esforçadamente um carro alegórico “com a Morte e seu alfanje em cima”.
Cara a cara com a Morte, Helena Blavatsky lhe oferece cristologicamente o seu sangue e a sua carne a fim de que ela corte todos os vínculos (“a raiz”) que ainda mantém consigo mesma (o “eu”). Em troca, pede à Morte que lhe dê desprendimentos em relação “a todas as coisas mundanas” e ao seu corpo “impermanente e ilusório”. Após a Morte atender à sua súplica, o cortejo sinistro se lança sobre o corpo de Helena a disputar quem cortasse o “fio dourado” que lhe pendia da cabeça a fim de romper o seu nexo com a vida terrena.
Neste último momento da vida de Helena, que é também o do início de sua transição para uma vida exclusivamente espiritual, repete-se o recurso constante da peça de fazer com que desfilem em sequência as personagens-chave de sua biografia iniciática. Vem primeiro o Mestre, instando-a a resistir às “aparições” e a reconhecer que “são apenas reflexos de sua mente”; em seguida, surge a Cigana, que desvenda a Morte como uma transformação da vida, não a sua cessação. Mas não são apenas os arcanos benéficos a desfilar: logo surge o Padre venal a reiterar a rejeição de Helena pela Igreja — o que, no caso, apenas reitera o seu valor no combate à religião institucionalizada e corrupta. Seguem-se então outras figuras favoráveis ao percurso de Helena, como o Faquir e a mulher que ela curara; e ainda outras, desde as mais hostis, como as dos Homens soturnos, até as ineptas e tolas, como a do Pai de Helena, a repetir motes mundanos e machistas.
Na sequência, irrompe a figura mais temida na ascensão espiritual de Helena, o infame bode Blavatsky, a ameaçá-la grotescamente com o seu falo disforme. E contanto sejam diferenciáveis as personagens boas das más, o mais notável neste momento decisivo da hora da morte é que Helena precisa repelir a todas igualmente. Assim é que, quando Helena vê surgir a Mãe a saudá-la, que sempre fora a grande inspiradora de sua aventura pioneira de libertação, ela é igualmente dispensada, como a reiterar que a conquista do próprio espírito apenas pode ser efetuada num estado de solidão radical.
Antes, porém, de Helena alcançar a dimensão livre e espiritual que almeja, certamente de natureza mais imanente do que transcendente, a peça ainda prevê um último estágio no plano da sua existência quotidiana, mostrando-a na cadeira de rodas a escrever, como que ganhando uma prorrogação da vida a fim de que pudesse finalizar a sua obra-mestra, A doutrina secreta. Nesse último empuxo de vida, Plínio Marcos a concebe cercada pelos atores, todos admirados de que ainda continue viva e trabalhando, mesmo num estado de saúde muito débil. E Helena, de fato, não apenas sobrevive para cumprir a sua missão de divulgação das estâncias venusianas, como tem energia para fazer uma verdadeira invectiva contra a “opinião pública”, que equivaleria a um “tirano onipresente”, a “mais perigosa das bestas”, composta de “mediocridades individuais”, avessas à “limpeza” de uma obra superior.
Enquanto os atores se agitam em torno de Helena — reproduzindo exatamente a mesma cena inicial da peça, como se tudo o que ocorreu no palco até então não fosse mais do que projeções da luta interior de Helena —, são projetadas num telão as imagens de eminentes personalidades da história contemporânea que reconheceram o valor da sua obra, como Gandhi, Fernando Pessoa, Einstein, Jung etc. Trata-se de um fecho com um argumento de autoridade, por assim dizer, no qual as vozes em off confessam a sua admiração por Helena e entendem que o seu destino “clandestino e danoso” era uma consequência esperada do fato de ela jamais se render à “corrente do momento”.
Há, pois, uma identificação cabal entre Helena e Plínio, explicitada na rubrica da última cena, segundo a qual é a própria “voz de Plínio Marcos” que encerra a peça, bendizendo “os que nadam contra a corrente”, são insubmissos contra a “cultura predominante” e, sem se intimidar por ser “arrastados ao ridículo”, “subvertem os valores estabelecidos” e avançam no “caminho da consciência”. Ou seja, Plínio Marcos faz de Helena Blavatsky fundamentalmente um argumento apologético da sua própria obra, e até mesmo de sua figura pública controversa, a qual, nesse momento, se divorciara completamente do otimismo fácil, com verniz liberal, que tomava o país ao cabo da desgraça da ditadura.
Quer dizer, os blocos de carnaval que figuram as etapas da consciência final de Helena culminam na irrupção de uma espécie de desagravo pessoal de Plínio, no qual é perceptível o seu ressentimento contra a “opinião pública”. Interpretada como doxa tirânica e midiática, a peça a vê como um mecanismo contínuo de difamação, normatização e uniformização das vidas, que reserva aos dissidentes sobretudo um lugar de desconfiança e ridículo. Por isso mesmo o ridículo é também, dialeticamente, segundo a perspectiva de Plínio Marcos na peça, a única via para atingir a lucidez, senão a iluminação.
Em resumo, acentuaria que o esoterismo de Plínio Marcos em Madame Blavatsky está estritamente concebido como uma tópica da representação dramática, que tem muito de imaginação carnavalesca e circense. Daí que o lugar central da peça caiba exatamente a quem não tem medo de fazer o papel do palhaço e de ser ridicularizado, mas antes se distingue e aparta voluntariamente de toda companhia, pois sabe que a consciência só pode ser atingida por um despojamento radical e solitário. O que distingue o teatro de Plínio é exatamente a sua asserção de que apenas o palhaço e o idiota, ou, enfim, aqueles que se constituem como objeto de escárnio público, podem afrontar a doxa dos falsos valores sem medo.
Assim, creio ser justo dizer que Plínio Marcos busca numa figura tão controversa como a de Helena Blavatsky justamente a representação dessa desqualificação forjada em meio ostensivamente banal, hostil e difamatório. A rigor, ele se interessa pela personagem de Blavatsky menos como fundadora de uma sociedade religiosa ou de um pensamento esotérico sistemático, do que como uma alternativa criativa do espírito capaz de produzir um contra-ataque vigoroso ao fechamento da mente contemporânea — isto que Plínio Marcos identifica com o pensamento único do consumismo capitalista, mas, ainda mais, com a sua contraparte existencial devastadora enquanto anulação da experiência individual e uniformização da vida coletiva da cultura.