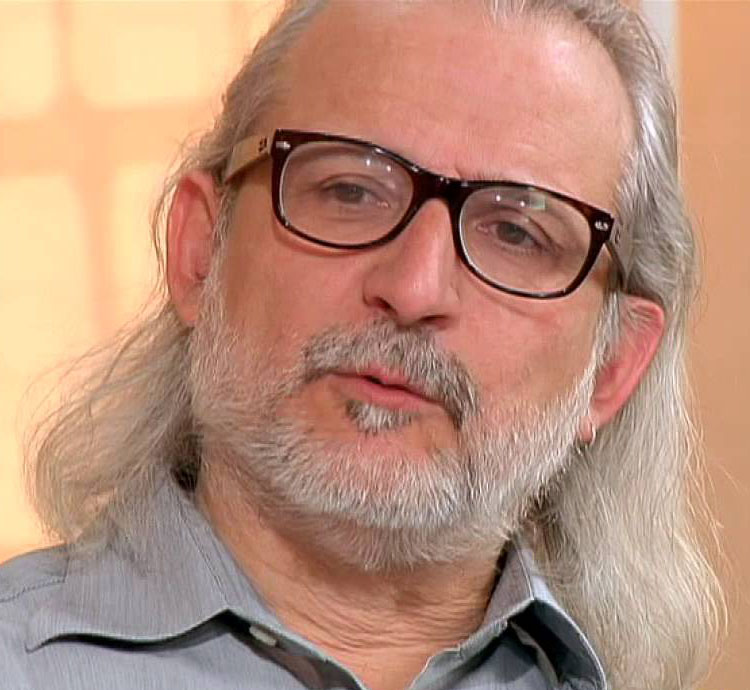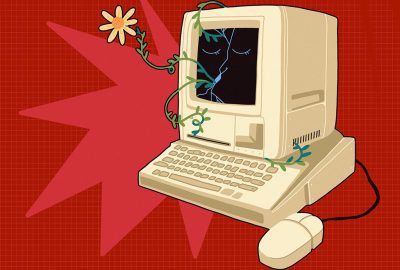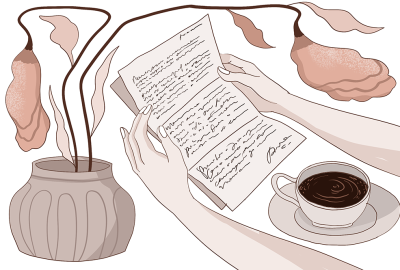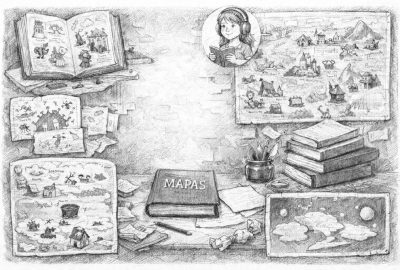Nesta coluna, continuo a apresentação da peça Madame Blavatsky, composta por Plínio Marcos, em 1985. Após a surpreendente sucessão de personagens que sinalizam o destino excepcional de Helena, que culminara com a aparição da figura grotesca e carnavalesca do seu primeiro marido representado como um bode dotado de um falo enorme, ela se sente suficientemente madura para declarar ao pai que não deseja continuar casada, anunciando-lhe ainda a sua decisão de deixar a Rússia e viajar à Índia. A partir daí, a peça, sem mediações, supera esse período juvenil da vida de Helena, menos em termos cronológicos do que espirituais ou psicológicos. Passa-se então ao que se poderia chamar de processo iniciático de sua protagonista. E, da mesma forma como foi feito na apresentação da primeira parte da vida de Helena, a sua iniciação mística é sugerida por meio de um desfile sucessivo, vertiginoso e simbolicamente obscuro de personagens e situações representativas de sua biografia, que nada têm a ver com a forma narrativa de uma história linear.
A primeira das personagens a representar a iniciação de Helena é a do Faquir, que lhe anuncia o dom da “clarividência” e lhe dá a missão de buscar o livro As estâncias de Dzyan, que teria sido deixado por alienígenas venusianos “no fundo de uma caverna”, sob a guarda estrita de monges tibetanos. A referência histórica mais imediata suscitada por essa menção a livros misteriosos do Tibet é a do célebre Livro dos mortos, que remonta ao século oitavo d.C., e cujo título original, Bardo Thodöl, parece ter a ver com a ideia de “libertação pela audição”, o que se deve entender como sendo um texto vedado às pessoas comuns e apenas transmissível oralmente pelo mestre aos discípulos, ao longo dos tempos.
Numa relação mais direta com a interpretação da peça de Plínio, caberia talvez destacar que o livro tibetano dos mortos está associado à função de produzir uma passagem consciente, durante a morte de uma pessoa, para o seu despertar espiritual post-mortem. Aqui, diferentemente do que pensava Wittgenstein, é possível, sim, viver a própria morte. E é justamente com esse propósito que se deve fazer a leitura em voz alta desse livro misterioso a um moribundo, ainda depois de comprovada a sua morte. Não apenas o conteúdo do que se diz, mas o ato mesmo de dizê-lo teria o efeito de manter o contato da pessoa com o local onde morreu durante o difícil trânsito de um estado a outro. Ou seja, a leitura do livro sagrado faria parte dos procedimentos encontrados em diferentes povos, de diversos tempos e lugares, que pretenderiam ajudar a guiar a alma da pessoa desde a vida terrena, através da morte, até a vida no além, como um psicopompo.
Já em relação especificamente às “estâncias de Dzyan”, elas estão discutidas na obra mais importante de Helena Blavatsky, A doutrina secreta, livro com várias edições bem-sucedidas no mundo todo, incluindo o Brasil. A que eu possuo é da editora paulista Pensamento, em seis volumes, com tradução de Raymundo Mendes Sobral. Enfim, segundo o que diz a própria Helena, ela teria tido acesso direto a esse manuscrito, cujas inscrições originais em folhas de palma narrariam a evolução inteira da humanidade numa língua de difícil decifração. Na peça, o manuscrito de Dzyan estaria também associado a uma espécie de maldição a que alude o Faquir: a de que quem tomasse conhecimento do seu conteúdo seria perseguido e assassinado por homens de uma seita secreta contrária ao “progresso humano”, composta dos chamados “Homens Soturnos”.
Antes do surgimento de outra personagem, associada ao grau seguinte da iniciação, Helena bebe um “líquido verde” que o Faquir lhe oferece e logo entra em um “estado de agitação”, que a faz despir-se e dançar até cair ao som de uma música que “explode alucinante”. Em seguida, projeta-se numa tela disposta dentro do palco a imagem de um “disco completamente branco” e “brilhante”, à maneira da chamada “cena Piscator”, de grande uso e prestígio no teatro épico, com a introdução de diagramas e projeções tecnológicas, com suposto caráter documental. Nesse momento, Helena volta-se para o público, e, em transe (“com o olhar de alucinada”), diz um poema veda sobre o princípio do universo, quando apenas o “Um respirava”, isto é, o “Altíssimo vidente” de cuja vontade nasceu a “criação multiforme”.
Segue-se uma segunda projeção, desta vez de símbolos misteriosos, como ponto, risco horizontal, cruz cristã e cruz suástica — esta última desgraçadamente adotada por Helena, embora antes de que o fizesse o nazismo, e cujo sentido antigo estava associado aos quatro elementos ou às quatro direções da Terra. Seguem-se ainda os símbolos de Vênus, a estrela de cinco pontas, o machado do Tao etc. A projeção vertiginosa desses símbolos obscuros, de conotações mais ou menos assustadoras, é encerrada com um “grito tenebroso” e Helena, cambaleante, vê-se subitamente cercada por monstros no palco.
Esse conjunto impactante de bebida colorida, projeção de imagens na tela, círculo brilhante, corpos nus, música alucinante, transe, dança, símbolos arcaicos, ataque de monstros etc. têm como efeito geral a sugestão totalizante de um caldo de cultura antiga, erótico e exótico, composta de arcanos e de mistérios que, a fim de serem compreendidos, parecem demandar um intérprete autorizado de uma realidade, em princípio, incompreensível para o público. No entanto, paradoxalmente, há também algo que parece já muito familiar nos anos oitenta, qual seja a ressignificação dessa estratégia épica de projeção com base em elementos contraditórios como a simbologia arcaica, a contracultura dos anos 1960, a subcultura esotérica e o cinema. E isso em tamanha profusão que, forçando um pouco a mão, poder-se-ia dizer que a cena também dá a impressão de admitir alguma referência psicodélica, na qual os monstros parecem representações de alucinações de uma bad trip. Nesse caso, poder-se-ia dizer também que Plínio Marcos assimila em seu próprio teatro, retroalimentando-se à sua maneira, alguns elementos dramáticos trazidos pela geração paulista da “Nova Dramaturgia”, a qual floresceu, ao menos em parte, como decorrência do impacto que o primeiro teatro de Plínio Marcos produzira na cena teatral brasileira.
Não quero dizer que se possa identificar aqui um Plínio Marcos pop, o que não teria muito cabimento, mas não há dúvida de que, em Madame Blavatsky, ele está muito mais permeável a uma ideia de espetáculo, no sentido visual forte, de opsis, capaz de impressionar os espectadores pela exuberância dos elementos visuais. Isso fica ainda mais evidente quando a segunda pessoa da iniciação a entrar no palco é um “mestre marajá, príncipe hindu”, que não apenas veste “roupa linda, turbante glorioso, pedra faiscante”, como ainda “vem de elefante”, segundo a rubrica que acompanha a cena, o que representa um verdadeiro tour de force do ilusionismo no palco.