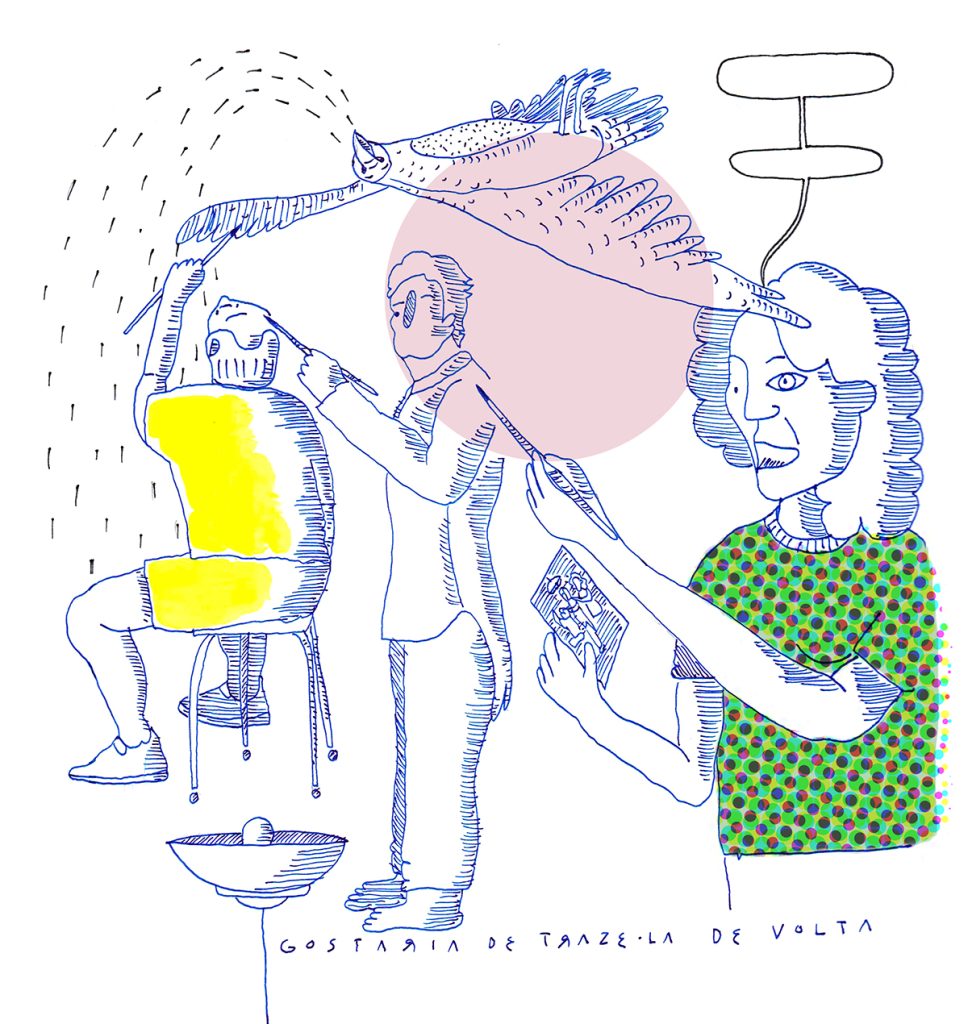Uma questão debatida desde sempre nas teorias da arte é a que diz respeito ao “novo”, genericamente interpretado como o que distingue uma obra de arte de todas as demais de uma série histórica ou de uma tradição cultural.
Claro que se trata de um conceito com mudanças significativas ao longo da história. Da antiguidade até o primeiro período moderno, o “novo” se apresenta nos termos de uma “emulação” — de uma imitação competitiva, por assim dizer —, face a um modelo de prestígio que detinha a autorictas de certo gênero poético. Homero, por exemplo, era a primeira autoridade no épico, e quem quisesse compor uma epopeia de modo que não parecesse apenas uma brincadeira doméstica, obtendo reconhecimento público pelo feito, estava tão obrigado a tomá-lo como modelo, quanto a tentar superá-lo pelas “licenças” tomadas em relação a ele.
O atributo do “novo”, portanto, equivalia a uma imitação não “servil”, que adotava o modelo da autoridade, mas não as suas frases particulares ou os seus versos individuais, deslize que caracterizaria “pirataria” e inépcia. Já a partir do século 18, com a revolução burguesa, o conceito sofre uma vasta transformação, passando a recobrir a ideia de uma criação ex-nihilo, original, fruto de uma combustão do “gênio” artístico consigo próprio. O efeito da novidade seria expressão de uma subjetividade única e, também, representação substancial de sua época.
Este lembrete histórico, porém, serve apenas para ajustar melhor a questão que me interessa propor aqui: a categoria do “novo”, seja lá em qual acepção for, ainda faz sentido na arte contemporânea? De outra maneira: para que uma obra tenha reconhecido o seu valor, ela ainda precisa apresentar alguma novidade, seja em termos de imitação, de criação original, ou de qualquer outra forma?
Numa primeira visada, quando se observa quanto a arte contemporânea dispõe-se a situações instrumentais, colocando-se deliberadamente a serviço de “causas”, de cuja justiça e urgência seria estúpido duvidar, a ideia do “novo” parece dispensável. Urgências terríveis como as que implicam a sobrevivência das pessoas — desigualdade social, racismo, preconceitos de gênero, ecocídio e genocídio, pandemias, militarismo, milicianismo, enfim, fascismos de toda ordem que assolam o quotidiano do país e do mundo — têm todo o direito de reclamar para si toda a atenção do artista.
E não apenas a ideia da arte como veículo de grandes causas parece indiferente à busca do novo; também parecem sê-lo as várias teorias pós-modernas, como a da uncreative art, ou a dos procedural plays, que respectivamente recortam materiais já dados, ou aplicam rotinas previsíveis para gerar objetos artísticos em série.
Não é, entretanto, o que pensa o russo Boris Groys, que David Lynch, um dos maiores artistas contemporâneos, escolheu para curar a sua exposição de artes plásticas na Fondation Cartier pour l’art contemporain, em Paris. Para ele, a exigência do “novo” em obras de arte continua “inelutável, inevitável e indispensável”.
De autoria de Groys, dedicado especificamente à questão do “novo”, há um livro, Über das Neue (Munique, Carl Hanser Verlag, 1992), que li numa tradução francesa, Du nouveau (Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1995). Ainda sobre o assunto, mas situando-o num horizonte mais amplo do pensamento de Groys, há uma entrevista esclarecedora que deu a Thomas Knoefel, Politik der Unsterblichkeit (Carl Hanser Verlag, Munique, 2002), que li no volume Politique de l’immortalité (Paris, Maren Sell Éditeurs, 2005).
De início, é preciso salientar que, na sua ideia de “novo”, não cabem lugares-comuns como o de “ultrapassar o antigo” ou o de “estar à frente do seu tempo”. Para Groys, se o antigo pudesse ser ultrapassado, seria, no mesmo passo, impossível distinguir-se o “novo”, pois este só pode ser proposto em comparação com o que veio antes. Ou, dito de outra maneira, o “novo” apenas existe em contraponto à proibição de violar o direito de outros artistas sobre o que criaram, aspecto que vai além do direito institucionalizado e contabilizado nos termos do “direito autoral”.
O “novo” seria então uma exigência intrinsecamente imposta pela cultura: quem quiser se instalar no seu campo, está igualmente obrigado a buscar um novo lugar para construir a sua obra. Tal exigência não responde à “originalidade” romântica, mas antes à necessidade do artista de encontrar uma maneira de se situar dentro do espaço já densamente povoado da herança cultural.
Assim, nas obras de arte estaria sempre em jogo o que Groys chama de “refundação” do domínio da cultura, que ele associa, por sua vez, à produção de algum ruído nos processos mais consensuais de atribuição de sentido e de valor. A “refundação” cria um potencial de risco, de incompreensão do que essa nova obra venha a significar no espaço da sua vizinhança.
Entretanto, se uma obra de arte precisa se impor culturalmente, essa mesma exigência acaba fazendo com que a obra não possa ser nem confirmada, nem negada pela tradição. Vale dizer: quando uma criação se apresenta como “nova”, ela tem de se esquivar tanto da confirmação, como da negação da tradição, pois, no primeiro caso, acabaria por se diluir epigonalmente na dedução do antigo; e, no segundo, seria excluída do que é reconhecido como participante da forma de vida própria da cultura.
A questão então passa a ser: se o “novo” é uma exigência que não pode ser dispensada, mas tampouco pode ser certificada pela tradição, como satisfazê-la?
É no âmbito desse paradoxo, que Groys propõe o “novo” em termos de “estratégia” ou de “política”. Uma estratégia em dois tempos, para ser preciso: num primeiro momento, o artista teria de encontrar um “lugar neutro” para a sua criação —, vale dizer, fora das oposições dominantes mais conhecidas no campo da cultura. Trata-se, portanto, de se movimentar na direção contrária à usual de logo buscar a filiação partidária e a proteção aparelhista.
Num segundo tempo, o artista avançaria uma “estratégia revolucionária”, que trataria de “expandir” a sua obra desde o “lugar neutro” onde se instalou até obrigar a que todas as outras obras ali instaladas também tenham de se mexer do seu lugar habitual.
Nos termos de Groys, portanto, uma “refundação” bem-sucedida implicaria na reestruturação do legado cultural, não na grandeza isolada de uma obra. Para ser “nova” ela teria de produzir efeito análogo ao de um móvel que, quando introduzido na sala, acabasse obrigando a uma reacomodação dos móveis em toda a casa.
Em conclusão, pode-se dizer que não há obra de arte, sem que seja nova, e nenhuma obra é dada como nova, sem que gere desestabilização do que era dado como arte. Não é o “novo” que entra no campo tradicional da arte, é o campo da arte que “é forçado” a perder a sua configuração tradicional para assimilar um visitante imprevisto que reclama o seu direito inalienável de estar ali —, e não como quem pede acolhimento solidário, mas sim como quem nasceu ali e sabe que ali é o seu lugar.