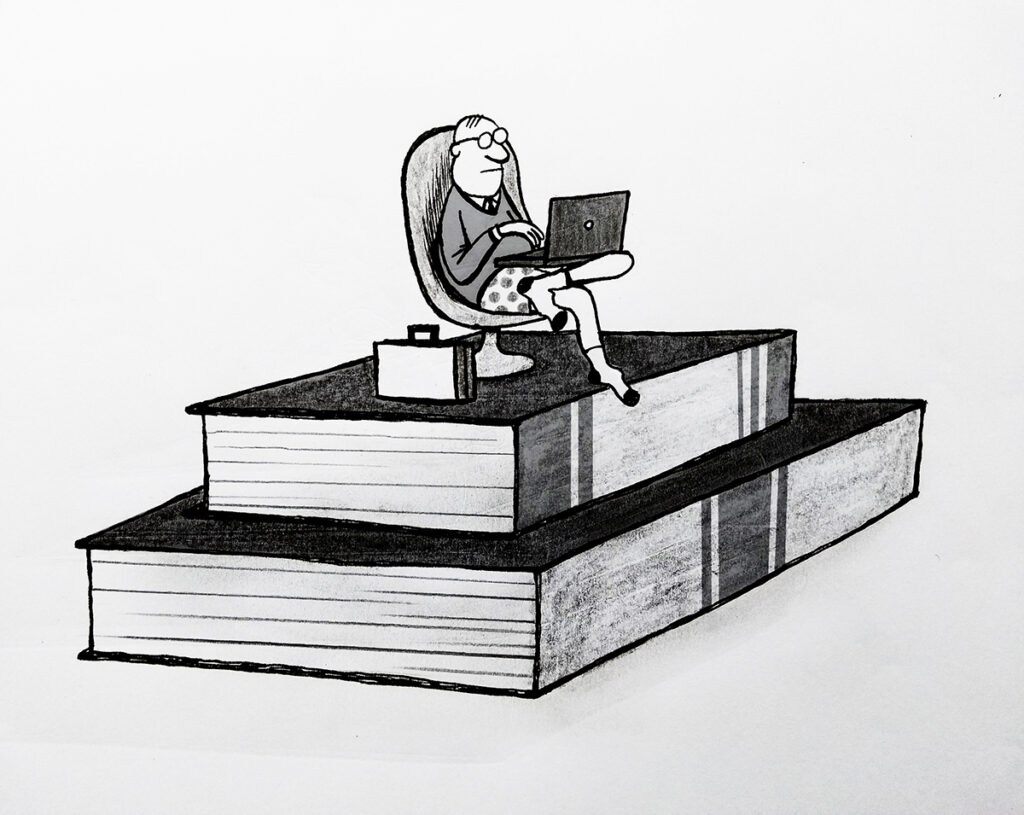O mês de março de 2020 ficará marcado como aquele em que a pandemia da covid-19 chegou ao Brasil. Diante da calamidade, agravada pela inépcia governamental, uma pequena data que tinha para comemorar se esfumou no ar. É que, neste março de tão maus augúrios, completei 45 anos como professor do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), incluindo os dois anos que atuei como monitor de meu saudoso orientador, Haquira Osakabe.
Essa confluência fortuita de datas acabou reforçando o assunto da aula em minha cabeça. Na verdade, tudo o que lhe dizia respeito, de repente, ficou esquisito. Do ponto de vista dos alunos, era evidente que a pandemia reforçava os males da desigualdade social, sobretudo em termos de acesso à internet. Em relação aos professores, a internet também acentuou uma desigualdade que passava quase desapercebida: os professores mais velhos, como eu, mostram muito mais dificuldades em lidar com as aulas virtuais. A experiência de sala de aula, que antes parecia uma grande vantagem, desapareceu diante da tela do computador. Sem a presença dos alunos, os velhos professores viraram neófitos a tatear, aflitos, aplicativos óbvios para os mais jovens.
Curiosamente, em 2019, a “aula” foi assunto de uma publicação do Sesc, intitulada Arte da aula, ideada por dois professores: o historiador Joaci Pereira Furtado, da UFF (Universidade Federal Fluminense), e o filósofo Denilson Soares Cordeiro, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). O livro reuniu entrevistas que eles fizeram com alguns professores universitários, entre os quais me incluíram. Durante dois dias estive na companhia deles a falar de minha atividade docente e me senti quase numa sessão de terapia, já que parte considerável de minha vida passou-se justamente entre preparar e dar aulas.
Falar com eles, ativou minha memória e posso dizer que descobri muita coisa de que já não me lembrava ou sequer tinha perfeita noção. Percebi por exemplo que o que mais me animava a dar aulas não era conhecer a matéria a fundo, mas, quase ao contrário, ter dúvidas sobre ela e sentir-me compelido a estudá-la, discutindo os eventuais tateios e avanços com os alunos. E quando digo “estudar”, não significa entrar numa matéria nova querendo fazê-la confessar aquilo que eu já sabia ou gostaria de ouvir. Mais uma vez, é quase o inverso: significa estar disposto a ouvi-la contar o que não tinha ideia, deixar que ela fale e evitar interpretações precipitadas que não nasçam da escuta cuidadosa de seus próprios termos.
Alguém poderia ponderar que esse tipo de exercício intelectual só poderia ter êxito na sala de aula, quando ela fosse composta de alunos bem preparados, com sólida formação anterior. Parece lógico, mas não é verdadeiro. Se a qualidade da formação favorece uma visão mais abrangente e integrada das descobertas oferecidas pelas obras literárias, o fundamental para a reflexão sobre elas está mesmo na disposição atual dos alunos, além naturalmente da do professor. Dou um exemplo, sempre fundado em minha experiência pessoal.
Em 2011, me voluntariei para uma disciplina de introdução à literatura para alunos de um programa experimental (“Profis”) que começava naquele ano na Unicamp. Isso implicava em dar aulas para uma turma de 120 alunos vindos de todas as escolas da rede pública de Campinas, aceitos sem vestibular, com a condição de que tivessem notas destacadas em sua escola de origem. Eram alunos que, na sua maioria, jamais tiveram um membro do núcleo familiar na Unicamp, e que sequer pensariam em prestar um vestibular no qual concorriam alunos provenientes das melhores escolas do país. No entanto, eram alunos inteligentes, com grande potencial, como evidenciava o seu histórico escolar. Que não chegassem às melhores universidades apenas demonstra o quanto o Brasil joga fora os seus talentos, mergulhado como está num sistema estupidamente desigual e, por isso, extraordinariamente estúpido.
Enfim, lá estava eu diante desse público novo na Universidade, e cabia-me um curso de introdução à literatura. O que fazer? Pensei em diferentes hipóteses: discutir ficção que tematizasse problemas adolescentes, ou talvez prosa de autores contemporâneos que não oferecesse grandes dificuldades de leitura, ou, ainda, textos que os próprios alunos sugerissem, oriundos talvez de seu próprio ambiente. Mas cada alternativa que imaginava, logo me vinha o refluxo do desânimo. Que sabia eu de adolescentes? Que poderia acrescentar ao gosto que pudessem ter por games, hip hop ou mangás? E porque literatura atual tinha de ser a forma mais adequada de levá-los à literatura, se literatura, em seu sentido mais básico, não é um bem imediatamente perecível, mas, bem ao contrário, de longa duração?
Não sei exatamente quando pensei que o melhor que eu tinha a partilhar com eles não era uma ideia pedagógica de literatura, mas sim a minha forma de lidar com a literatura que eu mais amava. E então como naquele semestre estava dando uma disciplina sobre o “Cancioneiro” de Petrarca para a turma regular de Estudos Literários, imaginei que poderia tentar discuti-lo também com a turma do Profis.
E foi o que fiz. Os alunos das escolas públicas, alguns deles vindos das periferias mais carentes da região de Campinas, começaram a ler sonetos escritos há mais de 700 anos. Não usei nenhuma tradução, a não ser para comparação e crítica, e trabalhei sobre o florentino antigo. Comecei traduzindo palavra por palavra, com eles, explicando as regras gramaticais básicas a cada caso, como se fosse uma aula de língua estrangeira — e a literatura, no fundo, é sempre isso. Pouco a pouco, ia também introduzindo as questões pertinentes de versificação ou de interpretação crítica dos poemas.
Com quatro horas semanais da disciplina, devo ter demorado quase um mês para ler com eles o soneto de abertura do “Cancioneiro”, mas quando decidimos que era hora de passar para o poema seguinte, vários dos alunos já estavam genuinamente comovidos pela reflexão poética de Petrarca. Falavam dele até com mais intimidade do que eu julgaria adequado fazer, é verdade, mas estavam certos de que a dimensão espinhosa do amor e as armadilhas de falar sobre ele, reveladas pelo soneto, tinham algo a dizer-lhes sobre a sua própria vida afetiva e a maneira de pensá-la. Para mim, foi mesmo um espanto vê-los querer continuar a falar dos poemas até depois de terminada a aula, e com não menos intuição ou inteligência do que faziam os alunos regulares, apenas com menos jargão literário, o que até me parecia uma vantagem.
Depois daquilo, fiquei certo de que ao menos duas premissas eu podia assumir tranquilamente para as minhas aulas de literatura. A primeira é que não é preciso facilitar nada para os alunos, sejam eles de colégios de elite, de escola pública ou da periferia. Dada a disposição voluntária de aprender, todos estão aptos a ler bem literatura. A segunda é que, se é verdade que boas aulas podem ser dadas a propósito de literatura ruim, também é certo que uma obra-prima possui uma força inerente que supera qualquer dificuldade de comunicação enfrentada pela aula.