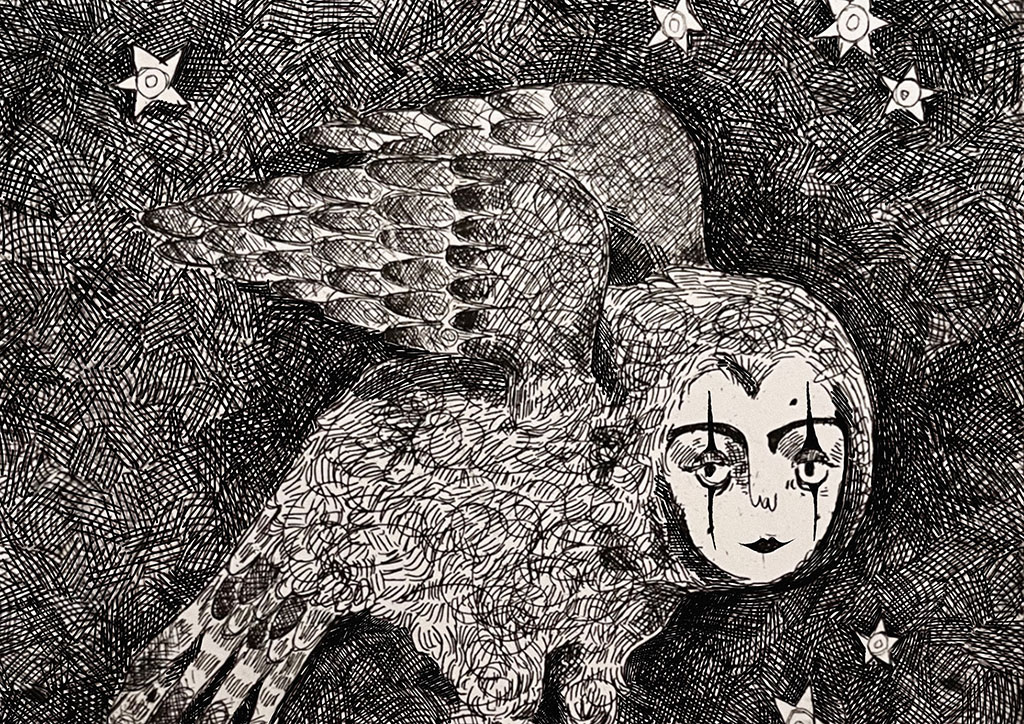Como vimos na última coluna em que examinamos a peça Balada de um palhaço (1986), de Plínio Marcos, a obrigação de “fazer a própria alma”, que a Cigana revelou a Bobo Plin como cerne da arte, leva-o à recusa de aprender por imitação, em favor de um processo de autoconhecimento de si. O “conhece-te a ti mesmo” da Cigana, entretanto, tem pouco a ver com o esclarecimento metódico e racional da enquete socrática, ligando-se a um movimento mais intuitivo e mais terrível também. Para Bobo Plin, isso significaria, por exemplo, lançar-se “no picadeiro sem nada preparado”, ou ainda “andar sem bússola na mais tenebrosa escuridão”. Há qualquer coisa de kierkegaardiano, talvez, nessa ideia do entendimento não como um aprendizado, mas como um atirar-se no abismo, sem qualquer garantia, confiando, entretanto, que o puro temor que sente seria índice da redescoberta de si mesmo.
As elucubrações de Bobo Plin revelam tanto um viés espontaneísta e naïf, como uma sede de experimentalismo sem arquivo, isto é, sem história e sem modelos precedentes. Uma ausência de base histórica e racional, poder-se-ia dizer, compensada quase exclusivamente pela autenticidade dos afetos. Tais formulações combinam com o caráter atormentado e sem medida de Plin, tão desconfiado dos progressos do aprendizado artístico, quanto talvez demasiado confiante no acerto da obra entregue ao risco pessoal do artista. A ideia de uma arte verdadeira configurava-se, por assim dizer, como a de um assalto que só seria bem-sucedido se o artista se ferisse gravemente no empreendimento.
No entanto, tal concepção artística, segundo a qual as questões da obra refluem quase todas para a vida experimental do artista que se recusa à institucionalização de seu trabalho — certamente tributária do radicalismo anárquico e neorromântico dos anos 1960 — não deixa de ser contraditada pelas estripulias que os dois palhaços fazem no palco. Pois a graça das cenas que protagonizam existe sobretudo por conta da rapidez engenhosa das réplicas e tréplicas entre eles, as quais exigem muita técnica e muita estrada de palhaço de circo, aprimorada ao longo de sessões mil vezes repetidas diante de cidades e de públicos variados, em idade, gênero e classe social.
A experiência técnica, que Bobo Plin se esforça por negar, fica então patente na peça. No momento mais admirável em que isso ocorre, já quase no desfecho, Bobo Plin e Menelão travam uma animosa batalha para se sentar na única cadeira do palco, e para isso lançam mão de toda sorte de truques, quedas e pancadarias, sob o som galopado do Einzug der gladiatoren, de Fucik — a música do circo por antonomásia —, ao fim da qual, Bobo Plin se consagra “vencedor”, “coloca o pé sobre Menelão, faz pose e agradece”, enquanto “Menelão, exausto, levanta-se meio tonto”.
E é justamente porque Menelão está tonto, foi enganado sucessivamente e caiu várias vezes de bunda no chão, que a plateia ri a mais não poder com as palhaçadas de ambos, não só as de Bobo Plin. De modo que devemos a alma viva ali redescoberta diante do público tanto a quem vence, como a quem perde; tanto a quem falava tão bem da sua dor (como Bobo Plin), quanto a quem era incapaz de compreendê-la e apenas tartamudeava besteiras (como Menelão). Não à toa, a certa altura, Menelão diz a Bobo Plin: “Nós somos uma coisa só”. E as pessoas riem juntas, como se se reconhecessem de fato, agostinianamente, bem ali, como uma só humanidade.
Com a vitória, fica evidente também o domínio técnico de Bobo Plin, o artista que parecia negar o valor da técnica. No estupendo jogo de gags e armadilhas que os palhaços lançam um ao outro, a técnica-chave da atuação é a que faz o palhaço principal servir-se do outro como “escada” para subir ao pódio da vitória. Ambos atuando juntos, “sendo uma coisa só”, batendo ou apanhando, reinstauram diante dos espectadores uma cena clássica, na qual os palhaços ganham o aplauso da plateia fingindo-se de antagonistas, ou, mais do que isso, tornando visível aos olhos dela o cerne agonístico da representação artística — como é também o da experiência mística buscada por Plin.
Diante disso, percebe-se que a questão estética colocada por Balada de um palhaço — que acentua a busca do risco e a fuga de um modelo consagrado, composto de grandes autores, atores, repertórios ou ensaios — tem como propósito verdadeiro não excluir a técnica, como parecia, mas expandir a questão da arte para a relação do artista com o seu auditório. Assim, enquanto o pragmático Menelão afirma que o artista deve aceitar qualquer papel que agrade ao público, Bobo Plin, ao contrário, defende que o arbítrio e, portanto, a crítica, são inerentes à livre condição de artista. Os verbos que usa a propósito não deixam dúvida sobre isso: “subverter”, “inquietar”, “incomodar”, “sacudir”, com o escopo de “destruir sonhos, ilusões” do público e dar-lhe a consciência de “como é estúpida a vida” que levam. Ou seja, para Bobo Plin, está inscrita na ideia de arte a urgência do seu efeito sobre o auditório.
Pode-se falar aqui, então, em “teatro político” ou “teatro épico” — por mais que os termos incomodem Plínio Marcos, que sempre preferia falar em “teatro social” — mas, de maneira mais surpreendente, pode-se falar também, creio eu, em “teatro místico”, isto é, aquele que deseja operar uma transformação interior naquele que vê o espetáculo. Talvez o mais correto fosse mesmo juntar todos os termos — político, social e místico —, pois a ênfase da representação recai sobre a ação de mover o público de determinado estado para outro, mais pessoal, consciente e liberador. Ou, enfim, para conduzi-lo ao estado de disposição mística que os seiscentistas chamariam de “desengano”.
Quer dizer, se a “religiosidade subversiva” exige do artista a “construção” da alma, agora se revela que o movimento criador está intrinsecamente associado a um projeto de “destruição”: a alma que o artista vai forjando dentro de si opera sobre o auditório de maneira a dissuadi-lo de expectativas ilusórias em favor de desígnios espiritualmente mais complexos. Sem essa ação concomitante de criação e destruição nem o palhaço poderia recuperar a alma que sente roubada, nem o público sairia do espetáculo mais desconfiado de si mesmo, isto é, mais ciente do que lhe falta do que equivocado sobre o que julga possuir.
Tal processo de criação/destruição, no entanto, é tremendamente difícil de ser cumprido porque o artista, se não pode contar consigo quando está dominado pela rotina do ofício, tampouco pode contar com o discernimento do público. É exatamente o que assusta Bobo Plin, quando observa a plateia da coxia e tem uma revelação terrível: “Meu Deus. Meu Deus. Esse público não tem cara. Eles não têm cara. Eu…”.
Reforça-se, então, em Bobo Plin a ideia de que o artista precisa resistir a entregar ao público o que ele demanda, pois o que ele demanda apenas reforça o estado de anomia em que existe.