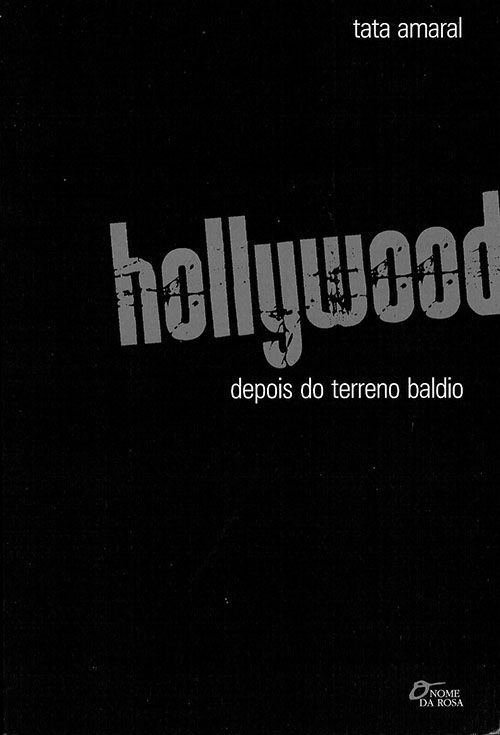Cara Tata
Sinto-me obrigado, antes de tudo, a afirmar o óbvio: a literatura não é cinema. É verdade, existem grandes escritores que se valem da força das imagens e, a partir delas, escrevem narrativas de grande impacto. Histórias vigorosas que se desenrolam diante de nós, muito vivas e contundentes, como estranhos filmes.
Penso no caso que mais impressiona: o de João Gilberto Noll. Ler um romance de Noll é seguir, passo a passo, a experiência de um personagem. É “grudar” neste personagem, oferecer-se como sua sombra e ver através de seus olhos. Seria “vestir” o personagem, e nele encarnar. De certa forma — mas de certa forma muito particular — Noll é um escritor que escreve com os olhos. Ler seus livros é “entrar” em seus livros. Talvez por isso sua literatura produza reações tão radicais.
Não é da grandeza de Noll, porém, que venho falar. Nos dias de hoje, em que a literatura parece estar destinada a um número cada vez mais restrito de leitores, num mundo em que as imagens — do cinema, da TV, da publicidade, da internet — nos sufocam e tomam conta de tudo, a literatura se parece, às vezes, com um anacronismo. Como um recurso ultrapassado, ou um mundo inútil.
Aqui começam os problemas. Muitos escritores, sobretudo jovens escritores, alimentam a ilusão de que, para competir com um universo saturado de imagens, é preciso embriagar-se de imagens também. Contra o feiticeiro, só o feitiço. Mas será? Para competir com o cinema, eles imaginam ainda, a literatura deve ser tão rápida, ágil, reluzente quanto o cinema. Deve se tornar, de alguma forma, “cinema escrito”, ou não teria mais chance de sobreviver. Eis a ilusão que leva tantos escritores a confundir literatura com argumento, ou roteiro para o cinema, ou para a TV. Que leva tantos roteiristas e diretores de talento a achar que seu talento vale também, mecanicamente, para a literatura.
Não compartilho dessa visão. Tampouco acho que, em nosso mundo saturado de fotografias, de representações gráficas, de logotipos e logomarcas, a literatura agonize, ou esteja condenada ao descrédito. Ao contrário: num mundo assim tão superficial e em contínuo estado de hiper-exposição, ela se torna — eu penso — ainda mais potente. Transforma-se em um reduto de sentido, oferece-se como um lugar no qual, apesar de tudo, a reflexão lenta, a introspecção e o pensamento encontram uma chance de resistir.
Não digo, é claro, que o cinema, a internet, ou mesmo a TV excluam o pensamento. Evidente que não. Apenas o tratam de outra maneira. Na linguagem dos fragmentos, pensar se torna outra coisa — pensar, de certa forma, se torna ver. Li recentemente A resistência, um pequeno livro que o argentino Ernesto Sabato publicou há poucos anos. Quieto em seu canto e com uma vida cheia de limitações, o velho Sabato conserva uma espantosa lucidez. Compartilho muitas de suas idéias, em especial a de que a literatura, hoje, é antes de tudo resistência — a um presente que se impõe por golfadas e que se abate sobre nós, por vezes, como uma tormenta. Um presente quebradiço demais, veloz demais, luminoso demais para nós.
Eu me arrisco a pensar que a literatura reafirma a potência desse mesmo presente. Ela desvela aspectos esquecidos, ou desprezados, e empresta sentido ao que só parece uma borra, anima o que, para muitos, é só desespero e desorientação. Em nosso previsível mundo de imagens, regido pela moda, pelo glamour e pela força dos padrões, a literatura volta a ocupar, em conseqüência, um lugar central. Ela pode reverter expectativas e trazer surpresas.
Por isso, justamente porque aposto mais que nunca na potência da literatura, não me interessam aqueles projetos que a confundem com o que ela não é. Que a levam a se deformar, e a ceder, e até a se negar, em nome de uma sincronia rasteira com nosso tempo, ou até, em uma perspectiva ainda mais suspeita, em nome dos bons negócios e das boas vendas, ou do que seja.
Penso no primeiro e brevíssimo conto que abre seu livro, Solidão, um relato que não chega a ter vinte linhas. É uma cena precisa – que, enquanto lemos, vemos. É um flagrante, quase policial — de um momento de exasperação, de uma tentativa aguda de chegar perto de um homem. Um flash: a palavra correta é esta, um estouro e nele se abre um clarão. Uma fotografia: lemos e vemos. Mas — como no sol que, em vez de iluminar, achata Mersault e o leva assassinar um árabe no romance de Albert Camus — logo a visão, de tão aguda, se fecha.
É muito útil, Tata, pensar em Mersault, o anti-herói de O estrangeiro, e no modo como a claridade, no seu caso, em vez de expandir, achata e diminui o real. O foco excessivo, em vez de descortinar o mundo, o leva a se contrair e a se fechar. A luz é tanta que derrete os contrastes, anula as sutilezas e reduz o mundo a um relâmpago. Sob o excesso de luz de uma praia da periferia de Argel, em vez de saber por que mata um homem, Mersault perde o controle de si. Mata, e nem sabe por que mata. Está excluído de tudo, até de seu crime.
Penso, por contraste, no Kurtz, de O coração das trevas, de Joseph Conrad, que, em vez de viver na claridade de Mersault, se entrega à mais profunda escuridão, navegando pelo rio Congo. E ali, nas sombras, se asfixia. Mas é ali também que Marlow, o perseguidor, apesar das trevas e entre os tênues reflexos que mais desenham um pesadelo, finalmente fisga seu Kurtz. Na escuridão se vê melhor.
Voltando a seus contos, Tata. Como é comum na literatura urbana de hoje, eles focam o olhar sobre o mundo duro e sem sutilezas das periferias. Um mundo que, na imprensa e na TV, se torna, sobretudo, fotografia. Penso, por exemplo, em Dia de festa, a história de uma grávida que, numa festa, não consegue (não pode) sincronizar com a alegria dos outros. Lembro-me, por contraste, de Feliz aniversário, o conto extraordinário de Clarice Lispector. Nele, é uma velha que, à beira da morte, sente-se excluída de seu próprio aniversário, de sua própria festa. Em seu conto, Tata, a mulher também se flagra fora da festa e fora do real — fora do sentido. E há, em meio a isso, uma criança que se prepara para nascer. Mas, enquanto Clarice faz do desconforto um caminho para as perguntas, você se detém no flash, no flagrante, e tudo se esvai, se evaporando num “plaft” final. E num grande silêncio.
Em alguns relatos, como Nada é sempre igual, você fixa um pouco mais de atenção. Ainda assim, se limita aos acontecimentos, não arrisca um salto para além dos fatos e sobre eles, então, desliza. Talvez, experimento pensar, seus contos, uma vez costurados, resultassem em uma narrativa maior, e até mesmo em um romance. É uma idéia. Mas, para isso, seria preciso que você não se contentasse em ver e, em vez disso, suspeitasse de sua própria visão. Porque um grande risco para o escritor é acreditar excessivamente em si.
Em alguns relatos curtíssimos, como Machismo, em torno de uma blusa azul, sua avareza de recursos se torna quase um tique. Arrisco-me a me perguntar, aqui, se seu conto não é, na verdade, um poema; mas também como poema ele não se sustenta. O flagrante — que podia ser entreouvido da janela, através da parede, num relance — guarda irritação e aponta uma tensão da qual você, enfim, se esquiva. É mesmo difícil lidar com uma realidade tão dura, mas isso muitas vezes é apenas um escudo para nosso medo. Medo de quê? Medo de escrever.
Um argumento final a favor de seus contos talvez pudesse ser o elogio da contenção — que se tornou, ela também, um tique, só um hábito respeitável da literatura contemporânea. Um “bom costume”, que empresta respeito, crédito e alguma notoriedade. Muitos acreditam que a melhor literatura é aquela que se fecha, aquela que se poupa. A elipse, a entrelinhas, a omissão voluntária gozam, hoje, de grande respeito literário, não só na prosa, mas também na poesia. Isso indica, quem sabe, as dificuldades com que a literatura se defronta. Dificuldades, obstáculos, impasses que são, também, a origem de sua riqueza.
O abraço de seu leitor
José Castello