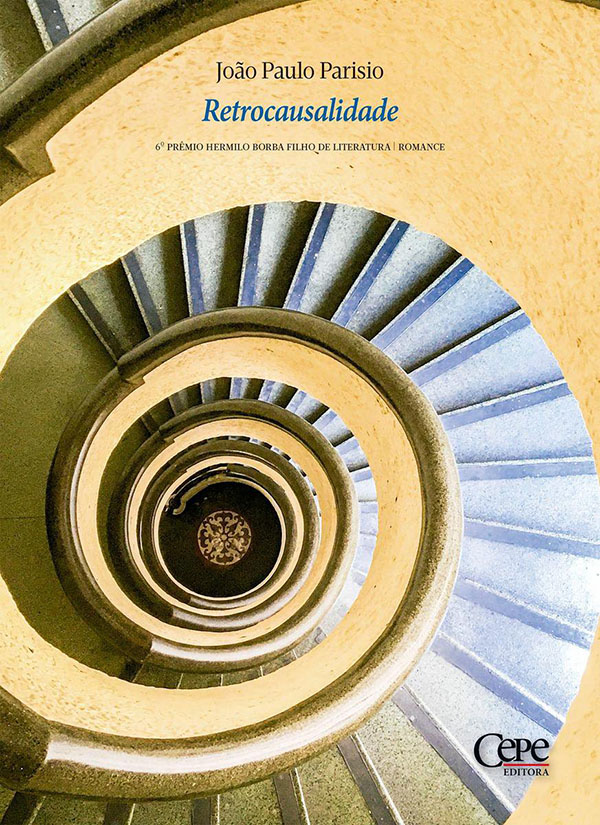Ler um livro é sobrevoar um livro. É esbofeteá-lo. É, ainda, apanhar dele. Aqui estou, diante de Retrocausalidade, romance-armadilha de João Paulo Parisio. Abro o livro. Entramos em luta. Começo pelo título. Na retrocausalidade, o futuro tem o poder de alterar o passado. Você viveu, mas não viveu — porque o futuro altera o que viveu. Você vive — mas não vive, porque tudo o que vive pode ser mudado.
Retro: que se localiza na parte de trás, aponta para um tempo anterior. Indica um afastamento. Uma recusa. “Vade-retro”, dizemos, pedindo que o outro recue. A expressão “Vade-retro” denota repugnância, asco, antipatia, resistência extrema. Na Bíblia, em Mateus e também em Marcos, Jesus a teria usado pelo menos duas vezes, para expulsar Satanás.
A retrocausalidade inclui um risco. Um grande perigo. Inclui uma distorção e também uma reconstrução. Na física quântica — só até onde eu, um leigo, um palpiteiro, consigo entender —, ela significa que, quando você faz uma escolha, essa escolha pode influenciar o objeto no passado. Se entendi errado, se não é isso, ainda assim a ideia de correção do passado me é útil. Serve porque me ajuda a ler o livro-alçapão de João Paulo Parisio. Ideias têm muitas faces. Há sempre uma face a oferecer e a esbofetear.
Na escrita de Parisio, a vida se transforma em jogo. Não é que ela se transforme: na verdade, é manipulada como um jogo. Ao ficcionista é dado esse poder tardio de reordenação, de reestruturação, mas também de desordem e desconcerto. De entropia, isto é, de acesso à degradação de um sistema. Acesso a seus porões, a seus fundamentos. Em outras palavras: o escritor lida com cacos. Com trastes. Corre o grande risco de se cortar.
Não consigo ler o romance de Parisio com tranquilidade e equilíbrio — como se, em minha poltrona, eu desfrutasse um clássico. É muito diferente. Dias a fio, o livro ficou a meu lado, me incitando. Eu o abria, lia um trecho, lia outro, fechava. Abria de novo, fechava de novo. Dava saltos. Murros. Tentava. Eis um livro em que você não consegue “entrar”. Você o ronda, o desafia, o arranha. Não há uma linha reta, como na escola. Não há um tapete vermelho, como nos clássicos. Nenhum protocolo.
E é assim, às caneladas, às mordidas, que o livro-dentuço de Parisio me pega. Um cão que se prende à barra da calça e se recusa a soltá-la. Um prego que perfura a sola do sapato. Uma lasca que fere o olho. Algo que vem de repente, e desarruma. Sim: uma escrita que, em vez de organizar e consolar, desarranja e tumultua. Um livro-feitiço.
Lá pelas tantas, na página 141, leio uma frase que Tolstói teria dito em sua juventude: “Sou feio, grosseiro, sujo e mal-educado, se vejo as coisas como as vê o mundo”. A observação me ajuda a ler Parisio. O narrador diz: “Eu o entendo. A evolução do caos, e da sujeira, digamos logo de uma vez, (…) me dá um prazer similar ao que Samsa sentiu ao experimentar alimentos podres”. Também ele se debate entre restos e lascas — e isso é sua escrita.
As sombras de Leon Tolstói e de Franz Kafka escoltam João Paulo Parisio. Elas o aprumam. Há um mundo a atravessar — sujo, grosseiro, feio. Um mundo que evitamos. Só a literatura, com seu giro para trás, com seu poder de modificar o imodificável, ousa encará-lo. Só ela o desarruma para que, entre as frestas, observemos o interior. Retrocausalidade trata de interiores. E também de anteriores — de ascendências, de heranças, de tralhas, de tudo o que acumulamos. Tudo o que nos pesa, mas também nos define.
Preciso ler mais, preciso continuar a ler. Não se iluda, meu leitor: não é porque me atrevo, aqui, a escrever sobre o livro de Parisio que dou testemunho de uma leitura. Falo, sim, de uma testagem. Rondo, faço rasantes, reviro, como os urubus em torno do lixo — só que esse lixo, na literatura, é ouro. João Paulo Parisio é um autor que não teme sujar as mãos. Não quer ser limpinho, não escreve para os aplausos e as análises. Escreve para o sangue.
Eu não leio o romance de Parisio, eu o esbofeteio. Como se eu e Parisio lutássemos em um ringue. Creio que, de fato, lutamos. Sou bem mais velho — me dano. O leitor metódico reclamará que não falo do livro, mas dos efeitos — das porradas — que ele desfere em mim. Mas sejamos francos: de que outra coisa um leitor pode falar? A não ser que queira simular o trabalho do anatomista. A não ser que acredite que livros são caixas de entulhos, a serem catalogados e arquivados.
Na página 197, está dito: “A navalha de Ockham nos manda cortar a alma, esta carne morta, mas é impossível fazê-lo sem ter a sensação de cortar da própria carne viva”. Livros são facas — e aqui se perfila a sombra de João Cabral. Livros ferem. Cortam da própria carne viva, isto é, da letra morta arrancam a vida. O romance-navalha de Parisio me desperta. É desses livros intermináveis, para se ter sempre ao lado e, em vez de ler burramente, “consultar”.
Na página 77, lembra Parisio de Oscar Wilde que, nos últimos anos do século 19, enquanto compunha mentalmente A balada do cárcere de Reading, de 1898, quebrava pedras com uma marreta na prisão. Escrever é estilhaçar? É também — como na retrocausalidade — destruir? Foi ainda na condição de prisioneiro, condenado por seu amor pelo jovem Alfred Douglas, que Wilde escreveu uma longa carta, que conhecemos hoje como De profundis. Feridas abertas, sangue. Escreveu agarrado às cordas do ringue. Sangrava.
Pode ser com uma navalha, como a de Ockham, pode ser com uma marreta, mas pode ser só com um lápis. Isso não importa. Ainda preciso tentar ler o romance de Parisio com a mesma inocência com que, na infância, li As reinações de Narizinho, ou Robinson Crusoé. Devia me esforçar — mas acho que não conseguirei isso. Daí os saltos, as cotoveladas, os murros. Daí a luta.
Também Parisio escreve “como se entrasse na gente” — para roubar uma frase a respeito do olhar de Jesus que aparece na página 263. Sim: somos invadidos por sua escrita. Não somos nós, leitores, que entramos no livro. O livro se instala dentro de nós. Dessa leitura profunda, meio às cegas, apenas emergimos.