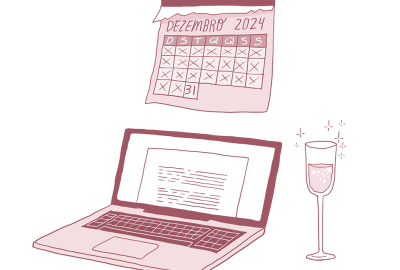O cardápio
Depois de décadas de ausência, voltei com minha esposa à cidadezinha onde nasci e cresci. Nela passaríamos o fim de semana. A primeira coisa que fizemos foi descobrir se meu restaurante favorito ainda funcionava. Ligamos e fizemos uma reserva. Seria uma noite especial. Almocei lá com meus pais e avós todos os domingos de minha infância.
Assim que chegamos me senti em casa. O restaurante ainda era o mesmo, o dono também, e até seus antigos garçons continuavam por ali, um tanto encurvados, mas com os uniformes de sempre. O nome do lugar ainda era o mesmo, assim como as mesas e as cadeiras. Mas algo, não demorei a descobrir, havia mudado radicalmente. Era o cardápio. Logo de cara nos recomendaram uma iguaria de que nunca tínhamos ouvido falar.
O daíque está fabuloso esta noite, nos disse um velho garçom. E nos aconselhou a pedir uma porção reforçada, mas apenas com as asas do animal, porque (e isso ele não tinha medo de afirmar) dos daíques só se aproveitavam mesmo as asas. Não concordávamos?
Olhamos para o cardápio. Nele havia vários pratos à base de daíque, todos com preços absolutamente proibitivos, e ficamos confusos. Sorrimos, agradecendo a sugestão, mas dissemos preferir, talvez, comer algo que não voasse.
O garçom primeiro fez uma cara de espanto e, depois, como quem se dá conta de ter ouvido uma piada, riu com gosto e atraso: Um daíque voando? Um daíque voando! Os senhores são ótimos!
Rimos com ele e mudamos de tática. Dissemos que apenas não queríamos asas naquela noite, ao que o garçom semicerrou os olhos, nos dirigindo o mais malicioso de seus sorrisos. Já sei o que querem, insinuou. Já sei, os senhores são terríveis. Os senhores querem o hiacinto. Vieram aqui só para isso. Quem lhes contou?
Quem nos contou o quê, perguntamos.
Sobre o lote que recebemos ontem! Eu mesmo posso prepará-los para os senhores, faço questão, um pé para cada, vai demorar um pouco, claro, o correto seria que os tivessem encomendado com antecedência, por telefone. Leva uma hora para limparmos cada peça, é um prato que exige meticulosidade. Temos que extrair alguns calos, as unhas roídas e as bolhas de veneno, os senhores sabem, mas se tiverem tempo e paciência, comerão, ainda hoje, o melhor pé de hiacinto da região.
Olhamos para as mesas ao nosso redor e vimos que nada ali parecia realmente anormal. Os fregueses eram normais. Gente normal, mais ou menos bem-vestida. Calças, camisas, sapatos. Vestidos, blusas. Nenhuma extravagância. O volume das vozes estava agradável. Gente típica da minha cidade. Eram os filhos e os netos dos amigos de meus pais. De alguns, inclusive, eu ainda lembrava os nomes. A aparência do que comiam tampouco tinha algo de espantoso. Era comida, afinal! Pedaços generosos de carne, mas carne como qualquer outra. Boi, porco, frango, peixe. Assim nos parecia.
O garçom aguardava nossa resposta, já um pouco ansioso. Na verdade, dissemos a ele, ainda sorrindo, não queríamos comer nada que fossem pés, patas ou asas, nem caudas ou barbatanas, nada que a comida tivesse usado, um dia, para se locomover mundo afora. O senhor não nos indicaria um prato mais convencional?
Baços de vérguna, talvez, antecipou-se o garçom. É simples, mas honesto.
Fizemos que não. Baços não. E o velho homem, crispando os lábios, se viu obrigado a concordar conosco, embora já bem menos feliz que antes. Pensou por alguns segundos. Timos de turgo? Não. Pineais de fonça? Não. Hipotálamos de porcela? Desculpe, mas não. Picas de mosqueta? Apêndices de massude? Umbigos de nubívago?
Angustiado, o garçom desfiava diante de nós uma longa sequência de misteriosas recomendações, enquanto, interditos, olhávamos repetidas vezes para o cardápio, atrás de explicações plausíveis para aquela loucura. Mas não. Ali só encontrávamos figuras sinistras, órgãos e glândulas rascunhados de forma amadora, orelhas, falos e chifres, bolsas escrotais, palavras desconhecidas, garranchos e símbolos inextricáveis, preços altíssimos.
Resolvemos ir embora. Levantamos, pedimos desculpas e prometemos voltar outra noite. O garçom foi educado. Lamentou não haver nada do nosso gosto. Meus saudosos pais sempre estiveram entre seus fregueses de predileção, garantiu, e implorou que déssemos outra chance ao restaurante. Na semana seguinte, segredou-nos, receberiam um precioso carregamento de antenas de maroto fresquíssimas, e também uma família de bichos-sapadores completa, criada nos fundos do cemitério de mímicos.
Na rua, não sabíamos o que pensar. Nada ali nos dava pistas de que não estávamos em minha cidade natal, ou de que ela pudesse ter mudado tanto em tão poucas décadas. Caminhávamos em direção ao hotel por travessas que não me eram de todo estranhas e que, como sempre, àquela hora da noite, já estavam vazias.
Foi quando deparamos, na esquina à nossa frente, com a silhueta de um guarda. Ouvimos o seu apito. Ele ordenou que parássemos. Esperamos que chegasse até nós. Veio andando devagar, mas já de longe nos tranquilizou, desculpando-se e dizendo que estava tudo bem. Contou que vinha patrulhando a área sozinho, como fazia todas as noites, e de repente quis fumar, era seu único vício. Só então percebeu que havia esquecido o isqueiro em casa. E ao ver por ali um casal tão simpático, pensou em nos pedir um favor. Os senhores têm fogo?
Eu disse que sim, é claro. Sorri e apanhei meu isqueiro no bolso interno do paletó. Porém, ao acioná-lo e aproximar a chama azulada do rosto daquele homem, notei que ele trazia, pendendo de seus beiços, debaixo de um ridículo bigodinho tingido de preto, não um cigarro, mas um finíssimo dedo humano, decepado.
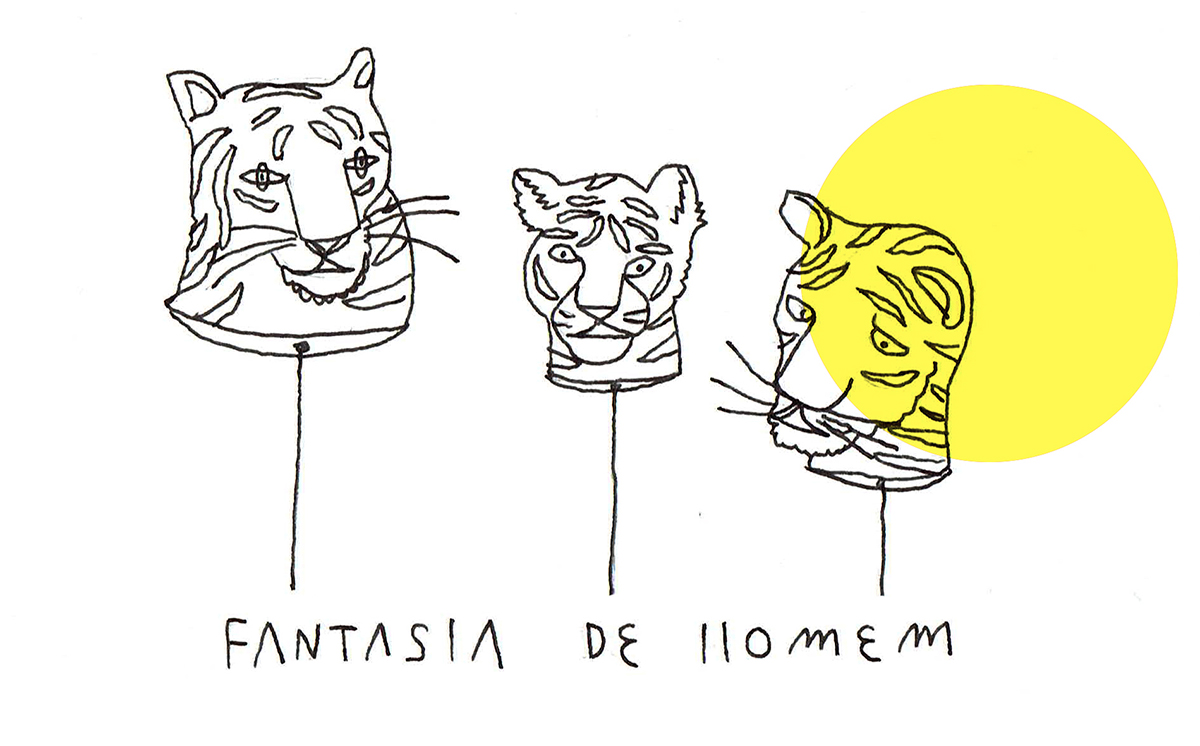
O carteado
Meu avô conheceu o homem mais perverso do mundo. Aliás, não apenas conheceu: trabalhou para ele, quando criança, cuidando de sua criação de cavalos.
Um dia, um potrilho que havia se perdido na mata amanheceu morto, dilacerado por uma onça. Uma evidente casualidade. Mas o patrão de meu avô não entendia a coisa dessa maneira. Tomou o ataque como uma ofensa pessoal. A onça, dizia ele, não teria agido meramente em favor de sua sobrevivência, como todos supunham, e muito menos contra a integridade física de uma presa qualquer, mas em detrimento do próprio dono do cavalinho. De modo que a verdadeira vítima, esbravejava o homem, era ele.
Inflamado, mandou as criadas (minha bisavó era uma delas) prepararem um farnel para a caçada. Deixaria a fazenda na manhã seguinte e jurou que só voltaria com o cadáver da onça na garupa. Com seu couro, prometeu à esposa, faria um lindo tapete sobre o qual ainda brincariam seus filhos e, no futuro, se Deus os abençoasse, os filhos de seus filhos.
E então partiram, meu avô, seu patrão e o capataz. Os dois últimos, a cavalo, iam bem armados. O menino, encarregado dos mantimentos, ia de burro. Passaram três dias no rastro da onça, até a avistarem em cima de um pau arcado. Parecia mais preocupada que agressiva. Em vez de atacar, saltou de lá e correu em direção a uma barranca. Ali, entre um emaranhado de raízes aéreas, o patrão do meu avô a encurralou. Indecisa, cuidava de dois filhotes pouco crescidos, ainda incapazes de pular no rio, que era de correnteza, e fugir a nado.
O homem perverso agiu com calma. Primeiro atirou na mãe. Depois aproveitou para brincar com os órfãos, antes de também matá-los. Com a ajuda do capataz, colocou os três bichos deitados de comprido, lado a lado, a mãe no meio das duas crias. Mandou o empregado sentar sobre uma delas, enquanto ele próprio sentava sobre a outra. Tirou do bolso dois cigarros de palha e deu um deles ao empregado. Vasculhou a algibeira e sacou dali um baralho. A onça morta virou mesa de carteado, e os filhotes, banquinhos, e sobre eles os caçadores jogaram algumas partidas de escopa.
A celebração durou horas. Enquanto isso, meu avô os servia. Broa, chouriço e cachaça. Comeram e beberam, contaram piadas, velhas histórias de caça e pesca, casos de briga, traição e assassinato. Já bêbado, o patrão passou a discursar sobre política. O capataz só ouviu.
Uma vida mais tarde meu avô ainda se sentia culpado. E lamentava, principalmente, não poder dar àquele relato um final reparador, que vingasse as onças. O destino nunca as ressarciu. Nada de ruim jamais aconteceu àquele criminoso. Até o fim de sua longa existência, foi recompensado pela fortuna. Teve saúde, conforto, dinheiro, reputação e uma família numerosa, que o idolatrava. Morreu tido como um bom cristão, abençoado e influente. E não apenas seus filhos e netos brincaram sobre os três tapetes que mandou esticar no salão de sua próspera fazenda, diante de uma lareira que nunca precisou acender. Seus bisnetos estão lá agora mesmo, felizes e inimputáveis, no aconchego daquelas peles.
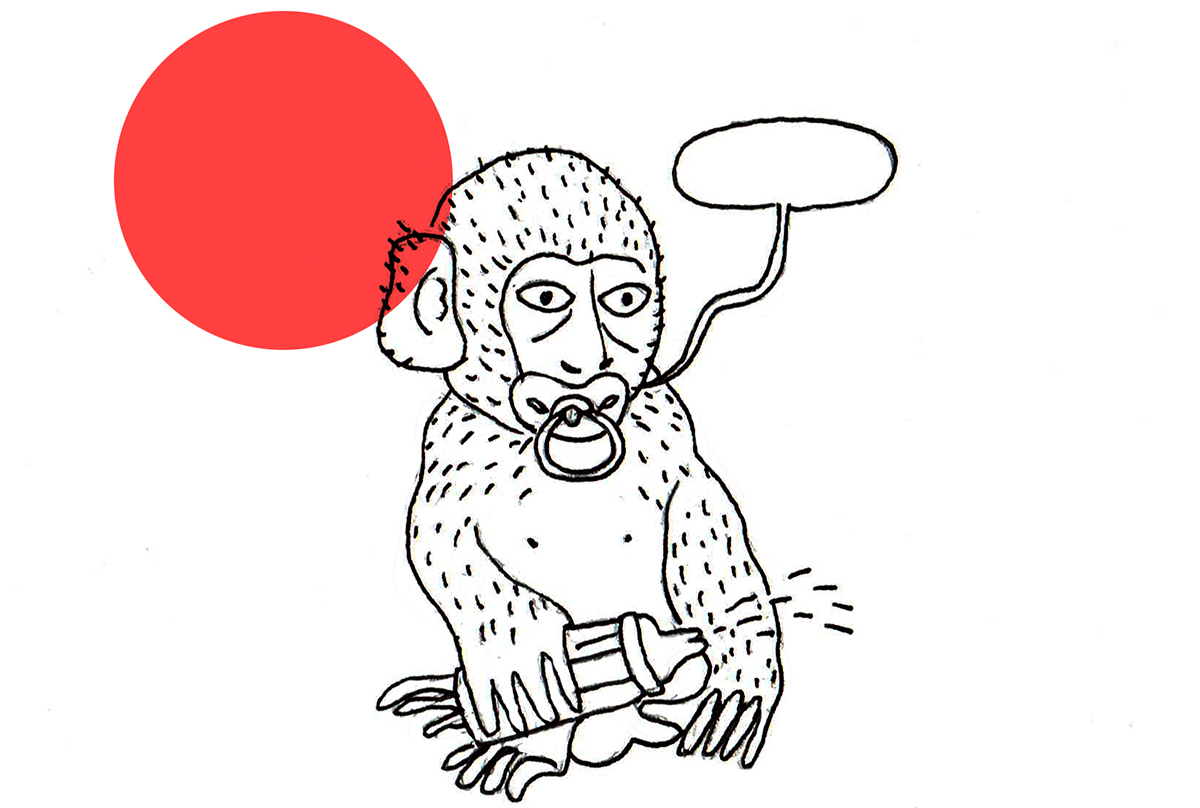
O filho do bugio
Cresceu assombrado pela peculiaridade de ser filho de um bugio. Sua mãe, considerada a moça mais bonita da região, cultivava o perigoso costume de passear sozinha pela floresta, onde, às vezes, adormecia à sombra de uma sibipiruna. Foi ali que o macaco a abordou. Consta que de pronto já se gostaram. Que ele a tratou com extrema deferência e que talvez por isso a tenha seduzido tão facilmente. Dizia ser um príncipe enfeitiçado, e que só o amor sincero de uma donzela o desencantaria.
Disposta a se casar com o bugio, a moça o levou para casa. Seus pais, é claro, não aprovaram aquele arranjo, embora o futuro genro, de fato, não mentisse. Já na primeira noite que passou com a noiva, transformou-se num lindo rapaz ruivo, de modos refinados e saúde invejável.
O casal, contudo, não foi feliz. Poucos meses depois, o príncipe já parecia querer voltar à forma anterior. Gritava sem motivo algum, fedia, não raramente agredia a esposa, ameaçava os sogros. Não botava um centavo na casa. Seus pelos cresciam por debaixo do pijama. Desaprendeu a falar. A vida, para ele e a mulher, tornou-se tão dolorosa que o príncipe desistiu de si mesmo. Certa manhã, acordou mais irritado que de costume. Despiu-se, defecou nos lençóis de linho, limpou-se na toalha da cozinha, quebrou móveis, pratos, xícaras. Arreganhando os dentes, precipitou-se pela janela e voltou à mata, de onde nunca mais retornou.
Deixou para trás a moça grávida. O bebê nasceu cabeludo e muito ruivo, o que desagradou aos avós, que preferiram renegá-lo. A mãe, no entanto, sempre o tratou com carinho e franqueza. Jamais escondeu dele a verdade sobre o pai. Enquanto macaco, nunca foi violento ou mentiroso. Enquanto homem, deixou muito a desejar.
NOTA:
Os contos O cardápio, O carteado e O filho do bugio integram a coletânea O caçador chegou tarde, a ser lançada em 2023, pela Maralto.